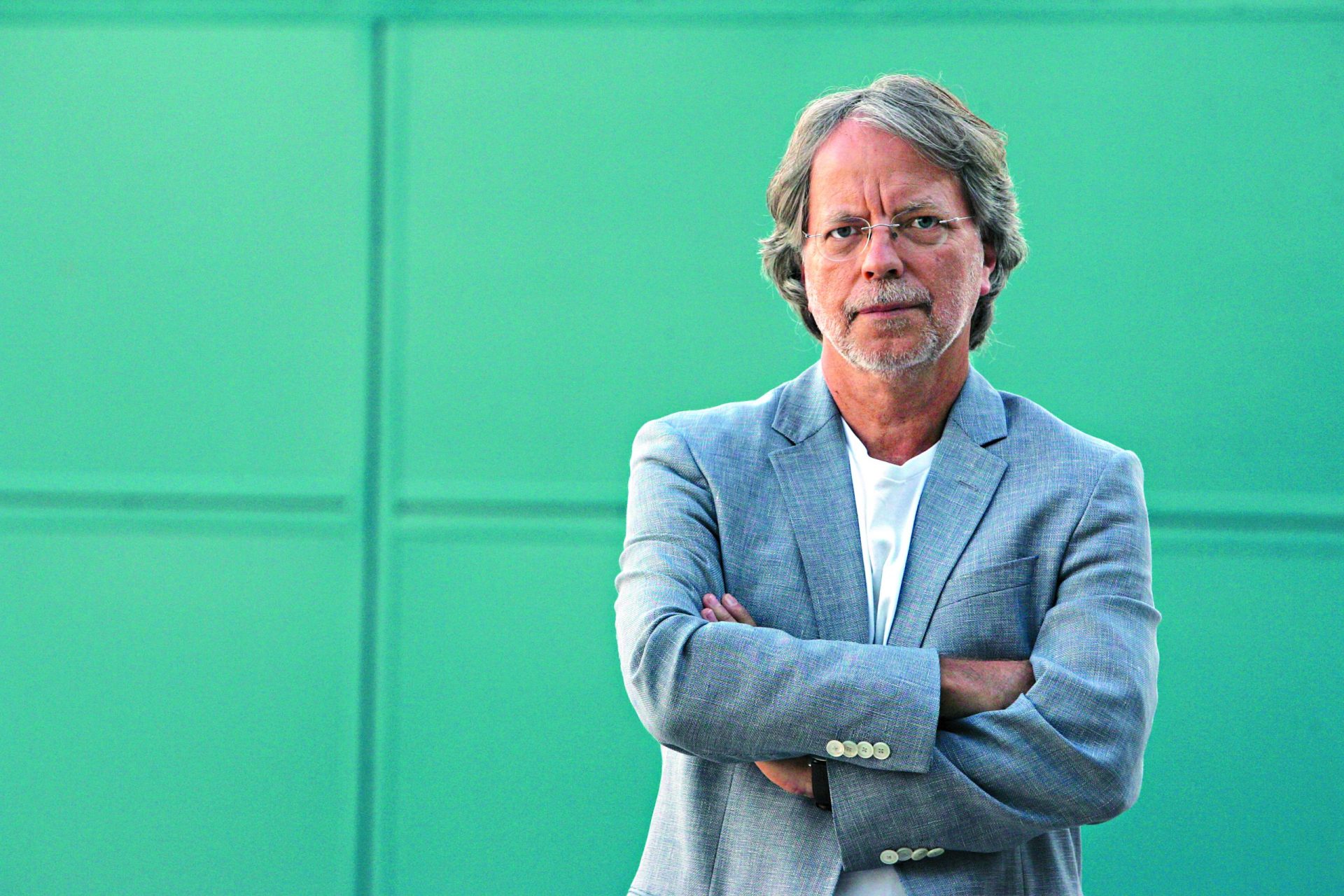Mulheres de Cinza’ é o primeiro livro da trilogia ‘As Areias do Imperador’, sobre Gungunhana. Como surgiu a ideia?
Uma das grandes obsessões da minha escrita é a identidade. A outra é a memória. Tento desconstruir o valor absurdo de uma versão única do passado. O passado tem várias maneiras de se dizer. Ao sermos filhos de uma versão única sentimos que ficamos prisioneiros da possibilidade de termos muitos presentes e futuros. Queria uma figura que fosse a prova dessas construções, mistificações, falsificações. Gungunhana é um caso paradigmático desse conjunto de histórias que de um lado e de outro – moçambicano e português – foram feitas para servir causas nacionalistas, políticas e ideológicas.
Neste primeiro livro Gungunhana é uma figura quase mítica, sempre ausente, como um Deus. Porquê?
É uma construção, feita dos medos e dos fantasmas dessa gente que recebia dele apenas um sinal, notícias contraditórias. Ele provocou cisões dentro de famílias, dentro de etnias, dentro das aldeias. Era gente que vivia nesta situação de ambiguidade e de ambivalência: a quem devo ser fiel para me proteger? A solidão era impensável. Tinham que se fazer alianças com os portugueses, os ingleses ou os vanguni, a etnia do Gungunhana. É a história do medo. No próximo livro vai aparecer com corpo e voz. Esta menina que agora atravessa o rio vai encontrar-se com ele e ter uma espécie de projeção do que ela própria quer do seu destino.
Imani, protagonista do livro…
Uma personagem com outro tipo de ambivalência: por um lado significa a opressão, a guerra que é feita contra o seu próprio povo; por outro lado é uma hipótese de fuga. Ela quer sair daquele lugar.
Esta é uma história enorme, sobre uma grande figura, narrada a partir de uma pequena vila. Porquê esse contraste?
Quero contar as pequenas histórias da grande história, que expulsou os pequenos episódios que tornam o passado interessante. O passado não só foi simplificado e unificado como perdeu poder de sedução. Há umas imagens de uns heróis distantes, não humanos, e dos grandes traidores, que são diabolizados. Fazem falta as histórias que nos encantam porque nos reencontramos humanos nesses outros humanos.
Neste caso Imani, uma menina de 15 anos já quase mulher.
No campo ainda é assim para a maior parte das mulheres. Aos 15 anos já se espera que uma mulher seja mãe. É uma violência tornada norma, que se reproduz: as meninas não estudam porque se tornam mães muito cedo, a taxa de abandono das escolas nas zonas rurais, para as meninas, ronda os 70%.
Quem são as mulheres de cinza?
Estas mesmo, as que não têm existência material concreta, não têm corpo, não têm voz. Existem só no eco de qualquer coisa, na memória de um fogo que se consumiu.
É uma história de homens contada por mulheres. Porquê essa opção?
Na minha vida foi assim que aconteceu. As histórias que eram importantes para mim porque me davam um sentido de eternidade foram-me contadas por mulheres. Os meus pais saíram de Portugal muito jovens. Nunca conheci Portugal, até ser adulto, senão por via de histórias. Quando digo Portugal digo a minha família. Nunca conheci um avô, uma avó. Tinha uma carência de uma voz mais antiga, que me chegava pela voz da minha mãe, passada num murmúrio, num sussurro, que se contava como um segredo.
Daí as mulheres estarem tão presentes na sua escrita?
Já não é só uma coisa pessoal. Sou movido por uma causa. Há coisas que pesam muito sobre a mulher. Não só em Moçambique como no resto do mundo, embora de forma mais envernizada – em Moçambique está mais descarnado -, a violência sobre a mulher ainda é altíssima. Apesar de os meus livros não serem um ato de militância política, sinto que não posso ficar calado. É uma imposição ética.
Porquê uma trilogia?
Comecei pensando que era apenas um romance. Mas ao viajar por Inhambane e a escutar histórias, ao ler a documentação sobre aquele período, percebi: não posso amputar tanto esta árvore, tenho que a deixar da dimensão que ela pede. Isso implicaria um livro de mil e tal páginas. Iria publicá-lo só daqui a uns dois anos. Não sei se a história não esfriava dentro de mim. Sou muito caótico, indisciplinado. Não sei se conseguiria ter uma relação de fidelidade com esta história, sou muito atacado por poesia, que de maneira desenfreada me assalta. Iam surgir outros livros.
Que viagens fez?
Fui visitar chopes, ver os lugares, onde fui recebendo histórias, provérbios, tradições. Até que alguém me disse: em Maputo vive ‘o’ chope, o que reconhecemos como o homem que sabe mais sobre a nossa cultura, a nossa história. Foi uma revelação. Teve uma atitude pouco normativa. Foi muito bom trabalhar com ele. Nunca sugeriu que o que dizia era a referência, a grande verdade. Só queria que essa verdade dele, essa versão, me ajudasse a enriquecer o livro.
E qual a verdade do livro?
Estou em diálogo com as várias versões. A única intenção é que a História seja tratada como alguma coisa que tem que ser interrogada, sobre a qual temos que ter dúvidas.
Qual é a perceção moçambicana de Gungunhana?
Não há uma, há várias. Samora Machel percebeu que precisávamos de heróis e foi buscar esta figura. Não creio que tenha sido uma decisão acertada. Dividiu as pessoas. Este império foi muito duro e cruel para uma grande parte das pessoas do sul e do centro do país. São marcas que não estão esquecidas nem resolvidas. É uma memória muito fresca, que não está pacificada. Ainda hoje se diz, no norte, ‘lá vêm os tipos do Estado de Gaza’. Há um fantasma, que não é verdadeiro, de que a Frelimo é uma continuação deste império.
Este poderia ser um romance masculino, de guerra e estratégia…
Não quis caminhar por essa via. Queria abordar a coisa por esse diferente viés: as vozes, as lembranças falseadas, as alegorias. Foi curioso. Os homens que entrevistei tinham quase medo de lembrar. Diziam-me: ‘Não quero acordar fantasmas’. É a prova de que isto está tão vivo. Da parte das mulheres havia mais facilidade. Enfrentavam-no sem medo.
Tal como em livros anteriores, a terra é quase personagem. Porquê?
Como biólogo, chego a um sítio e tenho que me identificar, dizer qual o meu objeto de trabalho. Se disser natureza ou meio ambiente o tradutor não tem palavra para dizer. Não existe. Não existe essa separação. A terra em si, como objeto físico, tem um nome. Mas como conceito não está separada da cultura, da sociedade. Há uma palavra que quer dizer tudo isso, o ambiente, a origem. A cultura europeia acha que está ali a natureza e que nós estamos separados, tomando conta dela ou destruindo. Ali essa fronteira não existe. É como se a terra fosse uma personagem, como se tivesse a sua própria voz. A maneira como as mãos das mulheres vão tocando a areia, mexendo no barro e na árvore é a continuação de um único corpo.
O que se segue na trilogia?
Tenho uma coisa desenhada: este é o volume da terra, Imani está na sua aldeia. No próximo ela entra num rio e é nessa travessia que encontra o Gungunhana. O terceiro é marcado pelo mar, ela embarca no navio em que se deporta o Gungunhana. Esse é o plano. Não sei se lhe vou ser fiel.
Nos últimos anos recebeu o Camões, o Neustad, foi nomeado para o Booker. Sobra-lhe tempo para a escrita?
A coisa é termos um tempo que seja nosso, em que sejamos reis ou rainhas. Cada vez menos tenho isso. Sou uma pessoa que diz sempre sim, quero estar em sintonia com todos. E quanto mais sou visível, mais pessoas querem convidar-me para coisas. A única maneira é fugir. Este ano estive dois meses num castelo em Itália, numa residência para escritores. Foi fundamental. Só fazia isto. Estava fora do mundo. Vivia nesse século, com as minhas personagens. Só uma coisa me ligava ao mundo: ao fim da tarde estava no Skype com a minha família. Agora tenho que fazer a mesma coisa. E já escolhi os Açores como um destino possível, na Terceira, onde o Gungunhana esteve exilado nos últimos anos de vida. Preciso dessa ilha absoluta.
Estas distinções internacionalizam cada vez mais a sua escrita. Leva Moçambique para o mundo…
Tomo consciência disso mas não quero que exista na minha cabeça. Não sinto que possa ser o representante de nada senão de mim próprio. É acidental, nunca o procurei, não fiquei em bicos de pés para que acontecesse. Mas na publicação dos livros tinha como intenção pôr as pessoas a olhar para a diversidade do mundo, que não é a que entra pela janela da televisão e da mediatização mais simplista. A literatura pode retratar melhor estes mundos que não são visíveis.