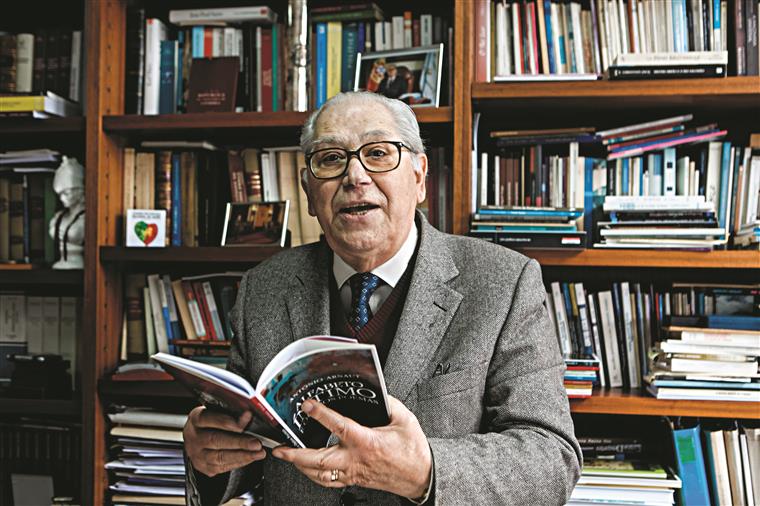É uma conversa em dois momentos, que prepara um debate que deverá ganhar forma nos próximos meses com a discussão de uma nova de Lei de Bases da Saúde – o governo nomeou uma comissão liderada por Maria de Belém Roseira para dinamizar o processo. António Arnaut e João Semedo, dois rostos da defesa do Serviço Nacional de Saúde, deram o pontapé de saída com um livro onde apresentam uma proposta concreta: não há lugar para PPP, há uma aposta nas carreiras dos profissionais de saúde e na prevenção e eliminam-se as taxas moderadoras. Estão separados pela distância geográfica – Arnaut em Coimbra e Semedo no Porto – mas unidos na causa de tornar o SNS mais resiliente. Une-os também a condição de doentes, já que ambos atravessam fases mais delicadas de saúde. Uma experiência que só torna mais apurado o reconhecimento das necessidades diárias de um SNS que tanto consenso parece reunir no país. Falta compromisso.
São amigos há muitos anos?
João Semedo (J.S.): Não me recordo de como nos conhecemos mas foi há muito tempo. É uma relação antiga, construída a partir do respeito e da consideração mútua que fomos desenvolvendo um pelo outro e, também, da partilha de muitos pontos de vista sobre as funções sociais do Estado e os riscos a que o SNS estava a ser sujeito.
João Semedo tinha 28 anos quando António Arnaut assinou a Lei nº 56/79, que cria o SNS. Era um jovem médico. Arnaut era um advogado a quem Mário Soares tinha pedido para assumir a pasta dos Assuntos Sociais. Que memórias guardam desses primeiros tempos?
António Arnaut (A.A.): A criação do SNS era um compromisso que eu tinha com a minha consciência. Quando aceitei ser ministro dos Assuntos Sociais do segundo governo de Mário Soares, pus como condição inscrever no programa do governo a criação do Serviço Nacional de Saúde. Ninguém pôs nenhuma objeção, nem mesmo o CDS que estava no governo connosco. Todos pensavam que essa promessa não era para ser cumprida ou porque o ministro não seria capaz de o fazer ou porque colocariam tantos entraves que o ministro teria de desistir. O ministro era eu (risos).
O que o moveu?
A.A.: Dada a circunstância de ser um sujeito determinado que conhecia muito bem a realidade – sendo de uma aldeia tinha vivido os dramas do povo que, quando às vezes precisava de um internamento, tinha de vender umas cabeças de gado ou uns pinheiros para pagar – o ministro não desistiu. O governo caiu mas entretanto o ministro fez o despacho de 28 de julho de 1978 que era uma antecipação do SNS, abrindo os serviços de saúde, os serviço médico-sociais a todos os cidadãos de forma gratuita e universal. Depois, quando já era deputado, pegou num projeto que já tinha sido aprovado em conselho de ministros e levou-o para a Assembleia da República como projeto de lei do Partido Socialista e aí seguiu os trâmites legais e foi aprovado como lei da República.
João Semedo, o que recorda desses anos 70?
J.S: Acabei o curso em 1975, o meu último exame foi em novembro, tempos quentes do PREC. Comecei o internato no início de 76 nos Hospitais Civis de Lisboa. Guardo memórias contraditórias: o entusiasmo natural de começar a ver doentes, enfim, a ser médico, e a deceção perante hospitais que eram verdadeiros asilos, instalações velhas e degradadas, enfermarias com mais de cem camas, poucos médicos e cuidados muito precários, digamos assim. Eram conventos, como aliás ainda hoje são e continuam ao serviço do SNS. Não percebo como ainda há quem se oponha à construção de um novo hospital em Lisboa…
Nessa altura, antes do SNS, foi criado o Serviço Médico à Periferia (SMP).
J.S.: Sim. Era um período durante o qual os médicos recém-licenciados eram distribuídos por todo o país e aí ficavam um ano a prestar serviço, um tempo de grande realização pessoal e profissional, de contacto próximo com pessoas que nunca tinham visto um médico na vida. Foram tempos de conhecer o país e os portugueses e confirmar a miséria e o atraso em que ditadura deixou o país. Julgo que as fortes raízes que o SNS ganhou junto dos portugueses começaram a crescer com o SMP, nunca mais essas populações aceitaram deixar de ter um médico. Foi uma pena ter acabado o SMP.
Passados 38 anos, juntam-se para defender uma revisão da Lei de Bases da Saúde, aprovada em 1990, que acreditam ter sido o início da descaracterização constitucional do SNS. Quais foram os erros?
J.S.: Apesar das grandes realizações e resultados do SNS em ganhos de saúde, cometeram-se muitos erros: travou-se o financiamento e o investimento quando eles ainda eram necessários para completar a rede de serviços ou renová-la, puseram-se de lado as carreiras e os concursos ao mesmo tempo que se cortaram os laços contratuais facilitando e promovendo o descontentamento entre os profissionais e sua fuga para os hospitais privados, esqueceu-se a prevenção e só se pensou nos cuidados curativos, não se introduziram as mudanças necessárias no modelo de cuidados em função da evolução da sociedade, da população e do padrão da doença, permitiu-se uma intensa substituição da prestação pública pela prestação privada, esvaziando o SNS de importantes competências e capacidades.
Discute-se ciclicamente a suborçamentação do SNS. Há registo de uma célebre conversa entre Vítor Constâncio e António Arnaut em 1978, em que o então ministro das Finanças terá perguntado a Arnaut se já tinha feito as contas de quanto ia custar o SNS. Conta-se que respondeu que não. Fizeram as contas?
A.A.: Nós sabíamos pela experiência do SNS inglês que a despesa era perfeitamente acessível, entre 5% a 5,5% do PIB. Isso estava estudado. Não fizemos contas em concreto porque o mais importante para mim era haver um serviço público de saúde onde os portugueses todos, em particular os que têm menos recursos, pudessem aceder. Tivemos nos últimos meses os incêndios. Também não fizemos contas. Há situações em que um país tem o dever de responder às necessidade dos seus cidadãos. Antigamente e ainda em muitos países hoje, veja-se os Estados Unidos, a saúde não é direito nenhum, está no comércio, está no mercado como qualquer outro bem e quem tem dinheiro compra, quem não tem não compra. Em Portugal, felizmente, graças ao 25 de Abril, a saúde é um direito fundamental e o Estado tem de garantir. Um país que tem mais de dois milhões de pobres, mais dois milhões em risco de pobreza…. Imagina o que seria este país sem um Serviço Nacional de Saúde? É isto que temos de pensar.
E tem sido pensado o suficiente?
A.A.: A maior parte dos políticos não são utentes do SNS e não estão sensíveis a estes problemas. Eu reclamo em relação a todos mas principalmente do Partido Socialista, que tem o dever ético e o imperativo moral de defender o SNS e esta proposta que apresentávamos é o contributo para uma nova lei que salve o SNS. Este livro é apenas um episódio de uma luta antiga. Além do subfinanciamento crónico e por vezes intencional para degradar o SNS, há uma destruição de carreiras que também leva a que o SNS esteja periclitante e a precisar de ser salvo, se não restará dele apenas uma saudade. Restará dele apenas um serviço caritativo.
J.S.: Julgo que nunca ninguém imaginou ser possível ter um SNS desta qualidade e dimensão sem dispor de um financiamento à altura, proveniente dos impostos pagos pelos portugueses. O SNS tem custos elevados mas que são pagos por todos, não são oferecidos nem caem do céu aos trambolhões. É uma escolha dos portugueses. Mas também ninguém imaginou que parte significativa desse financiamento fosse desviado para pagar a privados e não para reforçar os recursos financeiros colocados à disposição do SNS. Por exemplo, as PPP são inutilmente caras e muito caras porque o Estado podia prestar os mesmos serviços sem ter de pagar aos privados a margem de lucro de que eles beneficiam nesses contratos. O SNS não é caro, o que fica caro são as decisões erradas, só para favorecer interesses particulares, dentro e fora do SNS.
Se fosse hoje a criação, teria proposto alguma coisa diferente?
J.S.: O SNS devia ter sido blindado e protegido contra o saque privado. Mantenho que o financiamento do SNS deve continuar a ser garantido pelo OE, mas como admitimos no projeto que apresentamos, a sua distribuição pode seguir formatos diferentes. As principias mudanças seriam na organização dos serviços e nos modelos de prestação de cuidados, na sua articulação e nos meios de acesso a esses cuidados. Tudo o resto, no essencial, seria para manter: SNS geral, universal, gratuito, separação público-privado com relação de complementaridade e não de concorrência, ainda por cima alimentada pelos apoios do Estado aos privados.
A.A.: A expansão do setor privado que se verifica – já fazem 30% das cirurgias e 30% das consultas – surge à custa da degradação do SNS. Faço questão de dizer que não sou contra o setor privado, mas tem de ser complementar ou suplementar do SNS. O setor privado deve destinar-se a quem o quiser procurar e pagar, mas o SNS só deve recorrer ao privado quando não puder de todo prestar esses cuidados.
Se tivessem de apontar atualmente a principal doença do SNS, qual seria?
J.S.: Se fosse só uma seria mais fácil “tratá-la”. Eu diria financiamento e investimento aquém das necessidades, desrespeito pelas carreiras, desvalorização salarial dos profissionais, modelos funcionais e organizativos desajustados à realidade, carência de profissionais sobretudo médicos, promiscuidade entre interesses públicos e privados.
Defendem o fim da privatização na saúde e das PPP, que o governo tem mantido. Os estudos têm demonstrado que, em termos de eficácia e despesa, não são mais pesadas para o Estado. Parceiros privados, se puderem realizar alguns atos a um preço mais baixo, não podem contribuir para um SNS mais sustentável?
J.S.: Há estudos muito credíveis que revelam com solidez que o modelo PPP não traz qualquer benefício, os resultados são equiparáveis com uma diferença que encarece a despesa para o Estado. Ninguém espera que um estudo pago por uma PPP diga que ela não é uma boa solução ou que fica mais cara para o Estado… É a mesma coisa que perguntar ao dono do restaurante se o peixe é fresco. Não faz sentido o SNS ter de garantir e pagar o lucro aos privados que gerem os hospitais em regime PPP, é uma despesa desnecessária sobretudo quando nos lembramos que há muitos bons gestores públicos no SNS. Mas a questão fundamental que nos leva a propor o resgate das PPP é outra.
Qual?
J.S.: São um corpo estranho no SNS porque introduzem valores e critérios de gestão – a necessidade de alcançar bons lucros – que são alheios ao interesse público. O interesse do SNS não é ter lucro, é ter respostas de qualidade. A gestão do SNS tem por meta os resultados clínicos, a gestão privada tem por meta os resultados financeiros, o que gera contradições. O SNS passou a ser uma manta de retalhos.
Poderá pensar-se que é uma questão meramente ideológica.
J.S.: Decidir escolher o modelo PPP é uma decisão política que tem um ponto de partida ideológico: a gestão privada é melhor que a pública. Mais do que ideologia, isto é pura e simplesmente preconceito, é uma ideia sem sustentação na realidade. Em que é que o hospital de Loures ou de Vila Franca (ambos PPP) são melhores geridos que o Santo António por exemplo? E, agora que tanto se tem falado no assunto, onde está a excelência da gestão privada dos CTT?
O relatório do Tribunal de Contas que gerou polémica por falar de limpezas artificiais de listas de espera alertava que a política de “internalização da resposta” no Estado seguida por este governo tinha penalizado os utentes do SNS: estavam a ter de esperar mais. Não temem que esta defesa de um SNS sem parceiros privados tenha esta consequência?
J.S.: Há muito tempo que tenho muitas reservas aos relatórios do TdC sobre assuntos relacionados com o SNS. Os pontos de partida são sempre muito discutíveis, facilmente enviesam as conclusões. Dito isto, julgo que o estudo referido não permite retirar essa conclusão. Há prestações que foram internalizadas com sucesso incluindo na redução da espera. Agora, é evidente que vai demorar muitos anos até que o SNS recupere por inteiro a sua capacidade de resposta em tempo útil a todos os doentes.
Pensando no orçamento que o SNS tem hoje e no que depende de privados (análises, cirurgias, etc), seria possível tornar o Estado autónomo na prestação de cuidados em quanto tempo e com que reforço de investimento?
J.S.: Há áreas em que seria fácil e rápido proceder à internalização de serviços e cuidados no SNS, por exemplo, as análises clínicas. Há suficiente capacidade instalada no SNS para isso, é tudo uma questão de decisão política e, depois, de organização e articulação de serviços. Noutra áreas será preciso mais tempo mas, em duas legislaturas, uma política consistente e coerente com esse objetivo conseguiria internalizar quase tudo o que nos últimos anos o SNS entregou aos privados.
E em termos de investimento?
J.S.: Nem toda a internalização obriga a novos investimentos e, estou certo, muitos serviços prestados hoje pelos privados seriam menos dispendiosos para o Estado se fosse o SNS a realizá-los. Mas a previsão que faço é que em Portugal e lá fora, os serviços de saúde vão gerar uma despesa crescente porque todos os fatores de despesa estão e vão continuar a estar em crescimento. Não duvido que no futuro, a despesa pública em saúde ande nos 15% do total da despesa pública.
Os últimos meses ficaram marcados por uma forte contestação de médicos, enfermeiros e demais trabalhadores da saúde. O governo diz que percebe, mas que não dá para resolver todos os problemas num curto espaço de tempo, até porque existe um compromisso orçamental a cumprir. É desculpa de mau pagador?
J.S.: Não diria de mau pagador no sentido de caloteiro. Mas se, por mau pagador, se entender que os profissionais do SNS estão mal pagos, assino por baixo. É inadiável uma revalorização salarial no SNS. Será difícil fazê-la de um dia para o outro mas é urgente estabelecer um compromisso com os profissionais do SNS. Não o fazer é um convite à desmotivação, ao desinteresse, à perda de qualidade na prestação, à instabilidade e ao conflito, tudo coisas de que o SNS não precisa. Não percebo tanta demora nesse diálogo, na procura desse compromisso. Às vezes até parece que há quem não queira chegar a um acordo.
Centeno tem condicionado de mais a política de Saúde?
J.S.: Parece tratar-se de um velho vício dos ministros das Finanças que vai perdurando até aos dias de hoje…
Defendem a promoção da dedicação exclusiva dos profissionais de saúde no SNS, mas não a imposição da exclusividade. Foi proposta algumas vezes mas nunca avançou. Porquê?
J.S.: O pluriemprego ajuda a mitigar os baixos salários praticados no SNS mas enfraquece e desorganiza os serviços. Mas não há qualquer dúvida das vantagens do trabalho em exclusividade e por isso defendemos a sua promoção. Ter um pé no público e outro no privado é uma ginástica desgastante para os profissionais e um equilíbrio que com frequência se desequilibra em prejuízo do exercício público. Quem hoje diz que há médicos a mais e que é necessário reduzir o número de estudantes que entram para as faculdades de medicina, está a fazer um apelo a que se mantenha o pluriemprego com tudo o que de negativo ele comporta.
Há um ponto na defesa da promoção da saúde em que parece haver alguma contradição nos partidos à esquerda. O PCP absteve-se na votação da proposta do CDS que acabou por travar o imposto sobre o sal, que só seria aplicado aos produtos que não reduzissem o sal para baixo do limiar de um grama por 100 gramas de produto. A proposta do governo para restringir o fumo a cinco metros dos hospitais ou escolas também acabou por não ir tão longe. Há uma fronteira de intromissão do Estado na promoção de comportamentos saudáveis?
J.S.: Defendo que o Estado tem um papel importante em permitir que os cidadãos façam as melhores e mais saudáveis opções e em criar condições para que os comportamentos sejam mais favoráveis do que desfavoráveis à saúde. Mas a opção é do cidadão, não pode ser o Estado a decidir por ele. Não percebi a razão do voto contra do PC.
Pensando no pico da crise em 2012, o SNS está pior, na mesma ou melhor?
J.S.: Não estando diferente, está um pouco melhor. Embora os grandes problemas, os grandes desafios, estejam basicamente na mesma.
A.A.: As medidas tomadas pelo último governo é que agravaram a situação. Este governo tem tomado algumas medidas que travam essa degradação, mas precisa de tomar mais. Aumentou os médicos de família, fez reformas importantes e está a fazer outras, anunciou agora mais 500 camas de cuidados continuados que é algo notável. Os aspetos positivos das reformas que estão a ser feitas devem ser postos em relevo, mas o governo tem de ir mais longe e mudar a Lei de Bases da Saúde para garantir o financiamento adequado e carreiras profissionais estáveis. Este governo tem esta responsabilidade histórica, esta maioria tem esta responsabilidade histórica e os partidos à direita também. O SNS foi contestado pela direita, o CDS e o PSD votaram contra a lei fundadora mas depois compreenderam que foi uma grande reforma e que tem sido um fator de coesão social muito importante. Hoje os partidos à direita afirmam-se defensores do SNS e até se vê as críticas que fazem ao governo de que há dificuldades e que é preciso financiamento. Estão criadas as condições para haver um pacto da saúde. Os partidos que fazem a maioria parlamentar são suficientes, mas os partidos à direita podem dar o seu contributo e ficarem também na história da reforma da saúde em Portugal.
Havia grande expectativa em torno de Adalberto Campos Fernandes, que sucedeu a Paulo Macedo, que conhecia pior o setor. Dois anos volvidos, que balanço fazem do ministro da Saúde?
J.S.: Para ser razoável, o mínimo que se pode dizer é que quem alimentou essas expectativas tem razão para se sentir frustrado quer pela política realizada quer pelo que ficou pelo caminho. É uma evidência que ainda não será em 2018 que podemos garantir que o OE para a saúde está à altura das necessidades. Há medidas positivas mas, todas juntas, não mudaram nada do muito que era necessário mudar. É tudo demasiado pontual.
A reforma do SNS tem sido um chavão repetido nos últimos anos e nesta legislatura, por intervenção de Marcelo, passou a falar-se de reforma incremental. Está a acontecer ou não?
J.S.: Não vejo qualquer sinal de reforma. Muita comissão mas nada de mudanças em concreto. O episódio do Infarmed – sem dúvida uma mudança – é um momento infeliz, que mais valia não ter sido avançado naqueles termos. Mudanças ensaiadas assim só prejudicam.
Estão juntos nesta luta de defesa do SNS e enfrentam os dois também uma situação de doença. São seguidos no SNS?
J.S.: Desde 2013, diagnóstico, exames, cirurgias, tratamentos, controlo e seguimento, tudo tenho feito no SNS, primeiro no IPO de Lisboa e agora no do Porto, cidade onde vivo. Valorizo muito a qualidade dos cuidados prestados e o desempenho dos profissionais. Registo que há mais humanização na relação com os doentes.
A.A.: Sim. Sou bem tratado mas há muitas deficiências, sobretudo de pessoal. Trabalham até à exaustão, em particular os enfermeiros. A tecnologia começa a ficar obsoleta.
J.S.: O que mais custa ver são as marcas das desigualdades sociais transportadas para a doença e as dificuldades de acesso a tempo e horas, uma procura que não tem a devida resposta. E, claro, sofrimento humano.
Quando vos apanham, sendo conhecidos, fazem-vos queixas?
J.S.: Os diálogos são muito variados mas, sobretudo, a nota dominante é a solidariedade mais que as queixas e os protestos que, claro, também se ouvem.
A.A.: Também mas não era preciso isso para ver as coisas. Ainda há 15 dias estive internado e claro que isso apura o sentido crítico e de compreensão da realidade, mas já conhecia os problemas, são muitos anos ligados ao setor da saúde. Além do trabalho até à exaustão, não há motivação profissional e remuneratória.
Propõem o fim das taxas moderadoras nos cuidados primários e urgências. Havia condições para acabar já em 2018 com estes pagamentos?
J.S.: Sem dúvida, as taxas são inúteis: não financiam, não moderam, não servem para nada a não ser para “castigar” os doentes e os ir preparando política e psicologicamente para um qualquer dia terem de pagar os cuidados de saúde que o SNS lhes presta.
No futuro, vamos ter de pagar mais impostos para ter um SNS ou é possível cortar em algum lado, redistribuir despesa?
J.S.: A receita do Estado e portanto o volume do OE e a dotação para o SNS dependem do crescimento da economia. Essa deve ser a aposta para aumentar a receita pública e o financiamento do SNS sem aumentar os impostos sobre os rendimentos do trabalho nem ter de proceder a cortes. Não integro aquele grupo de vendedores de banha da cobra que prometem baixar a despesa apenas com ganhos de gestão e sem prejudicar os cuidados. Vimos o que isso deu entre 2011 e 2015. É conversa fiada, o que não significa que não seja possível melhorar a gestão, evitar gastos supérfluos, gastar melhor. Mas o reequilíbrio financeiro do SNS não passa por aí, exige mais financiamento.
O escândalo na Raríssimas marcou a atualidade nas últimas semanas. Devia haver um maior escrutínio das associações de doentes e IPSS apoiadas pelo Estado ou acreditam que será um caso isolado? No caso das doenças raras e até das incapacidades, o Estado delega demasiado nos privados e setor social?
J.S.: O Estado não delega em demasia, delega tudo. A política dominante há muitos anos, tanto com governos do PS como com governos da direita, levou o Estado a abdicar de uma intervenção própria, traduzindo-se numa situação grave: em muitas áreas de cuidados de saúde o Estado está completamente refém dos privados e da chamada economia social. Sejamos justos e objetivos: o caso das Raríssimas não é único, não foi o primeiro e não será o último. A diferença é que o caso das Raríssimas é mais apimentado, é mais chique, tem muito jet- set. E a direita, derrotada na economia, no emprego e nas políticas financeiras, usou o caso para atacar o governo e em particular o ministro Vieira da Silva. Quando me lembro da rapidez e facilidade com que se fechou o caso dos submarinos… A fiscalização do Estado está à vista que é mais que insuficiente.
O governo anunciou a criação de uma comissão liderada por Maria de Belém Roseira para discutir a revisão da Lei de Bases da Saúde. Desde o início do mandato que Marcelo pede um pacto para a saúde. Ouve-se sistematicamente que o SNS é consensual, um instrumento de estabilização social, mas parece haver alguma dificuldade de concretização de todas estas vontades. É uma questão de dinheiro?
A.A.: É preciso alguém dar o primeiro passo. Nós demos um passo. Apresentámos uma proposta da lei à volta da qual os partidos se podem reunir e discutir. Vemo-lo como um contributo cívico para que os partidos todos, mas especialmente os que formam a atual maioria, se ponham de acordo sobre uma nova lei de bases do SNS.
J.S.: Já perdi a conta aos anos e às vezes em que se fala de um amplo consenso nacional em torno do SNS. Esse consenso é conversa mole para entreter políticos e audiências.
É um mito afinal?
J.S.: Pura e simplesmente esse consenso não existe nem vai existir. Há uma divergência fundamental sobre o papel do Estado e do SNS: há os que pensam que o Estado é o garante do direito à saúde e que essa garantia é assegurada pela prestação de cuidados realizada por um SNS geral, universal e financiado pelo OE, tudo posições inscritas na Constituição.
E depois?
J.S.: Há aqueles para os quais a saúde é um negócio como qualquer outra atividade económica e social, devendo o direito à saúde ser pago por quem a ele recorre e exerce. Como é possível um pacto entre os que querem privatizar os hospitais – ou já se esqueceram de Luís Filipe Pereira? – e os que querem mantê-los no domínio público? Como chegar a consenso entre um direito e um negócio? Esta diferença conceptual impede qualquer perspetiva de pacto. São apelos demasiado voluntaristas e que se tornam patéticos pela repetição. O pacto de que se fala hoje é outra coisa. É um pacto de interesseiros, circunscrito ao financiamento – plurianual como está na moda – bom para todos, públicos e privados, porque o que todos querem e aquilo que os une é a expectativa de receberem mais dinheiro. O raciocínio é simples: se vem mais dinheiro para o SNS, mais dinheiro será transferido para a prestação privada, todos ganhariam. Isto não é um pacto para a saúde e muito menos para o SNS. É a estratégia do jackpot.
Este debate que se começa a desenhar pode ser um dos pontos de tensão na gerigonça nesta segunda metade da legislatura?
J.S.: Não vejo motivo para isso nem tenho essa expectativa. Nestes 40 anos, apesar de muitos erros que se cometeram, houve muitas convergências entre PS, BE e PCP em torno do SNS, não vejo qualquer razão para que assim não seja agora que é necessário salvar o SNS.
Que decisões no futuro imediato poderão ser mais fraturantes?
J.S.: Fraturantes, não estou a ver. As decisões mais complexas, mais difíceis, prendem-se, julgo eu, com o regresso das PPP à gestão pública, a revisão das carreiras e a respetiva revalorização remuneratória, a fixação no SNS de profissionais sobretudo médicos, a adaptação do modelo orgânico-funcional à evolução dos padrões de doença, o investimento na prevenção, a do financiamento.
Querem mobilizar os cidadãos para salvar o SNS. A maioria da população ainda está nessa sintonia ou nos últimos anos, com o aumento dos seguros e da oferta do privado, o SNS perdeu algum capital de simpatia e confiança?
J.S.: O grau de confiança dos cidadãos vê-se pela preferência que manifestam quando a doença lhes bate à porta, sobretudo, nas situações graves. E, aqui, não tenho qualquer dúvida de que quem leva a dianteira é o SNS, é o SNS a principal escolha dos portugueses. Aos olhos da população o SNS ainda é o maior e o melhor serviço público. Como se pode confiar num sistema que interrompe os tratamentos se o plafond do seguro tiver acabado, mandando o doente embora com o tratamento por terminar como fazem nos hospitais privados? Os privados vivem das carências do SNS, das suas insuficiências. Quanto melhor for o SNS, menos saída terão os privados, isto funciona como os vasos comunicantes. Além do mais, estou convencido que o mercado privado da saúde está a chegar ao limite, está a ficar saturado, vai estagnar e regredir, não é possível manter as atuais taxas de crescimento, sobretudo, se renovarmos a aposta no SNS.
Arnaut é o mais avançado na idade. O SNS é um dos seus grandes orgulhos?
A.A.: Vou fazer 82 anos. É a grande causa da minha vida, como já lhe disse até pelas minhas origens na aldeia. Eu conhecia aquela realidade, as pessoas só eram tratadas sem pagar quando levavam um atestado de indigentes, era humilhante. Se tivessem uma casinha já não tinham direito a nada. Tinham de vender as cabras. Desde a minha juventude lutei pelos grandes valores da dignidade humana e quando por acaso fui para ministro dos Assuntos Sociais, assumi este compromisso. Foi um compromisso de honra que levei até ao fim perante muitas dificuldades e incompreensões, incluindo no meu próprio partido, a começar pelo ministro das Finanças Vítor Constâncio, que estava mais preocupado com os números do que com a dignidade dos portugueses. Eu sou mesmo socialista mas isto não tem nada a ver com ideologia, é uma questão ética. A reforma do SNS pode ter uma componente ideológica, mas é sobretudo uma exigência ética da civilização. Não é justo que as pessoas sofram e morram por falta de assistência médica por não terem dinheiro. Por isso pagamos os nossos impostos. Este livro é por isso um episódio de uma luta antiga. E enquanto eu tiver um bocadinho de força e vitalidade, continuarei a lutar. Quando o SNS faz as pessoas esperar meses por uma consulta, por um exame ou cirurgia às vezes urgente, deixou de ser um Serviço Nacional de Saúde.