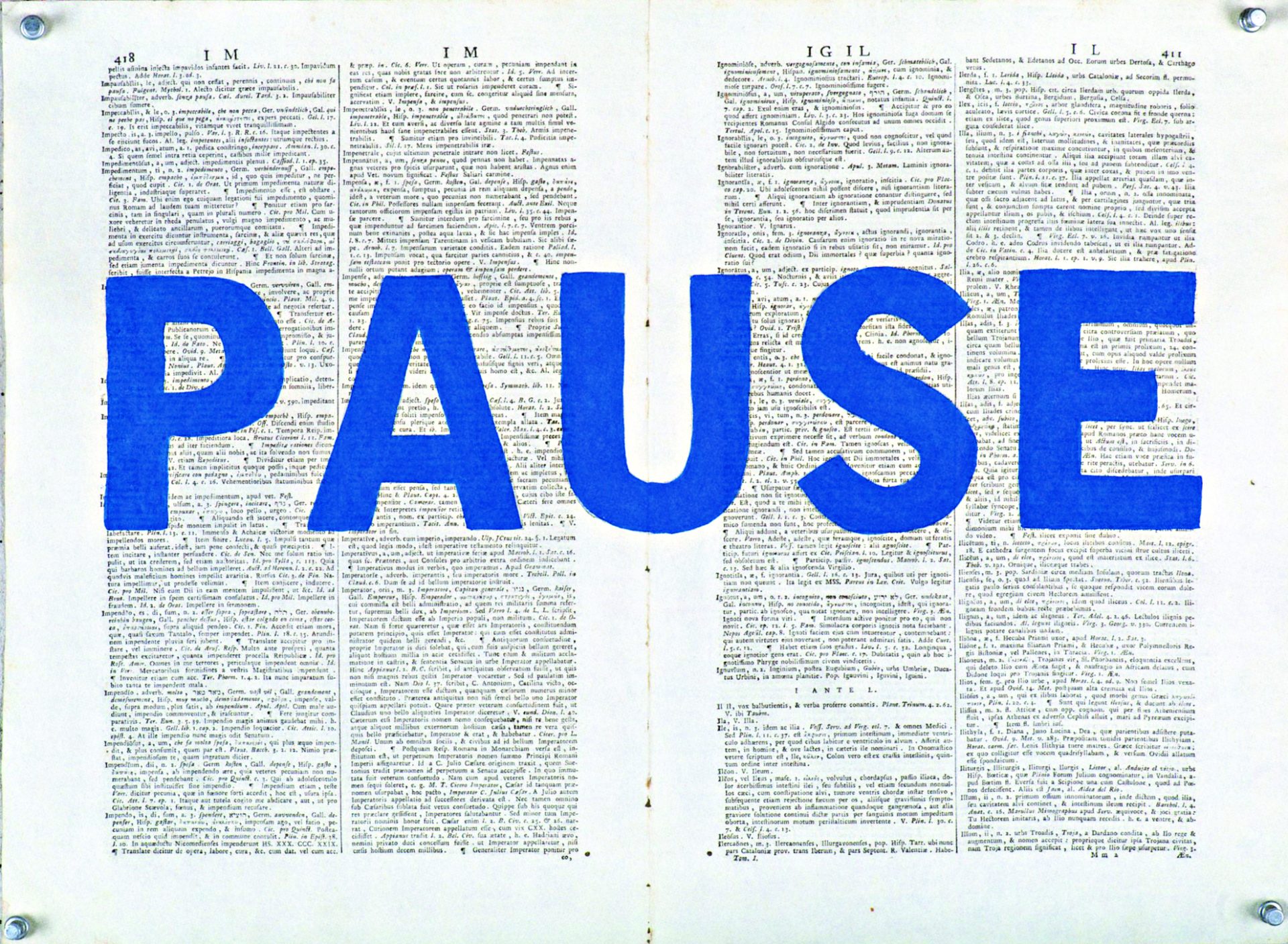A agonizante condição atual do jornalismo é o tema central do mais recente número da revista Electra. Amplamente diagnosticada como uma crise, se hoje dificilmente poderá arrogar-se de operar enquanto «quarto poder», essa mesma debilidade já lhe vai valendo programas de proteção, esboçados timidamente, para impedir que se finem as suas mais dignas espécies. E, com este dossier, a revista da Fundação EDP consegue obter uma visão bastante concreta, também devido às perspetivas de diferentes autores, rica e controvertida, refletindo sobre os sinais e as causas, bem como as consequências do enfraquecimento desse projeto de socialização da cultura, com perda evidente para a esfera pública.
Trata-se de um esforço invulgar com vista a relançar um debate que, ainda que recorrente, tem sido bastante mole entre nós, e no percurso ou sobreposição dos vários textos, fui lembrado daquela história, «lida não sei onde, sobre um condenado no período de Terror revolucionário que ia lendo um livro na carruagem que o conduziu ao cadafalso, e que marcou a página onde estava antes de subir para a guilhotina» (Jacques Bonnet, Bibliotecas Cheias de Fantasmas). Já lá iremos. Antes, importa referir que, no próximo mês, esta revista cumpre um ano de existência. Largou aí quatro números, e se na generalidade dos meios mal se deu por ela, dos tão poucos ecos que produziu, é bom notar que, ao invés de um fracasso da proposta, uma vez mais isto nos põe diante do geral descaso, e do miserabilismo cultural em que nos fazem chafurdar. Se a revista apareceu sem especial pompa, há um evidente arrojo não só na proposta como nas colaborações que tem chamado a si, mas também graficamente, seja na imponência da edição, no grande formato onde texto e imagem não só respiram mas se chocam e digladiam (íntimos num momento, noutro quase se intimidam), e depois há a ubiquidade da Electra nas bancas de jornais, algo tão invulgar numa publicação deste calibre. A este respeito, nunca será demais apontar o dedo ao pacto das lamurientas personagens que, se sempre barafustam pela falta de contributos na área da crítica e da reflexão, em face de uma exceção vivificante, ou a ignoram ou logo a rodeiam de suspeitas, de juízos imbecis e escarnecedores, numa frieza desdenhosa, que se demite de qualquer confronto. A diferença desde logo desta revista está em não nos vir com o peso morto das eminências pardas que sempre se entronizam neste tipo de iniciativas, deixando o caminho aberto a alguns dos melhores espíritos entre nós, a especialistas em várias áreas e temas, autores tão instigantes nas suas derivas disciplinares, e algumas luminárias no plano internacional, nomes que soam frequentemente entre o toque de clarim dos territórios avançados no que toca à análise desses desafios que a esta época dão um cheiro próprio.
Além das colaborações para o dossier, outros contributos merecem destaque, como o insólito e fascinante breve ensaio «Todos nós nascemos loucos. Alguns mantêm-se», do filósofo português Fernando Belo, escrito dois meses antes da sua morte, em dezembro; uma reflexão sobre o urbanismo efémero do arquiteto e curador chileno Felipe Vera; um portfólio do artista sul-africano William Kentridge; uma entrevista ao escritor e cineasta alemão Alexander Kluge e um texto sobre Berlim («essa cidade-palimpsesto»), do poeta alemão Durs Grünbein. Há ainda duas leituras contrastantes sobre a lei que, no passado dia 19 de julho, foi aprovada pelo Knesset estabelecendo Israel como «o Estado-nação do povo judeu». Em qualquer lugar do mundo uma publicação destas – que para lá do elenco de colaboradores e dos textos, se estende por 235 páginas, num excelente papel, e, sendo impressa a cores, fica-se pela módica quantia de 9 euros – seria acolhida com júbilo ou, pelo menos, verdadeiro interesse, o que nos diz que, culturalmente, Portugal está fora do mundo, orgulhando-se de ser uma periferia «esteticamente sinistrada».
Rezar pelo jornalismo
Sendo já uma tarefa complicada dar conta do conjunto das propostas mais ou menos articuladas deste quarto número, e se, até ao momento, a secção de crítica tem sido a perna que ainda torna manca esta revista, relevante mas incapaz de destoar no que toca à escolha de obras relevantes que devem impor-se entre os discursos que marcam a atualidade, foquemo-nos no tema central, e no desenvolvimento que tem nestas páginas, sendo na sua face atual, e logo no editorial, denunciado como «um poder pan-óptico, descontrolado e irresponsável». José Manuel dos Santos e António Soares prenunciam no seu texto a desanca de que esta profissão e vocação irá ser alvo; dizem-nos que «é como se os media fossem o íman dos equívocos, das ilusões, dos logros, dos embustes e das taras do nosso tempo», e tão cedo há a sensação de que, no que toca ao diagnóstico, o assunto aparece-nos selado. Reconhecendo-se a tendência para a formulação de «diagnósticos arrepiantes», começa cedo demais a desenhar-se uma tendência que, com uma ou outra nuance nos textos que se seguirão, logo situa este debate na vizinhança de um certo fatalismo. Em vários momentos, se não é difícil acompanhar os juízos que vão sendo formulados, é a própria tentação de engrossar um coro lamentoso que começa a sobressair, e uma outra leitura emerge pela sobreposição dos textos, tornando-se aparente esse efeito retórico que é a dramatização da forma como os canais se reciclam, novos meios tornam obsoletos os meios tradicionais. E há uma cegueira que nasce da incapacidade de ler para lá do definhamento, da decrepitude, de não se ser contagiado pela fanfarra apocalíptica, perdendo os sinais de renovação, o desembaraço com que, hoje, no fenómeno da comunicação de massas, novos horizontes rasgam a perspetiva que antes tínhamos das coisas. Assim, percebemos como tem faltado um certo «sentido do ridículo para se esgravatar sempre nas mesmas pústulas» e, também assim, dar-se conta do óbvio: «A vida não estancou, foi apenas desviada para outra linha, por imperativo de circulação.» (Recorremos aqui a uma série de sentenças de Fátima Maldonado, poeta que se dedicou à crítica literárias nas páginas do Expresso, e que viu uma reunião de alguns desses textos publicada em 2017, com selo da Averno. Estas frases surgem num texto sobre o livro Fim de Um Mundo, de Marguerite Duras).
Guy Debord é citado no editorial da revista, e também por António Guerreiro em «Rezar pelo jornalismo», texto que abre o dossier temático, mas é curioso como uma das «sinistras profecias» do autor de A Sociedade do Espectáculo, que nos é dada a ler, poderia hoje ser interpretada com um certo otimismo. «Num mundo deturpado, o verdadeiro é um momento do falso», diz-nos ele. E se, como se lê mais à frente, «a verdade e a mentira se tornaram reversíveis», o certo é que não mais uma leitura crítica da realidade poderá assumir que um juízo consiga estancar um relâmpago e compreender a dimensão tempestuosa das novas realidades mediáticas. Mas estamos a adiantar-nos. Há uma série de aspetos irrecusáveis naquilo que tem sido a danação do jornalismo, e o que talvez justifique que a sua missão se tenha diluído, perdendo influência, decompondo-se… Guerreiro mostra, desde logo, como hoje os jornais estão reféns não só da «obesidade da opinião», como desse «hífen de ‘político-mediático’ – que sugere uma cumplicidade profissional e uma alternância de papéis entre os jornalistas e os políticos, formando uma classe anfíbia e reversível». Mas o aspeto crucial da sua análise prende-se com a degradação do jornalismo, e como a cedência à lógica editorialista, ao ser governado pelos «editocratas», vê anular-se a sua função crítica para funcionar segundo a lógica do entretenimento: «promove a encenação de polémicas e debates que funcionam em circuito fechado, segundo uma tendência endogâmica, tautológica e mimética que atinge os cumes da exasperação quando há um acontecimento ou um assunto atual que polariza as atenções, e logo desaparece. O espaço jornalístico fica então dominado por um coro homogéneo e parece uma engrenagem autotélica que funciona para se alimentar a si própria»… E logo remata: «Cria-se assim a ilusão – uma das maiores ilusões do nosso tempo – de que este jornalismo cria um espaço público alargado, próprio de uma sociedade transparente, quando na verdade a reduz na sua amplitude e alcance.» Diz-nos ainda que, neste contexto, «a classe profissional dos jornalistas perdeu poder e autonomia, foi proletarizada, reduzida a uma massa que trabalha para uma ‘indústria de conteúdos’, que é o ramo da atividade produtiva a que os media de massa se conformaram acriticamente».
A ‘hiperesfera egolátrica’
Por sua vez, Carla Baptista, professora e investigadora na área da história dos media, consegue um prodigioso exercício de síntese, em que analisa não só as transformações que levaram ao declínio do jornalismo, como explica esse quadro, e desenvolve as críticas de outros autores, explicando que «o fenómeno das notícias falsas não pode compreender-se sem a concomitante erosão do campo cultural, que foi despreparando os cidadãos para fazer escolhas cívicas». Fala-nos de um novo espaço que, tendo rebentado com as delimitações clássicas entre o público e o privado, abre margem para que «gestos mínimos, cumplicidades silenciosas, escolhas caprichosas, comentários irados, constituam vestígios suficientes de existência e intervenção». E acrescenta: «O mundo digital convoca presenças que são quase ausências e não tem fontes de legitimidade definidas mas reforçou as pretensões deliberativas.»
O ensaísta espanhol José Luis Pardo pensa o impacto destas alterações, e, para refletir sobre a nova esfera pública, refere que «a Internet originou uma inflação da privacidade sem precedentes, uma exaltação do ego até limites inimagináveis. Por isso, é equívoco confundir essa hiperesfera egolátrica com uma ‘esfera pública ampliada’». Já o professor de jornalismo Jacinto Godinho cita o filósofo alemão nascido na Coreia do Sul Byung-Chul Han, dizendo-nos que «os novos públicos não procuram narrativas profundas» e que a indignação digital «não é capaz nem de ação nem de narração. É um estado afetivo que não desenvolve qualquer força potente de ação». Godinho adianta que se «a imensa produção de informação digital parece celebrar a narrativização do mundo, no fundo destrói-a pelo excesso, tal como a massa de comentarismo repentista nos jornais, rádios e televisões vai destruindo a real possibilidade de interpretação que exige respeito, distância e reflexão». Este veterano do jornalismo de investigação não duvida de que «continua a haver jornalismo por todo o lado», mas vê-o de tal forma «desfigurado, desnaturalizado, esvaído ou monstrualizado», que se pergunta se, assim sendo, se pode ainda falar de jornalismo.
É uma boa questão, talvez seja a questão central. Se reconhecermos como os novos modelos de comunicação de massas vieram destituir as velhas instâncias legitimadoras – e como provocaram uma implosão dos regimes de exclusividade na difusão de informação, de construção de narrativas –, é natural que o desprezo pelos antigos códigos do jornalismo, e este período de Terror revolucionário, provoque um tremendo desconsolo em quem assimila tudo isto como um massacre. Há uma aflição diante de tudo o que perece, uma sensação de ruína, terra desolada, e uma reação própria de uma resposta imunitária diante de um vírus, um corpo estranho, como se nos fosse transplantado um terceiro rim, para sermos capazes de um acelerado esforço de processar o sangue que contém uma torrente de novas e ameaçadoras impurezas de que o nosso sistema precisa libertar-se agora, que está sujeito a uma quantidade de informação exponencial se comparado com aquela que era recebida há apenas algumas décadas. Mas é neste aspeto que vale a pena compreender o atual fenómeno não apenas segundo a lógica de um empobrecimento da experiência de comunicação, pois se a qualidade se degradou nos media tradicionais, a profusão de novas plataformas tornou o ambiente bem mais complexo, de tal modo que, na entrevista que Joshua Benton concede a Cristina Margato, o diretor do Nieman Lab (o observatório da Universidade de Harvard), depois de confirmar o irreversível declínio dos media tradicionais, conclui ainda assim que, «para quem é um consumidor ativo e interventivo de informação, estamos no melhor período da história da humanidade. Tem-se acesso a mais e melhor informação do que em qualquer outra época da história, portanto para pessoas como eu – e como você, e como quem está a ler isto – para pessoas como nós, que gostam de consumir informação e se sentem valorizadas com isso, estamos num período muito bom».
O medo vende mais
Já o filósofo francês Yves Citton, num texto em que reflete sobre a emergência dos populismos no regime da «mediarquia» – definida como o poder de um determinado tipo de comunicação de massas («Vivemos em mediarquia a partir do momento em que os nossos sentimentos se formam mais através de afeções sensíveis que nos chegam dos media do que por meio das experiências ‘imediatas’ que temos da realidade material», diz-nos Citton) –, se nos diz que «em matéria de ‘informação’ o medo capta e vende mais facilmente ‘o tempo do cérebro disponível’ do que o fazem os heroísmos comuns e as iniciativas portadoras de esperança», por outro lado deixa esta importante ressalva: «É claro que, nas nossas sociedades fragmentadas, animadas por lutas e forças de invenção sempre inesperadas, a mediarquia é ao mesmo tempo fortemente dominante e constantemente atravessada por múltiplos avanços subversivos e outras linhas de fuga.» E sublinha ainda que «devemos ao heroísmo quotidiano de alguns jornalistas, de certos produtores ou de certos guionistas, as mudanças de perspetiva que trazem em si visões alternativas».
O jornalismo pode até ter degenerado, mas talvez o jornalismo não pudesse senão fracassar diante da expansão tecnológica a que temos assistido, mas é evidente que o que está a ocorrer corresponde mais a um quadro de excesso de saúde, o qual, se não pode deixar de ter manifestações degradantes, e obrigar a um processo de adaptação muito exigente, não devemos focar-nos apenas nos sinais de painel sobreaquecido, mas contemplar o reverso da moeda, e levar em conta como «algumas das melhores cabeças já começaram a ajustar-se a essas coisas» (Benjamin), a estes tempos tão diferentes que não poderiam parecer-nos senão insanos. Torna-se útil, neste contexto, a noção de uma barbárie positiva, em que, face aos distúrbios do nosso processo cognitivo (e ninguém sabe ao certo que adaptações nos nossos circuitos nervosos estão a ocorrer presentemente), somos obrigados a dominar novos processos de navegação em águas bem mais agitadas, e com uma pressão atmosférica que nos obriga a deitar fora os antigos instrumentos em que nos situávamos segundo a posição dos astros. A modernidade técnica parece ter subjugado a experiência humana. O tempo em que vivemos já não está adaptado à nossa escala, mas este desafio não implica uma calamidade; não será o fim dos tempos, antes exigirá novas modalidades de viver, uma resiliência que seja fruto de constituições subjetivas. Face à desestabilização gerada, esta é ainda a primeira geração deste impacto global, e nem tudo são sinais de devastação, mas a cada dia despontam espantosas novas formas de interagir com esta expansão do universo subjetivo de todos nós. Este choque teria necessariamente de levar a uma nova forma de organizarmos as nossas sensações e experiências, mas podemos recorrer não só à experiência do «brincar arcaico enxertando-se de pedaços temporalmente avulsos que metamorfoseia e enlouquece» (Fernando Belo), como melhorar as nossas competências como leitores digitais. Carla Baptista refere que «o leitor digital moderno pratica a assemblage de histórias e comentários sem a intencionalidade que transformou esse gesto criador numa corrente artística», e logo depois diz-nos que «a desinformação é uma patologia da experiência comunicativa contemporânea»… É certo que sim. Por agora. Walter Benjamin notou que, ao longo da história, já nos habituámos a abandonar «uma após outra todas as peças do património humano; tivemos que empenhá-las muitas vezes a um centésimo do seu valor para recebermos em troca a moeda miúda do ‘atual’». Estamos ainda numa fase inicial, de perda e descoberta, de deriva, em que nos custa o mundo a adaptação que nos é exigida a tão drásticas, fenomenais e constantes mudanças, abalos extraordinários, em que a razão parece chegar sempre tarde, ser afetada por um nauseante delay. É natural que muitos se sintam ultrapassados, que sofram dores excruciantes ao terem de despedir-se da conservadora noção de estabilidade, e só alguns sejam capazes desses rasgos de intuição, saltos, conexões… Benjamin falava numa «sintonia fina». Por outro lado, também o jornalismo foi tantas vezes a arma que permitiu exaltar ânimos terríveis, escravizar populações, conduzir nações para a guerra, e mostrou-se inepto nas últimas décadas no esforço de impedir catástrofes, desde logo essa que, a cada ano que passa, assume contornos verdadeiramente apocalípticos: o aquecimento global.
A obsessão dos jornais
É útil também lembrar a visão ameaçadora dos jornais – com a dose diária e estupefaciente que, se ingerida sem uma distância crítica, produz o medo, uma espécie de ansiedade que antecipa ou mesmo alucina diante do exagero das notícias –, e a marca que deixaram na memória do grande crítico literário italiano Alfonso Berardinelli. Quando lhe foi pedido, numa entrevista, que lembrasse o motivo do ódio que chegou a nutrir pelos jornais na infância, lembrou como o pai se isolava da família para ler o jornal, como hoje, tantos de nós se isolam perdidos no ecrã do telemóvel, e como o pai chegava a ler à mesa, durante a refeição. Era alguém que «arruinava a digestão para acompanhar o que acontecia (…) Talvez isso possa explicar o meu ódio pelos jornais, pois são o instrumento através do qual a atualidade, como é determinada pelos poderes, chega dentro das casas e obceca a vida de todos. É a forma cultural através da qual o presente invade, domina e coloniza a imaginação e a vida cultural das pessoas». Portanto, e reciclando uma vez mais as palavras de Fátima Maldonado naquele artigo: «bebamos à morte de um mundo que mostra e fecha num exercício tão fetichista quanto bárbaro».
É a este respeito que o dossier da Electra é ainda uma elegia para algo que está num irreversível processo de perda, mas não chega a ser um convite para «pensar novas formas de subjetividade, capazes de resistência e de crítica, mas não nos moldes do individualismo clássico, liquidado pelo desenvolvimento do capitalismo tardio». Pois, «se o ‘indivíduo’ enquanto tal não é, pois, nenhuma substância eterna, mas sim uma forma histórica de subjetivação (hoje objetivamente destruída, mesmo que simultaneamente idolatrada pela ideologia do consumo e pela indústria cultural), isso, porém, não implica que devamos desistir da ideia de sujeitos capazes de resistência e liberdade» (Jeanne Marie Gagnebin).
Assim, e com todo o reconhecimento pelo esforço ímpar que a Electra está a fazer pela reflexão crítica do momento que vivemos, parece que continua a ter dificuldades em atualizar o seu próprio papel enquanto órgão de imprensa que se rege por tão dignos e tradicionais padrões, deixando a «suspeita de que foi para a encenação de um sacrifício já consumado que nos convidaram (…) E é como se ruísse um cenário com o estrondo de um mundo a sério, os escombros da imaginação tão perigosos como os da realidade» (Maldonado).