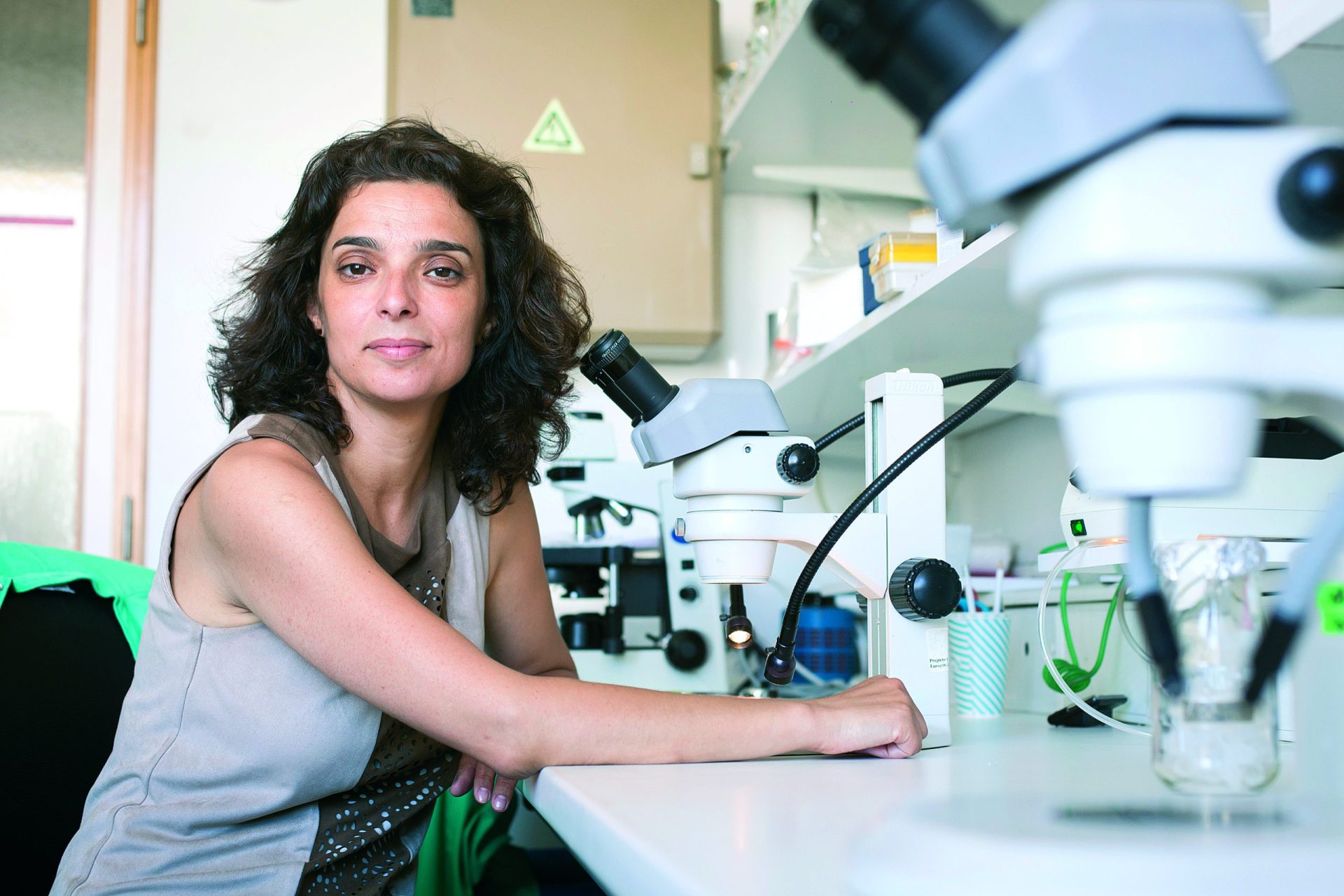Apesar de ser aluna de biologia, disse que não gostava de saídas de campo para observar animais.
A primeira imagem que tenho de gostar de alguma coisa ligada às ciências foi no 5.º ou 6.º ano. Havia um livro de citologia, uma coisa muito pequenina, que os meus pais compraram. Não sei se aquilo fazia parte do currículo escolar. Lembro-me perfeitamente de um atlas de uma célula animal e de um atlas de uma célula vegetal. E achava aquilo o máximo. Sempre gostei de células, de coisas pequenas. Havia uma pressão enorme da família para ir para medicina e para farmácia. Mas era óbvio que não era aquilo que eu queria.
Queria a ciência…
Dizia sempre que queria fazer investigação. Mas não fazia a mínima ideia do que era, porque nunca tinha conhecido ninguém que a fizesse. Nem no curso – isso é um bocado mais triste – eu posso dizer que me apercebi do que era fazer ciência. Só quando entrei para o mestrado, organizado pela professora Maria de Sousa, comecei a perceber que era aquilo realmente que eu queria fazer. Percebi isso quando vi uma fotografia, que nem tinha nada a ver com o parasita da malária, mas era um outro parasita, a leishmania, a viver dentro de um macrófago, que é uma célula que patrulha o nosso corpo. Para mim, aquilo era fascinante. Pensei ‘como é possível um organismo escolher a casa do polícia para viver’? Percebi que queria estudar a interacção entre células.
É estranho escolher algo tão específico.
Como trabalho agora em malária, muitos miúdos aparecem-me aqui porque querem, no fundo, curar o mal do mundo. Acho que é uma razão como outra qualquer. Mas seria mentir se eu dissesse que a minha razão foi essa. Talvez até ficasse melhor no papel [risos]. Nunca vi ninguém doente com malária, nem nunca sequer tive curiosidade, mesmo na fase inicial, de ver. Mais tarde sim, claro, começamos a entrar nisto e a querer tentar perceber como funciona. Eu queria estudar células, e quando vi aquelas duas a interagir uma com a outra, talvez por eu própria ser uma pessoa muito comunicativa, disse que queria a interacção entre duas células. Calhou. Imagine-se que eu via uma célula de um tumor a interagir com outra. Provavelmente teria ido para a área do cancro. Mas na verdade acho que o tema não era assim tão importante, era esse aspecto da biologia que me interessava.
Isso acabava por lhe dar espaço para ir para outras áreas.
Sem dúvida. Penso nisso montanhas de vezes, especialmente porque depois enveredei pela malária, e quer no doutoramento, em Inglaterra, quer no pós-doutoramento – quando estive em Nova Iorque –, a verdade é que fiquei sempre muito centrada no parasita. E quando depois voltei para Portugal para formar a minha própria equipa, tomei uma decisão que no fundo foi muito no sentido de cortar com o mainstream. Ou seja, a maior parte das pessoas continua aquilo que fez no pós-doc e eu achei que não poderia fazer isso. Estava a vir para Portugal, ia ter óptimas condições – ia para o Instituto Gulbenkian de Ciência (IGC) – mas o certo é que eu vinha de um mundo mimado. Temos de ter a noção, que ainda hoje não acontece, e quando voltei há 15 anos, não acontecia de todo em Portugal, que em Nova Iorque eu tinha um cartão de crédito numa gaveta junto ao telefone. Eu queria comprar um reagente, telefonava, só dizia o número do cartão de crédito e em 24 horas o reagente estava na minha bancada. Se não estivesse, eles tinham uma multa…
Não tem nada a ver com as condições de cá…
Nada a ver. Em Portugal demorava três a quatro semanas a chegar um reagente, mas agora é mais rápido. Voltei, portanto, por razões muito mais pessoais e pensei que tinha de arranjar um nicho de investigação, algo que muito pouca gente estivesse a fazer. Virei-me completamente para o lado do hospedeiro, nesta comunicação estabelecida entre ele e o parasita. No fundo a pergunta é: por definição, um parasita precisa de outro para viver. Quem é esse outro? É o hospedeiro. No caso da malária, são dois, o ser humano – ou um outro mamífero, ou um outro vertebrado – e o mosquito. Decidi que não queria trabalhar no mosquito, queria trabalhar no humano. Aí, pensei: ‘se ele vive à nossa custa, damos-lhe qualquer coisa que ele precisa’. Então o que fornecemos ao parasita que lhe permite estabelecer-se e causar a doença? Se percebermos do que é que ele necessita de nós, fechamos a torneira.
E o que é que lhe damos para o alimentar?
Muita coisa [risos]. O problema é que eu acho que era inocente o suficiente, no sentido de que, neste aspecto, comecei um campo. Hoje já há vários laboratórios no mundo que trabalham no mesmo tipo de coisas em que nós trabalhamos, mas a verdade é que a nossa equipa foi pioneira. Em 2005 apresentei pela primeira vez os resultados desta linha de investigação numa conferência importante. Houve uma editora de uma revista especializada que me escreveu a dizer que foi uma lufada de ar fresco e que ia escrever um artigo sobre isto. Não é novo, as pessoas já trabalhavam neste aspecto noutras infecções, por bactérias, por exemplo. Mas na malária era completamente novo. Como estávamos a começar, pensei que íamos descobrir a chave do problema. Só que já percebemos que isto é uma justificação para o nosso falhanço [risos]. Não há uma chave assim tão simples. A verdade é que o parasita também se adapta se lhe tirarmos alguma coisa.
Mas progrediram bastante nestes anos.
Neste momento estamos a trabalhar num projecto que acho que vai ser a chave. Mas também já tinha achado há cinco anos e depois não foi. Há um maturar da ideia de que, realmente, o parasita é muito complexo mas também muito adaptável. Provavelmente é por isso que ele vive na Terra há milhares de anos.
Voltou ainda muito nova para Portugal.
Voltei em 2002, fui para o IGC e já estavam a voltar várias pessoas nessa altura. Mais tarde também, para aqui, para o Instituto de Medicina Molecular (IMM). Da minha geração voltei eu, voltaram o Miguel Soares, o António Jacinto, o Miguel Godinho Ferreira, a Mónica Bettencourt Dias, entre outros. Foram anos espectaculares, de um entusiasmo enorme. Foi-nos pedido conselho, o que é outro lado positivo desse regresso. Mas também tivemos uma vantagem enorme, que era o facto de Portugal estar a criar imensos alunos de doutoramento. Houve um boom de pessoas interessadas em ciência. Portanto, tivemos alunos maravilhosos que chegaram aos nossos laboratórios. E na altura, éramos as estrelas da companhia. Logo, atraímos os melhores alunos. Se eu estivesse em Harvard, provavelmente o que acontecia era o prémio Nobel atrair a melhor pessoa, não era a Maria Manuel Mota, que tinha começado o laboratório naquele momento…
No fundo, os tais mimos acabaram por lhe ser dados cá…
Houve muita coisa que não foi assim. Costuma falar-se agora do ‘tempo das vacas gordas’ e eu odeio isso. Nós nunca vivemos num tempo de vacas gordas. Na ciência acho que nunca ninguém deita dinheiro fora. Mas nem sequer tínhamos tanto dinheiro assim. Tinha colegas nos EUA com muito mais dinheiro que eu.
Continua a ser vantajoso estar em Portugal?
Há uma vantagem enorme, que é a que eu digo mais quando tento recrutar pessoas. Agora estou numa posição diferente, sou directora executiva do IMM, mas continuo a ser investigadora. Agora vejo os dois lados. Temos uma vantagem, especialmente em relação à Europa, e mesmo em relação aos EUA, que é o facto de a maior parte dos institutos bons em Portugal não ter uma estrutura muito definida, muito rígida. O nosso instituto, por exemplo, não tem departamentos. Cada investigador é uma unidade, forma a sua equipa como quer, de uma forma livre. Essa liberdade é fantástica para a criatividade. Se eu tivesse ido para um departamento nos EUA, não teria a oportunidade de trabalhar na parte do hospedeiro. O chefe de departamento dir-me-ia para ir com calma, que era muito nova, para ter cuidado…
Escolheu uma doença muito mediática, que até é usada, de certo modo, como arma política. Se tivesse escolhido outra, acha que seria hoje uma figura pública?
É incrível, porque é tudo de modas. Quando comecei o doutoramento em 1995, a malária não era tão mediática. Cheguei a um departamento clássico em Inglaterra e ninguém dava uma única entrevista. Isto foi antes da Fundação Melinda e Bill Gates ter começado a financiar a investigação nesta área, antes de a revista Nature fazer uma capa e dizer que tínhamos de fazer alguma coisa contra a malária. No fundo, antes da ideia de que a malária cria pobreza. Mas, mesmo quando falamos da mediatização da malária, temos de relativizar. Nunca vai ser tão mediática como, por exemplo, o cancro.
Acabou por entrar num turbilhão? Toda a gente queria falar consigo porque tinha descoberto algo novo.
Aconteceram várias coisas. Fui a primeira a ter uma daquelas bolsas milionárias do European Research Council (ERC) e tinha havido 25 na Europa toda, para todas as áreas. Na altura foi quase um teste-piloto para convencer a Europa que devia investir na ciência. Digamos, então, que fui a primeira em Portugal a trazer um valor superior a um milhão de euros, algo mediático, e que estava ligado também à malária, que, por sua vez, era mediática naquele momento. E isto deve ter sido em 2004. Felizmente agora já tenho outra bolsa do ERC, já tive entretanto outra antes de esta terminar, de mais de 1,5 milhão, e há muitos portugueses que têm dois milhões. Às tantas a minha mediatização foi por uma questão temporal. Acho que o Prémio Pessoa até nem foi para mim especificamente, foi por eu representar uma geração, por ter levado um bocadinho a bandeira à frente. Já há muitos a fazer muitas coisas, e ainda bem. O que acho é que ainda temos poucos.
Disse que a pressão da família era dirigida à medicina e à farmácia. Tem pais médicos?
Não. Sabiam que era um curso com saída. Mas também me apoiaram imenso na minha decisão. Não tive qualquer problema com isso.
Tem irmãos?
Tenho uma irmã que é professora primária. Para os meus pais, quando decidi ir para biologia, também havia muito este conceito de que a profissão de professora também era óptima para uma senhora. Se eu fosse homem, talvez a pressão fosse diferente [risos].
Vem uma família conservadora, de Vila Nova de Gaia?
Sim. É conservadora, católica, de classe média, defensora de uma vida regrada.
Rompeu com isso. Houve conflito?
Não houve. Os meus pais gostam imenso que eu seja cientista.
Gostam de a ver nas capas das revistas.
Exacto [risos]. Sentem-se bem com a minha forma de estar na vida. Têm muito receio, por exemplo, do facto de o meu salário principal ainda vir de um contrato de cinco anos. Perguntam-me várias vezes por ano se os cinco anos são seguros [risos]. É difícil perceber como tenho uma capa na revista e não tenho um emprego para a vida. Foi o que escolhi. Poderia estar, provavelmente, a 100% na Faculdade de Medicina, mas quando me ofereceram essa hipótese, optei por não a fazer porque queria dedicar-me completamente à investigação. Não me sinto mal a ter contratos de cinco anos. Acho sempre que vai haver uma solução. Sinto-me muito mais livre e gosto dessa liberdade.
A liberdade é inestimável?
Aprendi uma coisa com a vida: a liberdade somos nós, ou seja, está em nós ou não. É a mesma coisa que ser-se ou não conservador. Podemos ter a educação mais conservadora do mundo mas a verdade é que somos nós que somos, ou não, conservadores por natureza. Por natureza gosto de me sentir uma pessoa livre. E vivo sempre num conflito, entre a liberdade e a segurança, o que não é simples.
Fez parte de um primeiro grupo de doutoramento internacional. Essa fase foi fascinante, tendo em conta que se estava a começar do zero?
Ainda foi antes de ser chamado doutoramento. Era um mestrado de imunologia. Queria viajar no mundo, queria conhecer isto tudo. Nunca tinha saído de Vila Nova de Gaia. Para mim, chegar a Lisboa, onde estive dois meses antes de ir para Londres, já foi fascinante. Eu tinha 21 anos. Passados esses dois meses fui para Londres, e foi um período fantástico da minha vida, porque me apercebi que queria ter uma vida diferente da que tinha vivido até aí. Queria mesmo fazer aquilo – comecei a trabalhar 14 horas por dia, embora ninguém me obrigasse. Mas tenho necessidade de trabalhar muito fazendo muitas coisas diferentes. Acho que atingi o pico quando vivi em Nova Iorque. Foi quando decidi que em qualquer sítio que eu viva, tenho de viver no centro da cidade. Não me estou nada a ver a ir todos os dias para Sintra, que é um sítio fabuloso, só para ter uma casa grande. Em Nova Iorque foi provavelmente o tempo da minha vida em que fiz mais coisas fora do trabalho, porque estava em poucos minutos no local de trabalho, e também estava no centro de tudo, de teatros e de música ao vivo e vi coisas de que gostei. Tinha uma necessidade de sorver e de fazer amizades. Fiz grandes amigos nessa altura. Para mim, é importante que a vida tenha todas estas esferas.
E ainda tem tempo para viver em todas elas?
É diferente. Espero que não me faça esta pergunta e por isso vou já responder [risos]: Perguntam-me muitas vezes, sendo mulher e porque fui casada e tenho duas filhas, como é que há tempo para fazer isto tudo. Antes de mais, tenho de dizer que só tive tempo de ter uma vida familiar porque tive um marido fabuloso, que é também um pai fantástico. Tínhamos uma complementaridade perfeita. Ele também é cientista. Mas vejo as coisas sob esferas diferentes. Há momentos da vida em que podemos fazer determinadas coisas, mas se, passadas uma ou duas horas daquilo ter passado, eu tiver de trabalhar até às u cinco da manhã, estarei a trabalhar até essa hora. Do mesmo modo que acompanho as minhas filhas quando estão doentes. Mas, quando está tudo bem e estou a trabalhar, a minha cabeça está no trabalho. E não me sinto culpada por isso acontecer.
Há um sentimento de culpa superior no caso das mulheres?
Completamente. Não é nada de muito específico, mas há muito mais mulheres a sentirem isto. Perguntamos: isto é inato? Não. Não acho que seja menos mulher que as outras por não sentir isto. Mas é verdade que há uma pressão enorme da sociedade. Tenho uma grande amiga, uma espanhola que conheci em Nova Iorque, que teve um filho durante o seu pós-doutoramento. Ela tinha um chefe japonês terrível. Ela estava em trabalho de parto e ele teve a lata de lhe telefonar para lhe perguntar onde estava um anticorpo [risos]. Acho que ele nem é má pessoa, é só maluco [risos]. E gosto imenso dele… Ela estava dedicadíssima ao trabalho, e o marido dela, que também era cientista, ficou com o miúdo em casa. Passados quatro ou cinco meses, era época de Natal, eles foram a Espanha. O bebé tinha três ou quatro meses e chorava mais no colo dela do que no colo do pai. E ela, de regresso a Nova Iorque, disse-me que foi horrível.
Porquê?
Ela esteve a ouvir ‘bocas’ o tempo todo da mãe, das tias, como era possível um bebé gostar mais do pai do que da mãe… Não é gostar mais. É estar mais habituado a ele. Sou muito contra aquelas mulheres que aparecem como modelos a seguir, porque temos a ideia de que ela tem de ser uma super-mulher. Não, não me considero nada uma super-mulher e não acho que deva fazer tudo. Fazemos as coisas porque damos um contributo à sociedade, não porque nos dá jeito pessoalmente. E todos os indivíduos têm de contribuir para a sociedade, sejam eles homens, mulheres, independentemente da cor da pele, do país de origem, da época em que nasceram.
Há outra pressão que sofrem, que não é só a de género: a ideia de que o que os cientistas fazem não tem sentido se não tiver uma aplicação imediata à realidade.
Isso é extremamente perigoso. Mas é muito importante explicar. É verdade que, como cientistas, temos de ter a capacidade de transmitir à sociedade, de uma forma clara, o que fazemos. Até porque usamos o dinheiro dessa sociedade. Mas nem todos os cientistas têm de fazer esse trabalho. O que vem para os impostos não tem, simplesmente, de vir só porque é algo que vai ser dado à sociedade de imediato. Uso sempre a metáfora da descoberta do fogo. Foi provavelmente a maior que um ser humano fez. Nem fazemos a mínima ideia de quem foi. Certo é que ela não foi feita por alguém a pensar: ‘se calhar, precisávamos de nos aquecer, vamos tentar fazer aqui uma coisa e vamos chamar-lhe fogueira’. Ou ‘temos imensos problemas digestivos por comer estas carnes cruas. Se a carne fosse cozinhada…’. Isto não surgiu assim [risos]. Mas isso não quer dizer que as duas coisas não coexistam. A sociedade tem problemas e tem o direito de questionar a ciência sobre soluções para eles. Há muita gente a trabalhar num medicamento contra o cancro, por exemplo. Mas não podemos descurar a investigação aplicada, porque as grandes descobertas foram sempre e vão continuar a ser feitas num momento em que a pessoa nem pensou logo ou percebeu a grandiosidade daquilo. A sociedade tem de dar espaço a ambas.