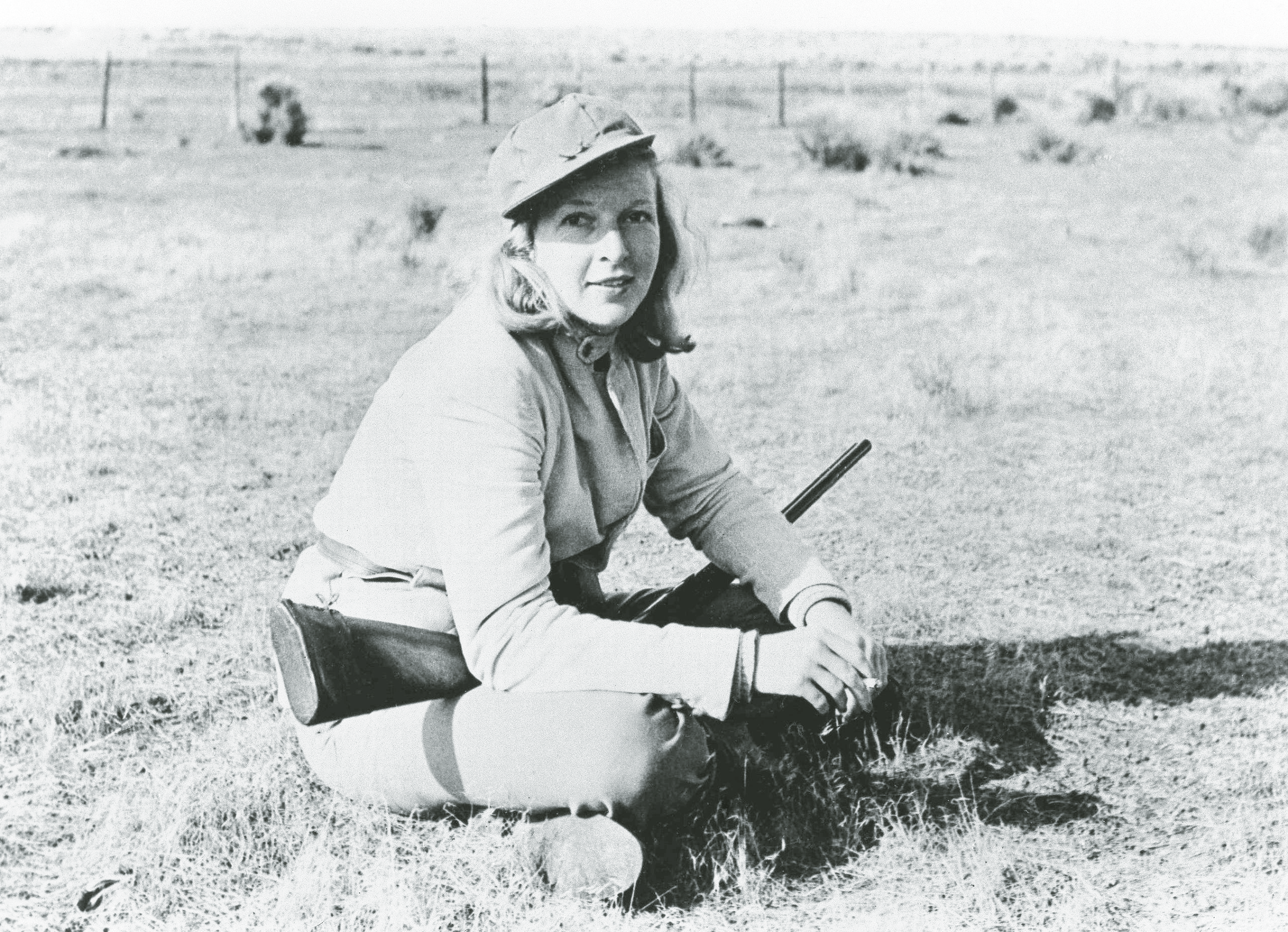Nasceu a 8 de novembro de 1908 em St. Louis, no estado norte-americano do Missouri, no seio de uma família burguesa. Foi a primeira filha de Edna Fischel Gellhorn, sufragista, e de George Gellhorn, ginecologista alemão. Aos apenas sete anos, participou no The Golden Lane, um comício para mulheres sufragistas que integrou a convenção do Partido Democrata antes das eleições de 1916, em que Woodrow Wilson derrotou o republicano Charles Evans Hughes. Nesse evento, mulheres envergando guarda-sóis e faixas amarelas alinhavam-se na rua principal que conduzia ao St. Louis Coliseum, local onde foi exposto um mapa dos EUA com os territórios em que as mulheres não se tinham emancipado pintados de preto. Nesse dia, a então pequena Martha Gellhorn, juntamente com Mary Taussig Hall, de cinco anos – que viria a ser uma aclamada assistente social – lutavam na fila da frente representando a idealização das futuras eleitoras, isto é, as do género feminino. A parada, organizada pela progenitora daquela que viria a ser uma das mais conceituadas correspondentes de guerra, juntou milhares de pessoas e marcou o despertar da, à época, criança para questões como a dos direitos humanos e, mais especificamente, das mulheres.
Entre o percurso académico e a paixão pelas palavras
Em 1926, Gellhorn terminou o Ensino Secundário na John Burroughs School, em St. Louis, e ingressou no Bryn Mawr College, seguindo as pisadas da progenitora. Porém, a um ano de terminar a licenciatura, na Pensilvânia, abandonou o curso, nunca esquecendo os ensinamentos de Edna Fischel Gellhorn, sua mãe, que encarava como «bússola moral» e o seu «verdadeiro norte». Dos três anos que constituíram o seu percurso no Ensino Superior, guardou com carinho as memórias das aulas de poesia lecionadas por Hortense Flexner, considerando-a a única docente «que significava alguma coisa» para si. «Ir a todo o lado, ver tudo e, por vezes, escrever sobre isso»: foi esta a grande motivação de Gellhorn para interromper os estudos e começar a escrever na The New Republic, revista de comentário político, cultura contemporânea e artes que havia sido fundada em 1914. Aos 22 anos, com 75 dólares, quantia de dinheiro que se opunha aos sonhos emergentes que teimavam em fazer-se notar, partiu para Paris «em busca de mundo», tendo-se apresentado na redação da United Press International. Contudo, a aspirante a jornalista viria a ser despedida por ter noticiado assédio sexual perpetrado por um indivíduo relacionado com a agência.
O regresso aos EUA
Dividindo-se entre as viagens que realizava pela Europa, a escrita para jornais franceses e norte-americanos, assim como a cobertura de moda para a Vogue, em novembro de 1929 trabalhava como repórter para o Albany Times Union. A mãe da repórter em ascensão havia estudado com Eleanor Roosevelt, antiga primeira-dama e esposa de Franklin Roosevelt. Convidada para jantar na Casa Branca, e a pedido de Eleanor Roosevelt, Gellhorn, então com 25 anos, deu a conhecer a gravidade das circunstâncias sociais em que os norte-americanos viviam, narrando as condições precárias de famílias inteiras que sofriam de pelagra, raquitismo e sífilis. Consequentemente, foi contratada como investigadora da Federal Emergency Relief Administration com a missão de perceber o impacto da Grande Depressão de 1929 nos EUA. Auxiliava a primeira-dama na elaboração da coluna My Day para a revista mensal Women’s Home Companion e, simultaneamente, explorava temáticas como a da situação dos desempregados no país. A título de exemplo, na Carolina do Norte, durante os anos 30 do século XX, Gellhorn observou:_«As pessoas que parecem estar mais fisicamente debilitadas são as raparigas. Tenho-as visto trabalhar em moinhos e a carga de trabalho é desumana. Não têm descanso durante oito horas; num moinho, disseram-me que não têm tempo para ir beber água à fonte. Comem de pé e mantêm os olhos presos às máquinas». Este e outros relatos acutilantes viriam a ser integrados em The View From The Ground, obra editada em 1936, posterior a What Mad Pursuit, livro em que demonstrou o seu ativismo no movimento pacifista. Já no fim da vida, quando questionada se alguma vez se sentira intimidada pelo Presidente, Gellhorn respondeu: «Não. Sou capaz de admirar, mas não de temer».
Não é possível separar o jornalismo da história
O jornalismo atravessa a História e «no intervalo entre o advento do jornalismo moderno no fim do século XIX e o desejo atual de experienciar diretamente – ou ter a ilusão de experienciar – a História enquanto esta acontece, a interação entre estes dois mundos tem mudado», como foi enunciado pelo académico francês Yves Lavoinne. Decorria um dos períodos mais conturbados da História espanhola quando Gellhorn conheceu Ernest Hemingway – com 37 anos, o escritor já havia publicado as obras O_Sol Nasce Sempre (Fiesta) e O_Adeus às Àrmas –, no Natal de 1936, em Key West, na Florida. Partiram juntos na semana seguinte para Espanha, tendo em comum o projeto da cobertura da Guerra Civil. Os nove anos que os separavam não foram um obstáculo. Quando aterraram em território espanhol, vivia-se um período de acentuada tensão política pós-governação de Primo Rivera, ditador conservador que impôs o autoritarismo de cariz nacionalista e ficou conhecido pelas perseguições levadas a cabo aos comunistas e anarquistas que tentavam ter voz ativa na política nacional. Entre 1923 e 1930, o parlamento foi dissolvido, a constituição suspensa e uma ditadura instaurada. Rivera contava com o apoio de grande parte do patronato, do clero, das forças armadas e dos meios conservadores. Com Diego Martínez Barrio no governo, provisoriamente, em 1936, a insatisfação perante o governo da II República cresceu entre os setores conservadores espanhóis, que haviam apoiado Primo Rivera. Estes setores tentaram promover um golpe de Estado e reerguer o autoritarismo. Contudo, a tentativa não foi bem-sucedida como no caso de Rivera e as forças conservadoras espanholas enfrentaram o desagrado das organizações anarquistas e do Partido Comunista Espanhol (PCE), que era fortemente auxiliado por Moscovo. Surgiram duas linhas de combate: a Frente Popular – sempre fiel à denominada II República Espanhola, urbana e progressista, aliando-se aos anarquistas e aos comunistas e apoiado pela União Soviética – e o Movimento Nacional – formado maioritariamente por monárquicos e católicos, liderados pelo General Francisco Franco (inspirado pelo fascismo italiano de Benito Mussolini e pelo nazismo alemão de Adolf Hitler). Contratada pela Collier’s Weekly para fazer a cobertura da guerra que estava em curso, entre 1936 e 1939, Gellhorn havia de assistir à governação de Manuel Azaña, tendo chegado ao país cinco meses depois da eclosão do conflito, também designado pelos nacionalistas como A Cruzada. Escreveu igualmente para a The New Yorker – um dos seus relatos mais famosos foi ‘Madrid To Morata’, de julho de 1937, onde comparou um conjunto de tanques de guerra com barcos («as if six boats, with only their harbor lights showing, were tied together, riding a gentle sea»). Na sua quarta e última visita a Espanha, em 1938, aos 30 anos, dedicou-se à escrita do relato ‘O Terceiro Inverno’.
A guerra no feminino
Recorrendo às técnicas do jornalismo literário para narrar a Guerra Civil Espanhola, Martha Gellhorn provou ser, mais do que correspondente de guerra, uma profissional que dominava a não-ficção criativa. Nesse texto sobre a guerra civil espanhola que integra A Face da Guerra (uma seleção de reportagens de guerra da autora, publicada em 2006 pela D. Quixote)é-nos apresentado primeiro o panorama geral de Barcelona, o primeiro objeto de estudo da jornalista, onde «estava um tempo ideal para bombardeamentos» e somos introduzidos à família Hernández, os protagonistas da reportagem que representam a generalidade das famílias espanholas. Depois, o leitor é confrontado com situações como a indiferença dos habitantes da cidade perante a explosão de bombas e apresentados a protagonistas de menor relevância na hierarquia da narrativa como a mulher «de cabelo grisalho, com a cara acinzentada devido ao frio e os olhos exaustos». E finalmente, na conclusão, enquanto conversa com os Hernández, Gellhorn afirma: «O Terceiro Inverno é o mais difícil». Ao que os seus interlocutores respondem: «Somos espanhóis e temos fé na nossa República».
A morte das convicções
Ao fazer a cobertura das Guerras de Espanha, da Finlândia, da China, da Segunda Guerra Mundial, de Java, do Vietname, dos Seis Dias e da América Central (entre 1936 e 1989), Gellhorn viu as suas convicções serem eliminadas – a bondade dos líderes, a capacidade de não-ilusão do povo e o poder do jornalismo. Nos seus textos, repórter explorava a História como sustentação dos acontecimentos apresentados (principalmente, o enquadramento da guerra que é evidenciado aos leitores por meio de passagens, que se encontram entre parêntesis, através das vivências que Gellhorn teve em locais como a ópera ou o cinema) e o panorama geral de Barcelona (descrição da cidade, da temperatura sentida, do comércio e dos acontecimentos vividos como o facto de «nenhuma bomba ter caído nas últimas duas horas»). A par disso, casos como o da família Hernández ou do pequeno Paco que, no hospital, «sentou-se na cama com grande dignidade» mesmo tendo «um grande ferimento na cabeça» permitem que façamos um périplo por uma época em que as mulheres ocupavam papéis secundários nas frentes de batalha e Gellhorn. Rompendo estereótipos de género e fazendo valer-se da sua tenacidade, Gellhorn destacou-se como a jornalista que realizou a cobertura de mais conflitos. O último foi a invasão das tropas norte-americanas no Panamá em 1990. Quando parou já tinha 84 anos.
a humanização na reportagem Com mestria, Gellhorn conduz ao desdobramento das personagens da família Hernández em subdimensões do enredo, viajando entre o quotidiano do agregado familiar (particular) e situações que comprovam que o mesmo pode ser alargado a todas as outras famílias (geral): essa é, talvez, uma das características mais fascinantes de ‘O Terceiro Inverno’. Partindo dos elementos que compõem a família espanhola, Gellhorn pinta um retrato da escassez de recursos – utilizando o conserto de uma moldura como pretexto para conversar com o senhor Hernández, carpinteiro de profissão, percebendo que o idoso não tem madeira em sua posse para realizar tal tarefa -, do papel-chave das mulheres e das crianças – são a senhora Hernández e o neto Miguel, de dez anos, que descrevem as filas junto das portas das lojas onde se utilizam as senhas de racionamento para obter alguma comida – da mulher enquanto figura essencial – a filha dos Hernández, que trabalha numa fábrica de munições, traz, todos os dias para casa, dois pedaços de pão -, da alteração da vida familiar com os civis na frente de guerra – exemplificada pela ausência dos filhos Tomás e Federico -, da deterioração da saúde física e psicológica (fome, doenças como raquitismo, fraca higiene, stress pós-traumático) -, da fragilidade das crianças – Lola, nora dos Hernández, tem uma bebé com «a cara franzida e pálida» e as «pequenas pálpebras azuladas» ao colo, sendo que a pequena encontra-se «demasiado fraca para chorar» por não comer «como deve ser» -, do medo e a incerteza constantes – Miguel esconde-se quando ouve as bombas cair – «escondo-me… para que elas não me matem» e do receio generalizado – Lola receia ir à ópera porque o marido pode ficar ferido, em combate, e regressar a casa: «Quase imaginei que ele regressava a casa e eu perdia uma hora da sua companhia».
Adversidades na reportagem e na vida
Embora a diferença de idades não constituísse impedimento à relação, que culminara com o casamento em 1940, a convivência entre Gellhorn e Hemingway não era fácil. A rutura deu-se em 1943, quando Gellhorn percebeu que o conceituado autor a via apenas como »mulher e náo como escritora», insurgindo-se e divorciando-se. Sabe-se mesmo que, nesse ano, quando Gellhorn partiu em reportagem para Itália, Hemingway escreveu-lhe uma espécie de ultimato:_«És uma correspondente de guerra ou a minha mulher na cama?». Em 2001, ao The Guardian, Gellhorn confessou que havia «um homenzinho que ocupava o seu tempo» a desenterrar histórias sobre ela e que estava apenas à espera de que ela morresse para as publicar. Na biografia The Life Of Martha Gellhorn, o «homenzinho», o professor de jornalismo norte-americano Carl Rollyson, escreveu:_«Ela sabia como o sexo era importante para a maioria dos homens, e utilizava-o não apenas para agradar aos homens como para obter boas histórias. Dormiu com generais; teve romances de uma única noite com soldados que iam morrer no dia seguinte». A loira burguesa do Missouri era, afinal, uma das mais brilhantes repórteres do seu tempo e nunca deixou de lutar contra o retrato que lhe havia sido tecido de mulher que «fumava, bebia e viajava a seu bel-prazer» e que se vestia com roupas compradas na 5.ª Avenida, tendo processado Rollyson. Contudo, nos seus últimos dias, deixou um depoimento amargurado sobre a sua passagem pela Terra, lembrando que viveu em 19 casas, não teve filhos biológicos – adotou uma criança italiana órfã de guerra, Sandy Gellhorn -, e repetiu a ideia que havia vindo a consolidar ao longo de quase 60 anos de trabalho jornalístico:_«A guerra é uma horrível repetição». Com a saúde débil, quase cega, a sofrer de cancro nos ovários, cometeu suicídio em 15 de fevereiro de 1998, em Londres, sendo apontada como causa de morte a toma de uma cápsula de cianeto.
Um livro anti-guerra
Dois excertos nma conclusão de A Face da Guerra sintetizam a visão de Gellhorn enquanto jornalista – «o único ponto destas reportagens é que são verdadeiras, mostram o que eu vi» – e, essencialmente, ser humano – «apoio-me na teoria da raça da história: o progresso nos assuntos humanos depende da aceitação, geração após geração, do dever individual de oposição aos males da época». E, esses, na perspetiva da repórter pioneira, mudam, «mas nunca são poucos». Quando são tantos, em época de conflito, é necessário que se leiam vozes como a de Gellhorn que, não se comprometendo com a objetividade e a imparcialidade associadas ao jornalismo tradicional, descrevia a guerra com assertividade, emoção e até alguma raiva, transportando os leitores para o mundo em que se escreve «o mais rapidamente possível», sendo que tinha medo de esquecer «os sons, os cheiros, as palavras e os gestos exatos».