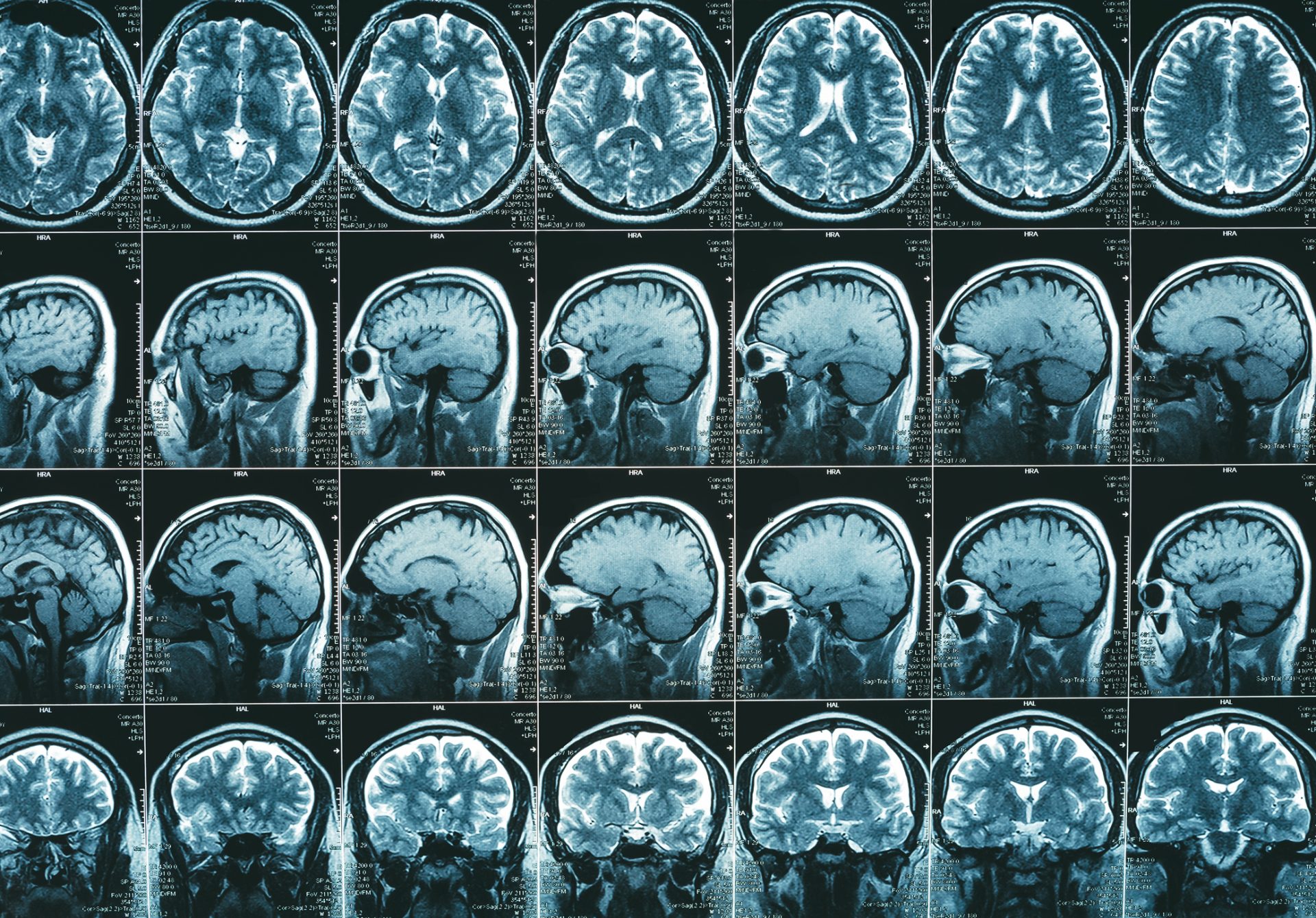Os ex-combatentes da Guerra Colonial são dos mais afetados pelo isolamento social inerente à pandemia. Consideram que estiveram «presos» entre 1961 e 1974, nas antigas colónias portuguesas, e, agora, o novo coronavírus leva a que revivam esse período por padecerem, em grande escala, de stresse pós-traumático e sentirem que foram ‘esquecidos’ pelo Estado.
Quando foi para Moçambique, em 1966, Jorge Gouveia tinha 22 anos. Volvidos três anos, regressou a Portugal. Exatamente 52 anos desde o fim do seu serviço militar, vê-se a braços com uma nova ‘prisão’.
«O confinamento prejudica-me porque não me posso movimentar. E lá também estávamos confinados a um quartel, com arame farpado, e ali ficávamos. Era uma ‘prisão’», começou por explicar o atual presidente da direção da Associação de Apoio aos Ex-combatentes Vítimas do Stress de Guerra (APOIAR).
À semelhança daquilo que o militar partilhou, a psicóloga Susana Martinho de Oliveira – autora da tese de mestrado Traumatização Secundária das Famílias dos Ex-Combatentes da Guerra Colonial com PTSD, de 2008 – tem verificado é que «muitos destes homens já apresentavam dificuldades nas suas relações interpessoais e já se isolavam socialmente», sendo que «o que lhes tem sido demasiado penoso é estarem menos com os filhos e com os netos». Todavia, há uma sentimento de privação da sua liberdade, o que reativa emoções do passado. «Estes homens foram privados do seu direito de escolha durante o período da ditadura, foram obrigados a estarem afastados da sua família durante dois anos e, quando voltaram, sentiram que não podiam falar livremente da sua experiência traumática», revelou.
Para a psicóloga, vivemos «um acontecimento traumático, com uma duração prolongada e o facto de ser impredictível e incontrolável aumenta o desespero das pessoas e a intensidade do stress», sendo que, este «exige mais recursos emocionais, cognitivos e comportamentais das pessoas, por isso pode alterar o sentimento de segurança e autossuficiência, a ligação aos outros, colocar em causa os mecanismos de adaptação e os pressupostos básicos de vida, como a justiça e a previsibilidade», afirmou a profissional que, desde 2003, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, já integrou a Consulta Externa de Stress Traumático (2003 a 2007), a Clínica Psiquiátrica VI “Salgado Araújo” e a Consulta de Intervenção na Crise (2005 a 2007).
«Quem já tinha perturbação psicológica antes da pandemia (como é o caso de muitos ex-combatentes) neste momento está pior (ou seja mais sintomático), e quem não tinha queixas está a ficar perturbado ou sente uma diminuição dos seus recursos, causando a fadiga da pandemia de que tanto se tem falado», explicou a psicóloga que, desde 2007, integra a Clínica Psiquiátrica II- Setor B (atualmente CP 6- Psicose Esquizofrénica) e tem desenvolvido atividades como a avaliação e acompanhamento psicológico de doentes em regime de internamento e ambulatório (intervenção psicoterapêutica individual e em grupo).
De acordo com dados divulgados no artigo Distúrbios Pós-traumáticos de Stress em ex-combatentes da guerra colonial, publicado na Revista de Psicologia Militar, em 1992, o ex-militar de 76 anos é um dos cerca de 140 mil veteranos que apresentam perturbações psicológicas crónicas como consequência da igualmente denominada Guerra de Libertação.
«Não nos importávamos de estar nos quartéis, o problema era quando tínhamos de ir para o mato. O passatempo era o álcool e os cigarros e houve muita gente que se tornou adita aos mesmos», adiantou, acrescentando que «hoje, teoricamente, não poderão fazer isso porque são medicados e não devem misturar a bebida com os comprimidos senão criam uma bomba explosiva».
Os comportamentos desviantes dos militares, que poderiam ser considerados mecanismos de coping, devem-se não só ao facto de terem vivido episódios que os perturbaram, mas também por julgarem que foram menosprezados. «Quando viemos do Ultramar, após o 25 de Abril, foi-nos colocado um rótulo nas costas de criminosos de África», contou Jorge com amargura.
«Não era bem assim porque um jovem faz tudo para sobreviver. Era complicado porque vivíamos o conflito diariamente. Saíamos dos quartéis onde estávamos instalados e não sabíamos quem regressaria inteiro ou vivo», confessou o homem que não esquece o tempo em que a sociedade não via com bons olhos os militares. «A situação modificou-se um pouco e agora o estigma parece que se minimizou. Quem falava não sabia aquilo que lá passámos», constatou com segurança. «Quando esta geração morrer, ninguém saberá aquilo que aconteceu. Estávamos de serviço 24 horas, longe da família, quase todos solteiros, uns mais fustigados do que outros», realçou.
«Eles tiveram mesmo muitos constrangimentos após o seu regresso do Ultramar. Alguns foram estigmatizados pelas próprias famílias ('veio da guerra, veio maluco'), muitos não encontraram sensibilidade e preocupação junto dos médicos, não existiam psicólogos como atualmente e eram poucos os que tinham formação na área do trauma e a sociedade tinha vergonha desta parte da história de Portugal. A Guerra Colonial, como qualquer guerra, está marcada por muita dor, vergonha e culpa. No início o Ministério da Defesa apoiou essencialmente os ex-combatentes que vinham mutilados da guerra», disse Martinho de Oliveira que, desde dezembro de 2009, é doutoranda em Psicologia com um estudo sobre o "Impacto da sintomatologia dos ex-combatentes da guerra colonial na família"
Para o dirigente, que se encontra a cumprir o terceiro mandado na associação dos ex-combatentes, a generalidade da população não entende o panorama complexo das experiências adquiridas pelos ex-combatentes. «Não sabíamos onde nos íamos meter e viemos muito modificados. Perdemos a inocência da juventude, fomos obrigados a isso», referiu.
«Estamos a falar de jovens, entre os 18 e 21 anos de idade, que foram obrigados a ir para Angola, Guiné e Moçambique para lutar, matar e sobreviver. Portanto, muitos sentiram que estiveram 'dois anos presos' nas ex-colónias portuguesas. Com o fim do regime salazarista, a guerra colonial passou a ser um assunto tabu na nossa sociedade e os ex-combatentes eram vistos por muitos como “assassinos”, o que os levou a silenciar as suas queixas e a “reprimir” as suas memórias», asseverou a psicóloga, acrescentando que «este isolamento social e a experiência de confinamento associada à pandemia que estamos a viver, reativa nestes homens as suas experiências emocionais daquela época».
Recorde-se que, em 1961, para Angola foram mobilizados cinco mil militares, para a Guiné 25 mil e para Moçambique 11 mil. Portugal viria a acabar a guerra com 150 mil homens em armas, 60 mil em Angola, 27 mil na Guiné e 55 mil em Moçambique. Um destes últimos foi Jorge que padece do transtorno de stresse pós-traumático (PTSD).
«Vínhamos, casávamos e, de forma geral, todas as mulheres sofreram com as vivências dos maridos, tal como os filhos», desabafou. «Costumo dizer que esta doença é um vírus que trouxemos de lá e que contagiámos a família e amigos com o mesmo», disse, aludindo à Perturbação Secundária de Stresse Traumático (STSD).
«Está provado cientificamente que não é ao fim de um ano ou dois que aparecem os sintomas da doença, podem aparecer ao fim de muitos anos, é conforme as pessoas», revelou com lucidez, adicionando que, no seu caso, apercebeu-se de que não estava bem por volta de 1979 quando começou a sentir irritabilidade frequente, mau humor e um nível de desconfiança elevado, tal como a sensibilidade ao ruído.
«Se estes sintomas persistirem por mais de um mês após a ocorrência do trauma, observa-se então a presença de um quadro de PTSD. Habitualmente os sintomas de PTSD começam dentro dos primeiros três meses a seguir ao acontecimento traumático e verifica-se uma redução espontânea após os 3 meses em cerca de 50% das situações. Nos casos em que se torna crónica, os sintomas podem flutuar ao longo do tempo, tornando-se mais intensos perante situações de vida stressantes ou novos acontecimentos traumáticos», explicitou Martinho de Oliveira.
«Aquilo que tenho verificado na minha prática clínica, e que é congruente com a revisão da literatura, é que muitos dos ex-combatentes quando começaram a procurar ajuda médica (psiquiátrica) e psicológica apresentavam sintomas de reexperiência do trauma», declarou, enumerando os pensamentos e pesadelos com a guerra, os fenómenos dissociativos, comportamentos de evitamento, reação de alarme exagerado, agressividade e anestesia emocional (dificuldade em sentir prazer, amor, alegria, etc.), que «comprometiam essencialmente as suas relações sociais e familiares».
«Primeiro, trabalhei na barbearia do meu pai e, depois, fui para a TAP e fui eletricista da parte industrial. O stresse também perturbou o meu quotidiano laboral. Queremos controlar-nos e, por vezes, não conseguimos», desabafou o veterano que, atualmente, toma o fármaco Rivotril, na dosagem de 2mg, para conseguir dormir. No entanto, quando esteve numa das fases mais agudas da doença, tomava dez comprimidos por dia, entre 1994 e 1997.
«Acordo muitas vezes com pesadelos. Sou acompanhado por psicologia e psiquiatria», revelou Jorge que já fez terapia de grupo e não esconde que esta surtiu efeito. «Sinto-me mais à vontade nestas consultas porque os outros pacientes estiveram em momentos iguais ou piores do que os meus», reconheceu.
«Fecho-me na minha concha para não estar exposto a qualquer coisa negativa porque posso explodir até sem razão para isso», afirmou. «Recordamos sempre aqueles que lá ficaram e os que vieram feridos. A vida lá contava pouco, não sabíamos quando chegaria o nosso dia», elucidou.
«Há muitos ex-combatentes desprotegidos»
Devido ao confinamento geral que se encontra em vigor, a associação auxilia os veteranos por meio de consultas telefónicas. «Os médicos contactam os utentes para que sejam acompanhados. Se houver uma urgência muito grande, é claro que abrimos uma exceção, mas não queremos ajuntamentos», explicou Jorge, mencionando que os militares têm idades compreendidas entre os 68 e os 81 anos e têm de se resguardar, fazendo parte dos grupos de risco da covid-19 pela idade.
«Mentalmente isto faz-nos mal porque já estivemos ‘presos’ em África e agora não conseguimos sair de casa», revelou. «Temos de viver assim e tentar ter calma. Somos medicados na mesma, mas há doentes que podem ter crises», esclareceu.
Acerca da eventualidade do registo de suicídios, foi claro: não existe nenhum registo na associação, mas tal não invalida que os mesmos tenham sido concretizados. «Apesar de sermos um país pequenino, não temos acesso a essas informações, embora seja pessoal que tenha de andar sempre controlado», salientou.
Todavia, para o ex-combatente, não é apenas a pandemia que produz problemas na saúde mental destes militares, pelo contrário: exacerba aqueles que já existiam. «O mal disto sempre foi, é e sempre será o facto de que o país não tem os acompanhamentos distribuídos, somente no Litoral há mais ajuda», declarou.
«No Interior conheço as associações de Tondela, Braga, Coimbra e pouco mais. Há muitos ex-combatentes desprotegidos», mencionou, realçando que a APOIAR, em tempos, auxiliava um casal de Viseu que dizia que se sentia mais bem acompanhado pela mesma. Por outro lado, também lidavam com um casal de Portalegre e alguns do Ribatejo.
A problemática da vacinação
No passado dia 13 de janeiro, a APOIAR enviou uma carta à Direção-Geral da Saúde, endereçada a Graça Freitas, apelando à prioridade dos ex-combatentes na vacinação contra a covid-19.
«A saúde mental tem sido constantemente esquecida, excluída e abandonada pelos responsáveis da saúde em Portugal. Uma pandemia de patologias mentais está a crescer ainda mais escondida pela atual situação e só será revelada talvez demasiado tarde», escreveu. Contudo, a resposta rececionada não foi aquela que pretendiam: foram informados de que a vacina chegaria até aos ex-combatentes em abril.
«Durante a pandemia, somos cidadãos-comuns. A partir daí, não podemos fazer nada porque temos de obedecer a ordens. É evidente que por vezes sentimos que não querem saber de nós», confessou com mágoa o presidente da associação que, neste momento, acompanha cerca de 200 ex-combatentes.
«Desde que começou a pandemia, temos apoiado os nossos associados (ex-combatentes e famílias) à distância (teleconsulta e videochamada) e sempre que se justifica (clinicamente) de modo presencial», afirmou Martinho de Oliveira, evidenciando que este acompanhamento tem sido regular em todas as consultas de que a Associação dispõe (consultas de medicina geral, psiquiatria, psicologia, serviço social e apoio jurídico). «Alguns ex-combatentes que já tinham tido alta da consulta pediram para retomar as consultas de psicologia», indicou.
«O Estado sabe que existimos, mas já percebemos que não há uma exceção. Sentimos que somos esquecidos», finalizou.