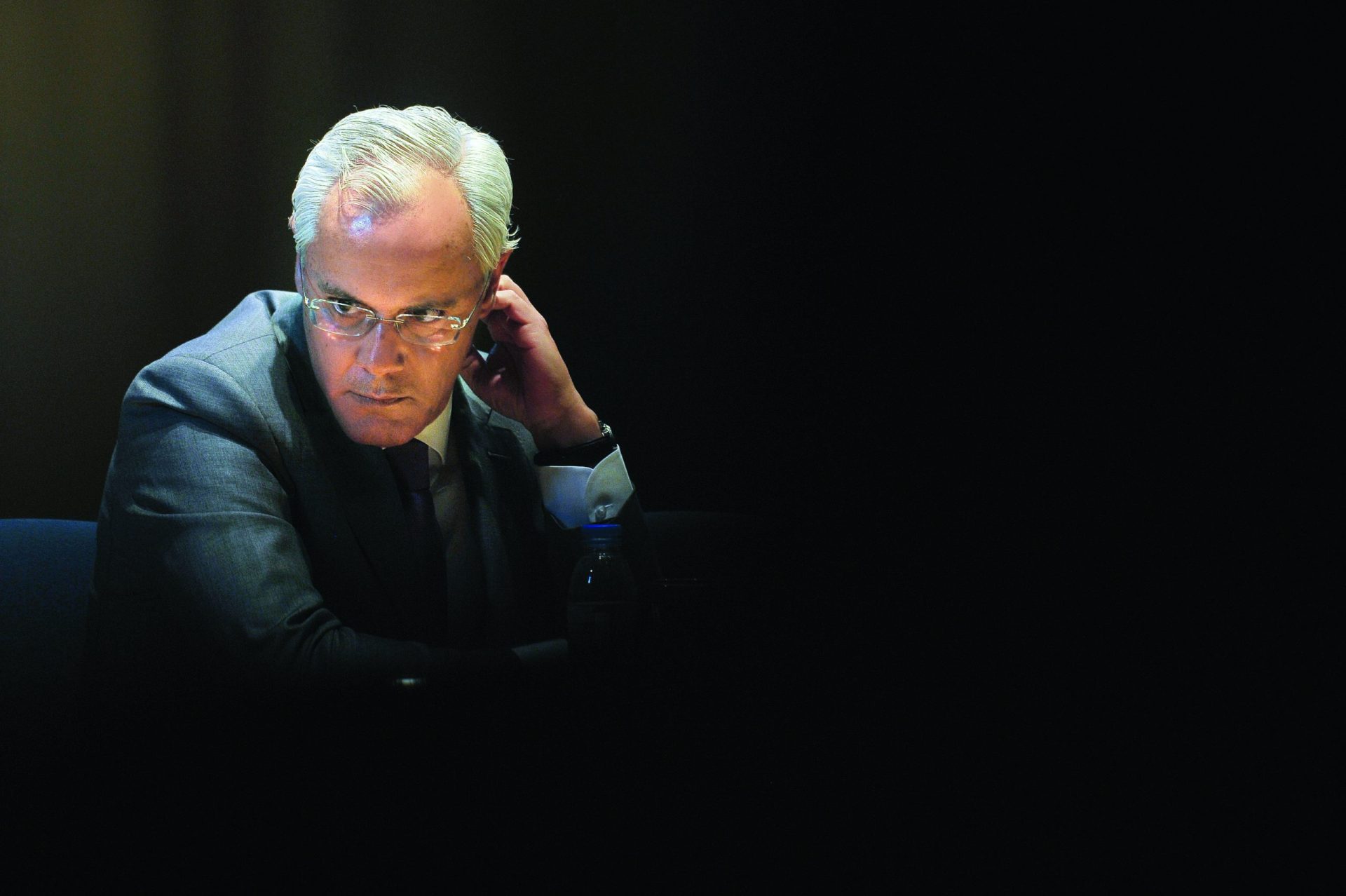Mais de um em cada sete crianças e adolescentes com idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos vivem com um distúrbio mental diagnosticado, sendo que quase 46 mil adolescentes morrem anualmente de suicídio, uma das cinco causas principais causas de morte no seu grupo etário.
Estas são as principais conclusões do relatório mundial ‘A Situação Mundial da Infância 2021 – Na minha Mente: promover, proteger e cuidar da saúde mental das crianças’, através do qual a UNICEF analisou a saúde mental das crianças, adolescentes e cuidadores no séc. XXI.
Apesar de esclarecer que «a pandemia de covid-19 levantou preocupações sobre a saúde mental de uma geração de crianças», a agência das Nações Unidas dedicada exclusivamente às crianças realçou que o surgimento e a vivência do novo coronavírus «pode representar a ponta de um iceberg de saúde mental – um iceberg que ignorámos por muito tempo». Ainda que esta seja uma realidade assustadora, globalmente, só 2% dos orçamentos públicos da área da saúde são atribuídos a despesas com a saúde mental.
E Portugal não é exceção. Em entrevista à LUZ, em outubro do ano passado, o psiquiatra Henrique Prata Ribeiro, quando questionado acerca do Programa Nacional para a Saúde Mental, lembrou que «a primeira tentativa de instaurar este plano aconteceu em 2007. Foi há muito tempo», realçando que «é preciso orçamento e as coisas não se fazem sem verbas atribuídas».
Os resultados mais recentes do estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), envolvendo 6 mil adolescentes portugueses, são um dos motivos que ilustram a perspetiva do médico, sendo que foi registado um decréscimo global acentuado da saúde mental e física dos inquiridos comparativamente com anos anteriores, existindo mais mal-estar psicológico, tristeza, stress e insatisfação.
Importa referir que um dos principais problemas notados em grande parte dos inquéritos e estudos nacionais e internacionais é o bullying que acontece em meio virtual. De acordo com um estudo do ISCTE intitulado de “Cyberbullying em Portugal durante a pandemia do Covid-19”, levado a cabo pela investigadora Raquel António, mais de 60% dos jovens foram vítimas de cyberbullying (mais do que uma vez) durante o período do primeiro confinamento, isto é, os meses compreendidos entre março e maio de 2020.
Segundo os dados veiculados, as principais vítimas desta prática são os estudantes LGBTI e aqueles que têm rendimentos mais reduzidos. Por um lado, mais de um quarto dos jovens que assumiram ter praticado cyberbullying apresentaram como principais motivações a diversão, a vingança e a necessidade de afirmação social. Por um lado, as vítimas evidenciaram os sentimentos de tristeza, irritação e nervosismo. Por outro, os agressores escolhem a indiferença, a raiva e a alegria como as emoções mais frequentes durante a prática de cyberbullying.
Contudo, com o levantamento gradual das restrições veio também o regresso ao ensino presencial e constatou-se que se 59% dos estudantes indicavam que tinham recebido mais mensagens com conteúdos violentos e prejudiciais, a percentagem daqueles que podem relatar episódios semelhantes – porém, que decorreram nas escolas – pode não ser tão distinta quanto imaginamos.
Em novembro de 2021, Marta Veloso, de 44 anos, estava de baixa por padecer de uma anemia grave quando o filho de 12 anos chegou a casa, vindo do Agrupamento de Escolas Madeira Torres, em Torres Vedras, visivelmente perturbado e ferido. «Apareceu com hematomas no braço e disse que tinha caído. No início, achei estranho – o choro compulsivo, magoado –, mas acreditei nele. Quando se manda um filho para uma escola, pensamos que estamos a mandá-lo para um sítio onde vai estar seguro, ser protegido, ser cuidado e não onde haverá uma situação de agressão de miúdos», avançou, à época, ao Nascer do SOL e ao i, contrapondo que «uma coisa é uma queda e pode acontecer com qualquer criança e, mesmo assim, pediria esclarecimentos por falta de supervisão».
No entanto, esta não foi a primeira vez que Luís Santiago foi vítima de bullying por parte das crianças que frequentam o 2.º ciclo do Ensino Básico consigo. No ano letivo passado, viveu algo com contornos menos preocupantes, de acordo com a mãe, mas «ficaram chateados porque afetou o ranking das escolas». «Falamos muito em violência doméstica, mas não vemos o bullying como uma agressão. Para mim, aconteceram vários crimes graves. E, para além da postura incompreensível da professora, a contínua apenas deu-lhe um chá para se ‘acalmar’», denunciou a progenitora que, primeiro, levou o filho ao Hospital de Torres Vedras, mas, posteriormente, o mesmo foi reencaminhado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e lá esteve internado durante longos dias.
Quando o Nascer do SOL e o i conversaram com Marta, Luís não podia ir à casa de banho nem levantar-se da cama «porque o ar podia espalhar-se para o resto do corpo», sendo que a mulher referia-se a um enfisema subcutâneo, uma acumulação de gases ou ar nos tecidos subcutâneos, produzindo protuberâncias, como nódulos móveis que geram sons crepitantes. «Tenho várias pessoas a dizer ‘Muda-o de escola’, mas nós moramos ao pé da mesma. É como na violência doméstica: porque é que as mulheres é que saem de casa?», perguntou a mulher que, atualmente, com mais de 22 mil seguidores na conta oficial de Instagram, luta para que mais nenhuma criança viva aquilo que o filho viveu.
Porém, três dias depois, um caso semelhante surgiu na Escola Básica e Secundária de Gama Barros, no Cacém. Ana (nome fictício), a filha de 10 anos de Joana Rodrigues, frequenta o 5.º ano de escolaridade, tem consultas de Neuropsiquiatria e Psicologia e tenta lutar contra as dificuldades de aprendizagem. No entanto, a menina sofre de Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA) «e, infelizmente, tem uma péssima autoestima, muita dificuldade em ser socialmente aceite no sentido em que faz tudo para agradar aos outros», sendo «muito boazinha, um amor de miúda, só que, lá está, gozam com ela, dizem que é burra porque não acerta nas coisas, etc.».
À época, a narrativa da criança era a seguinte: esteve com a mão muito tempo na cara. Como Joana não acreditou na sua justificação, contactou a diretora de turma – igualmente professora de Matemática – que depressa concordou que «a miúda é incapaz de estar sentada tanto tempo para ficar tão marcada». O problema é que Ana teve mais duas aulas depois da professora a ter visto alegadamente sem nenhuma marca no rosto. «Depois de insistir muito, disse-me que tinha sido um colega. Desentenderam-se, ele empurrou-a e ela deu-lhe um estalo na cara. E há uma menina que testemunhou tudo, mas a minha filha não sabe o nome dela», confessou a encarregada de educação, condenando a docente anteriormente referida por não ter ido à procura desta aluna nem ter feito perguntas às professoras das disciplinas – Educação Musical e Inglês – que Ana teve naquele dia.
«Eu sei que, naquela escola, há um menino que foi para o hospital por ter sido agredido. Ele saiu de lá de ambulância. Isto está a ganhar proporções drásticas. Não é só no momento, fica para o futuro. Que impacto vai ter isto no futuro dela? Hoje foi um tabefe e amanhã é o quê?», questionou, alinhando-se com a ativista dos direitos humanos Francisca de Magalhães Barros. «Foi um caso tremendo que me chegou às mãos e que nos faz questionar se os nossos filhos estão seguros nas escolas», disse, esperando que fosse feita justiça por Ana, Luís Santiago e outros meninos que vítimas de bullying.
Infelizmente, poucos dias depois, no início de dezembro, surgia outro caso alarmante: a frequentar o 1.º ano, Gustavo foi agredido pelos colegas até os genitais sangrarem. No Centro Escolar de Olaia e Paço, no Agrupamento de Escolas Gil Paes – em Torres Novas -, a criança acabou por ser brutalmente agredida por colegas mais velhos, no recreio. «Ele disse que foi só uma bola, mas, mais tarde, admitiu que lhe tinham atirado a bola de propósito à cara», explicou a mãe Inês Quintela acerca das reações do filho de seis anos.
«Fui buscá-lo e despi-o para lhe dar banho. Quando olhei para os boxers, estavam com sangue. E perguntei-lhe o que tinha acontecido. Quando ele puxou a pele do pénis para trás, estava tudo em ferida. Agarrei nele, enfiei-o no carro e fomos imediatamente para o hospital», contou, ainda com a voz trémula, acrescentando que a pediatra do hospital ao qual se dirigiram prescreveu medicação e disse que, por ela, avançava com uma queixa. «Comecei a chorar e a pedir-lhe para não fazer isso. E prometi que ia falar com a escola». E assim foi, mas os pais decidiram que a mudança de escola seria a decisão mais benéfica para o menino.
«O contacto presencial é essencial»
«Relativamente às crianças, tínhamos o receio de que a pandemia poderia ter um impacto. Aquilo que constatamos é que não houve porque elas são muito mais simples do que nós e o regresso à normalidade traz aquilo de que precisam», começa por afirmar Hugo Rodrigues, pediatra na Unidade Local de Saúde do Alto Minho, em Viana do Castelo e autor do blogue ‘Pediatria para Todos’.
«E o facto de estarem em casa com os pais pode ser interessante porque têm mais tempo do que antes. Em relação aos adolescentes, aquilo que vimos é que no primeiro confinamento não houve grande impacto, mas a partir do segundo vimos muito mais perturbações de humor, de comportamento alimentar – mais comportamentos restritivos e purgativos», explicita. Naquilo que diz respeito à primeira situação, é importante lembrar que, em agosto de 2021, o Público noticiava que «as perturbações de ansiedade às alterações do comportamento ligadas ao sono e ao apetite, passando, nos casos mais graves, pela ideação suicida ou pelos comportamentos auto-lesivos, a pandemia está a fazer aumentar a procura de cuidados pedopsiquiátricos». À época, o jornal deixava claro que no Centro Hospitalar Universitário do Porto, que integra o Hospital de Santo António, deu-se um aumento dos episódios de urgência superior a 95%, entre março e maio do segundo ano de pandemia, quando comparado com o mesmo período de 2019.
Volvidos três meses, o i contava que o Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise (CAPIC) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estava a registar um aumento mais acentuado nos pedidos de apoio e necessidades de intervenção em situações de crise psicológica em jovens, «uma tendência que já vem do ano passado e foi transversal a todos os grupos etários, mas nos jovens continua a ser mais pronunciada. Mais crises de ansiedade e de pânico e também situações de comportamento suicidário e suicídio consumado» preocupavam os responsáveis.
«No caso das perturbações do comportamento alimentar, numa primeira abordagem, os pais procuram ajuda porque os filhos estão a perder peso, deixam de comer, deixam alimentos em particular como os hidratos de carbono… É sempre tudo encapotado por frases como ‘Estou cheio’ ou ‘Não consigo comer’, mas os pais vão ficando cada vez mais alerta», assinala o também docente na Escola de Medicina da Universidade do Minho e formador pelo European Ressuscitation Council na área de Emergências Pediátricas.
«Não podemos esquecer que há automutilação associada a perturbações de humor: há depressão, dificuldade em gerir os sentimentos negativos, não estão presencialmente com os amigos, há quem tenha a sensação de exclusão… Tudo isto contribuiu para que os jovens começassem a lesionar o próprio corpo», sublinha o autor dos livros ‘Pediatra para todos’, ‘Primeiros Socorros – Bebés e Crianças’ e ‘O Livro do seu Bebé’.
Em novembro, a Fundação Francisco Manuel dos Santos divulgava os resultados da investigação pioneira ‘Os jovens em Portugal, hoje’ que representa 2,2 milhões de jovens entre os 15 e os 34 anos que residem em Portugal, analisando diversas temáticas do quotidiano destes como os valores e as formas de ser perante a vida, a família de origem, os amigos e a pessoa parceira, a formação, o trabalho pago ou os hábitos que têm. Enquanto 12% dos inquiridos já haviam auto-infligido lesões corporais, 8% tinham sofrido de transtornos alimentares.
Lidar com a morte enquanto nos agarramos à vida
«E há ainda dois fatores que temos de frisar: os adolescentes que têm medo da doença valorizam-na de uma forma diferente dos outros e alguns sofrem porque perderam familiares. O contacto presencial é essencial, precisam da sua normalidade de volta: tem condicionantes, mas como são poupados à doença grave, por aquilo que estudámos e sabemos, devem ser os menos penalizados», sendo que, no dia 1 de novembro, o i abordava precisamente esta questão, aprofundando a temática do luto em tempos de pandemia.
«A questão de como foi a morte, a possibilidade de não reconhecer o corpo, o seu ente querido, a dúvida efetivamente do que se passou e se efetivamente o familiar faleceu. Quando não há este contacto, fica sempre no imaginário como terá sido o fim», informava Mayra Delalibera, doutora em Psicologia da Saúde pelo Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida e Professora na Licenciatura e no Mestrado em Psicologia Clínica da Universidade Lusíada de Lisboa.
«A probabilidade de luto prolongado subiu para 60% quando costuma ser de 10-20%. Aquilo que percebemos é que as pessoas não acreditavam que a perda realmente aconteceu» e apresentavam os seguintes sintomas: o mal-estar, as dores no corpo e, quando pensavam em ir ao hospital onde a pessoa passara os últimos dias, tinham reações mais fisiológicas como sudorese e taquicardias, perturbações do sono, dificuldades em alimentar-se «e tudo piorava quando as já tinham distúrbios psicológicos, como histórico de depressão».
«A pediatria das doenças já não existe: temos uma pediatria cada vez mais holística», remata Hugo, pai de dois filhos – de 11 e 13 anos – e profissional de saúde que, devido à sua exposição mediática, recebe desabafos diariamente nas redes sociais. «Há pessoas a contactarem-me por causa da gestão do teletrabalho, de gerir o comportamento e a exigência dos filhos… Veem-se numa situação em que passam muitas mais horas com as crianças e os jovens. Honestamente, tenho pena de ser médico e não ter podido estar com os meus».
«Eu noto os mesmos problemas, mas já apareceram estudos que indicam que os efeitos da pandemia estão a ser mais visíveis nos mais jovens: não nas crianças, mas sim nos adolescentes e jovens adultos», afirma a psicóloga Mónica Nogueira Soares, que pode ser encontrada no Facebook na página ‘Mónica Nogueira Soares – Psicologia da Educação & Mediação de Conflitos’.
«Isto tem a ver com aquilo que a Organização Mundial da Saúde refere como sendo a fadiga pandémica. Faz sentido também abordá-la porque, no seguimento daquilo que estamos a viver, diz que isto é algo que temos de passar a interiorizar na saúde mental. Basicamente, é o estado de alerta em que vivemos por termos de estar com estes cuidados todos, termos noção da nossa segurança, pormos em prática tudo aquilo que nos dizem, etc. E isso leva-nos a estados de exaustão, maior ansiedade, maior ansiedade e até depressão. E as pessoas nem dão conta disto muitas das vezes», avança a doutorada em psicologia e membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses que é reconhecida pela mesma como Especialista em Psicologia da Educação e Psicologia Clínica e da Saúde.
«Quando falamos dos adultos, também se reflete na relação com os mais novos. E, se calhar, se há um cuidado maior em estarmos mais atentos às crianças, temos de fazer mais pelos adolescentes mesmo sabendo que têm acesso à informação. Se, por um lado, ter aulas online podia ser um fator protetor, para outros, este momento de confronto constante com as realidades pessoal e familiar pode interferir no bem-estar»,
A título de exemplo, no artigo ‘Impacto do Confinamento na Saúde das Crianças e Adolescentes Durante a Pandemia de COVID-19’, publicado em março de 2021 na Revista Científica da Ordem dos Médicos, é possível ler que, com base em 555 respostas obtidas, percecionou-se que «os pais ou cuidadores manifestaram-se preocupados com a falta de interação social, com o sedentarismo dos filhos e com o desinteresse pelas aulas não presenciais. Revelaram dificuldade em dar apoio quando se encontravam em teletrabalho (em cerca de 90% dos casos pelo menos um dos pais encontrava-se em teletrabalho».
«Há uns dias, vi uma notícia em que era explicado que em Espanha os números de suicídio são altamente assustadores e são superiores aos das mortes por covid-19 nos mais jovens. Se nos dizem ‘É preciso estarmos atentos, comprometidos com tudo o que são as regras de segurança’ e tudo o mais, há um impacto em todas as faixas etárias», garante a pós-graduada em Psicologia no Centros de Saúde e em Mediação de Conflitos em Contexto Escolar com certificações internacionais em Kids e Teen Coaching e em Educação Emocional de crianças e jovens, tendo também formação de Profiler.
«O facto de não se relacionarem tanto e os padrões de referência serem videojogos de violência, séries também… Se não houver a devida monitorização e integração dos conteúdos, se ninguém explicar como se deve lidar com as situações, os mais novos não conseguem enfrentar esta informação. E, no fim, podem integrá-los como modelos de ação seus e, quando chegam à escola, põem em prática os mesmos», narra Mónica, que ficou apreensiva ao ter conhecimento dos casos de Luís, Gustavo e Ana. «É que depois é difícil distinguir a realidade da ficção».
«A fadiga pandémica deve causar-nos a maior preocupação porque estamos nisto há quase dois anos e é muito tempo para estarmos sob este efeito de alerta. Francamente, e apesar de esta frase ser pessimista, acho que o pior ainda está para vir. Quando regressarmos à dita ‘normalidade’, as pessoas que não falaram sobre os receios, não verbalizaram as suas angústias, etc. vão revelar novos comportamentos, emoções… e tudo virá ao de cima», expõe a mãe de dois filhos – de sete e 11 anos – que tem vindo a refletir acerca das repercussões que o silêncio de muitos terá.
«Trabalho com pais que, muitas das vezes, me dizem que o filho está fechado no quarto e não o conseguem tirar de lá. E há o vizinho, o familiar ou alguém que diz ‘é da idade, é normal’. E depois chegam até mim numa fase mais difícil de ideação suicida, têm necessidade de medicação e quadros depressivos graves», argumenta a psicóloga que acredita que «temos de dar condições às famílias para haver este acompanhamento».
«A quantidade de pais que prefere não falar sobre temas mais difíceis, tornando-os tabu, não ajuda os filhos. Isto não faz com que os miúdos não saibam da existência de x ou y coisa e que não a façam. E estas serão absorvidas e vividas à luz daquilo que os jovens tiverem vontade de processar», menciona, adiantando que, se algum familiar conversar com o jovem ou a criança em causa «aumenta o conhecimento e permite que as tomadas de decisão sejam seguras e não à luz daquilo que o amigo diz ou acham que é melhor».
«Desde o início da pandemia, a saúde mental de quem já estava mal agravou-se muito. E há uma jovem que tinha traços depressivos, é uma menina que não se identificava com os amigos, era ir para a escola e regressar para casa, e aquilo que poderia parecer o cenário ideal – ficar em casa – revelou-se altamente perturbador», exemplifica, assumindo que teve de encaminhar a doente para um pedopsiquiatra pois esta encontrava-se «num estado depressivo muito grave», sendo que «uma coisa é a escolha dela, outra é ser obrigada a».
«E há um rapaz de 17 anos que era sociável, adorava sair, etc. e, com o confinamento, teve ataques de ansiedade com muita recorrência, chorava e estava mal. E, ainda hoje, o acompanho, já com o devido espaçamento, já não temos consultas com regularidade, mas é alguém que precisa deste espaço», afiança a também Professora Auxiliar Convidada na Universidade da Maia e na Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti.
«Ele diz mesmo que é o espaço seguro dele em que pode falar, expor as suas fragilidades, sem medo de ser julgado. E todos nós precisamos disto. Tenho um aumento de pedidos e aquilo que sinto é que se dá mais atenção à saúde mental. A pandemia foi levantando o véu desta questão. Basta ver o número de linhas de apoio que foram acionadas no primeiro confinamento», reconhece, lamentando, contudo, que «em termos de atendimento psicológico nos serviços públicos não se veja grande reforço: as consultas são com uma regularidade muito espaçada e, provavelmente, os utentes precisavam de um atendimento mais contínuo». «Não é uma crítica aos profissionais que fazem o melhor que conseguem, mas sim ao sistema. No entanto, vou percebendo que há um maior cuidado. Acima de tudo, tal como há um médico de família, devia haver um psicólogo de família».