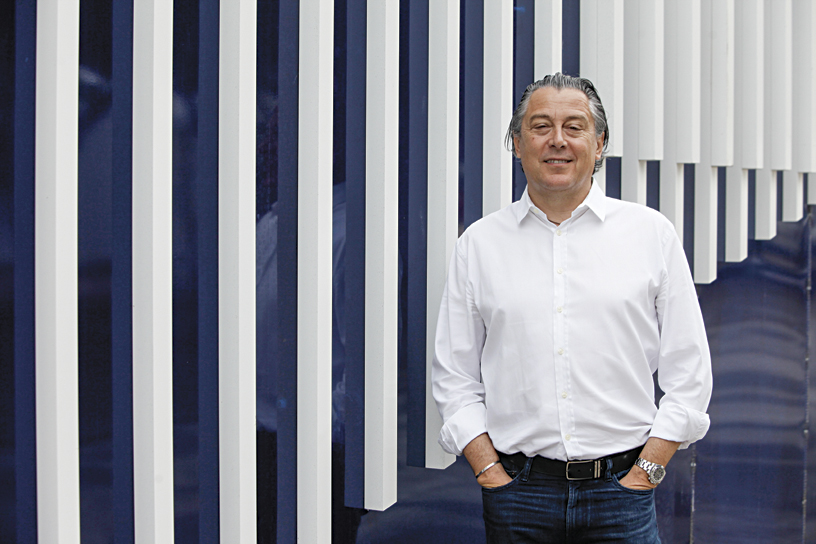É tão difícil começar a entrevista a Álvaro Covões como acabá-la. A duas semanas do começo do NOS Alive – data em que a conversa decorre – o recinto ergue-se da terra batida e ganha a forma que será definitiva de 12 a 14 de julho. Os bilhetes já estão esgotados e não apenas por turistas. Os palcos já estão nas posições, içados por gruas a rasgar os céus.
A Everything Is New, promotora que fundou em 2006 após a cisão com Luís Montez na Música no Coração, é, por estes dias, um escritório móvel instalado nos camarins. O telemóvel não pára de tocar. Em espanhol ou português, o modo é de agitação serena. Ano após ano, o NOS Alive é uma máquina cada vez mais oleada e afinada para receber 55 mil pessoas por dia. Quando a conversa se apresta para começar, o telefone toca de novo. «Desculpa, tenho de atender esta», solicita com a diplomacia habitual.
Álvaro Covões nunca perde a elegância. Nem o gosto por conversar. Nem sequer o gosto pelo jornalismo – é um dos muitos envolvidos no recém-fundado jornal Dia 15. E quando recebe duas chamadas consecutivas perto do final da entrevista, a recordá-lo de um almoço, o embalo das respostas não o deixa levantar-se. E mais tempo houvesse, outros tantos temas haveria para debater.
A uma distância tão próxima do festival, ainda se dorme?
Ainda se dorme. Quando trabalhamos em terrenos conhecidos, é sempre mais fácil. Uma sala de espetáculos nova envolve outra preocupação. É como um carro. Um carro novo não dominamos. Aqui, é a 12ª edição portanto estamos mais tranquilos mas é uma operação gigante porque se constrói aqui uma cidade. Agora, a ansiedade é um bocadinho difícil [de evitar] porque hoje temos Marilyn Manson, domingo o Lenny Kravitz e ainda faltam o Ozzy Osbourne; os Scorpions e os Kiss no Municipal de Oeiras.
Mas está aqui no recinto.
Sim, sim, nós mudamos sempre o quartel-general para aqui. Não só do festival, mas da empresa para estarmos juntos. Em grupo trabalhamos melhor.
É exagerado dizer que o ano da Everything Is New gravita em torno do NOS Alive?
É. O NOS Alive é o evento mais importante mas damos tanta importância a um espetáculo no Altice Arena como no Lisboa ao Vivo. Aliás, até nos dá particular gozo organizar espetáculos em salas mais pequenas como na Aula Magna, Coliseu, Lisboa ao Vivo ou Hard Club. Claro que ter um festival que conseguiu passar uma barreira que nenhum festival conseguiu – e estou à vontade porque trabalho nisto desde o início, em 1995 – nós sempre trabalhámos em função do pleno e o pleno é vender os bilhetes todos. No campeonato dos festivais de grande dimensão, só o NOS Alive é que conseguiu. Isso aumenta a ansiedade porque é o terceiro ano consecutivo em que conseguimos e se calhar vai haver um ano em que não vamos esgotar. Também depende da oferta. As pessoas que vêm ao festival têm outras opções, e não só de música. Estamos sempre a disputar o dinheiro das pessoas, que não é muito.
O desafio é manter, mais do que crescer?
Sim, claro. Aliás, muitas vezes a pergunta é feita: «Não equaciona aumentar a lotação?». Não, temos a dimensão certa para o lugar certo. Enquanto nos deixarem estar aqui, queremos continuar aqui. Apesar de o NOS Alive ser muito importante para nós, fazemos mais coisas.
É a dimensão sustentável?
É a dimensão certa para um festival. Temos 55 mil pessoas por dia e parece-nos ser a lotação correta. Há sempre momentos como [este ano] os Pearl Jam e os Arctic Monkeys em que toda a gente vai querer vê-los de forma confortável. Com uma lotação de 80 mil pessoas, não seria a mesma experiência. Este festival foi desenhado para o Passeio Marítimo de Algés e há uma química. Fazer maior era impossível e não imagino ser noutro sítio.
O recinto expandiu-se à medida que o festival ia crescendo. Este foi sempre o lugar certo?
Acho que sim. Na Região de Lisboa, Oeiras é o sítio mais central. Está equidistante. Aliás, Algés é metade de Lisboa. Há Lisboa e Loures para um lado, Cascais e Sintra para o outro, e ainda temos Amadora por trás. Estamos no coração da Grande Lisboa. É uma localização fantástica. Depois, estamos junto ao rio e ao mar. Até há aqui uma praia, a do Dafundo. A água já é salgada. É mar. Lisboa é a única capital da Europa que tem mar. Aquilo que diferencia Portugal e os portugueses dos outros países é que nós somos o povo mais aberto do mundo. Sempre construímos as capitais junto ao mar. Sem medo. Maputo, a Cidade da Praia, o Rio de Janeiro e Salvador – a capital, quando os portugueses lá estavam. Ao contrário de todos os outros países – alguns com capitais com rio – mas que sempre foram para o interior para se proteger. Nós não, é peito aberto. Foi sempre esse o espírito do festival.
Foi por isso que o Alive investiu tanto em comunicar para fora?
Isso tem mais a ver com o que se aprende na escola. Disseram-nos que há um mercado único europeu, o que significa que há um conjunto de consumidores que, apesar de viverem em países diferentes e falarem línguas diferentes, pertencem ao mesmo mercado. Para um país de pouco mais de dez milhões de habitantes ter massa crítica, precisa de ir buscar pessoas a outros territórios. Um país maior como a Alemanha vai buscar gente de toda a Alemanha. Se nos expandirmos, Espanha faz parte do nosso território. Hoje, com as novas companhias de aviação – que fizeram ligações entre cidades secundárias de outros países -, isso tornou possível a mais pessoas ter um voo direto para Lisboa. As viagens estão mais baratas. O alojamento local também nos ajudou muito. O homem do séc. XXI é o homem do conforto. Não é o homem de dormir no chão. Os airbnb e os hostels foram muito importantes. Se olharmos para festivais como Coachella, quase toda a gente fica em hotéis. Houve uma necessidade de complementar os portugueses com os estrangeiros. Portugal sempre foi um país de turismo. Não é um fenómeno recente. Sempre me lembro de se dizer que Portugal tinha dez milhões de turistas e de habitantes. Cometia era um erro, ser promovido como um destino de sol e praia. Somos tudo menos um destino de sol e praia, apesar de o termos. Quem procura sol e praia, vai para as Caraíbas, onde a água e as noites são quentes. Agora, Portugal tem outras virtudes que finalmente começaram a ser conhecidas no mundo mas há uma coisa que para mim é óbvia: aquilo que nos motiva a visitar uma cidade pela segunda vez é o conteúdo. E a música, e um festival, é um conteúdo. Trazemos pessoas que vêm para o NOS Alive e aproveitam para ficar cinco dias para conhecer a cidade. Temos vários estudos que nos dizem que quase 80% das pessoas que vêm para o festival, ficam mais tempo. Tem-se falado muito no preço. Na semana passada, estive em Madrid no Festival de Fado e um café expresso custa 1,10 €. Aqui custa 60 cêntimos. A vida ainda é um bocadinho mais barata aqui mas o que atrai as pessoas a países do sul é que até os festivais são diferentes. No norte e centro da Europa, começam às 11 da manhã e acabam às 00h00. Isso obriga a viver o festival e nada mais. Em Portugal e Espanha, só começam às 17h00 – os espanhóis, por causa do calor, chegam a começar só às 18h00 e às 19h00. E os mais resistentes ainda vão para o Lux. Isto é impossível lá fora. O festivaleiro aproveita o dia inteiro para usufruir da cidade. Por isso é que quando começámos a vender o festival, explicámos que se podiam fazer quatro coisas diferentes. E aliás, é a descoberta interessante de Lisboa ter praia. É possível ir surfar de manhã, ter uma experiência gastronómica ao almoço – e não só de chefs -, ou conhecer o nosso património. Isto é o segredo do sucesso. Os portugueses tomaram a dianteira mas os espanhóis já aprenderam. Tanto que este ano na Feira de Turismo de Madrid, eles têm sempre um tema para incoming e outro para outgoing. O do incoming era festivais de música.
O complemento dos estrangeiros é tão necessário hoje como foi nos últimos anos?
Não. No mundo global, não conheço ninguém em Portugal que faça um produto exclusivo para portugueses. O objetivo é trabalhar para o mundo inteiro. Este ano, quando anunciámos os Pearl Jam os portugueses correram para comprar bilhetes mas, para nós, importante é ter casa cheia. Para esta edição vendemos 16 mil bilhetes lá fora. Já foram mais, mas também porque os portugueses compraram mais cedo. E esgotámos em três dias, o que deixou muitos estrangeiros de fora. Nós já tínhamos sido o primeiro festival grande a esgotar um dia com muita antecedência. Lembro-me de se dizer na altura que era marketing. Ok, marketing. Não há bilhetes…Depois, esgotámos dois dias e de há três anos, os três dias. A tendência dos portugueses não é deixar para a última, é uma questão de poder de compra. De opções. Comprar para daqui a seis meses é deixar de poder gastar para hoje. Essa era a razão para os portugueses serem de última hora em relação aos festivais. A melhor semana de vendas era sempre a última. Ao esgotar, conseguimos reverter isso.
Nota otimismo?
Não, a realidade é outra. O NOS Alive é um sucesso e esgota mas a realidade dos espetáculos é uma tragédia. Quando o país está em crise, ouço sempre dizer que «os bons restaurantes estão cheios». Obviamente que os produtos de qualidade ou diferenciadores, têm público. Quando olhamos para um povo, temos de ver os hábitos e, segundo o INE, cada português gasta 8,5€ num espetáculo por ano. Isso nem chega a ser dois dias de tabaco para quem fuma. Ou uma semana de cafés, na base de um ou dois por dia. O NOS Alive é um sucesso mas Portugal ainda tem muito trabalho para fazer na criação de hábitos culturais. São os mais baixos da Europa. É uma oportunidade para os operadores. Para mim, o tema é financeiro. O cinema vende 15 milhões de bilhetes e os espetáculo 4,9 milhões. O preço médio dos espetáculos é de 17 euros e o do cinema de 5. O cinema vende três vezes mais porque é mais barato. É uma questão de preço. Os hábitos de leitura também são os mais baixos. As pessoas mais cultas, são mais interessadas. Os portugueses não têm hábitos culturais. As políticas culturais em Portugal falharam. Se pensarmos assim: qual é o artista português com menos de 40 anos e uma carreira internacional? Só existem em áreas não intervencionadas pelo Estado. No fado e na arte urbana. Tudo nascido da sociedade civil. Temos pessoas como a Carminho, a Ana Moura e a Mariza conhecidas em qualquer parte do mundo. Há alguma bailarina clássica? Um violinista? Um violoncelista? Um pintor? Um escultor? Não há nada. Onde o Estado meteu a mão, falhou. As políticas culturais assentam na educação. Fala-se muito no antes e no depois do 25 de Abril mas os conservatórios são os mesmos. Se o país evoluiu, devíamos ter quatro vezes mais! Falhámos! Não é o partido A, nem o partido B. É o sistema. Até os festivais que são um grande sucesso, saem da sociedade civil. Temos de criar hábitos de as pessoas irem à ópera, ao ballet, ao teatro; ler livros e jornais. É fundamental. Um povo culto é um povo livre e tem mais capacidades para vencer na vida.
A venda de bilhetes triplicou no dia da «Iniciativa 24 horas de cultura a 6%». Há-de querer dizer alguma coisa.
Claro que quer dizer. Se o IVA for 6%, nós recebemos o mesmo mas o consumidor paga menos. Em Portugal, para acedermos à cultura, por cada euro pagamos uma portagem de 15 cêntimos. Se isto são políticas culturais…Todas as atividades têm de pagar impostos porque não temos petróleo, mas quando olhamos para os números, alguma coisa está errada.
Em entrevista à Exame queixava-se de a «geringonça» não ter alterado as políticas culturais.
Para mim, foi uma surpresa o IVA da restauração ter sido reposto antes do IVA da cultura. Nunca pensei que fosse possível. É evidente que todos os setores são importantes mas, que eu saiba, é mais importante para o país a cultura do que a restauração. O mundo não pára se as pessoas não forem ao restaurante, mas muda se as pessoas não usufruirem da cultura. Não se pode confundir a necessidade humana de comer com restauração. O governo, e bem, repôs o IVA da restauração. O que não se compreende é como, na Assembleia da República, a cultura tenha ficado para trás. Todo o sacrifício pedido aos portugueses está a ser reposto. Menos na cultura. Se fosse a direita, ainda percebia. Agora a esquerda!? O mundo está todo ao contrário. Provavelmente, a cultura não dá votos.
É por isso que é apartidário?
Sempre fui. Só fui militante no final dos anos 70 e depois a política [dos partidos] deixou de me interessar. Dedicando-me a esta área, acho que contribuí para um país um pouco melhor. Numa área que me é particularmente grata, os políticos falharam. Todos. Aliás, nem há políticas culturais.
Não lhe passa pela cabeça passar para outro lado?
Não, ainda agora criámos uma associação de promotores em que temos uma larga representação dos maiores produtores desta área. Estamos a tentar mostrar que há vida para além do Estado. Na cultura, a ditadura parece que aumentou. O Estado detém a maior parte dos equipamentos culturais e define a sua programação. É um pouco estranho. Às vezes penso que controlar a programação é uma forma de substituir a censura. Não é deliberado mas parece.
O Estado tem uma visão demasiado elitista?
Só posso olhar para os números e aí falhou. Cada português compra 0,48 bilhetes para um espetáculo por ano. Portanto, as políticas falharam. Nem vou entrar na questão se devia ser Shakespeare ou Fernando Pessoa. Olho é para os números. Os portugueses têm hábitos de cultura? Não. Quem é o principal player? O Estado. Quem falhou? O Estado. Os jornais são privados. Quem falhou? As empresas de comunicação que não conseguiram contrariar a tendência. Se não há hábitos culturais, quem é que vai ler jornais? A cultura é a mais-valia de um povo.
A concorrência dos grandes festivais preocupa?
Em qualquer área, a concorrência é sempre saudável para as pessoas quererem ser melhores e fazer a diferença. Por exemplo, criar uma zona de grávidas parece insignificante mas é uma forma de fazer a diferença. Quando se fala em festivais, fala-se em cartaz mas depois há os pormenores. Às vezes, não é possível por uma questão financeira mas ter uma parceria com a EDP permitiu-nos ter uma casa de fados. E porquê? Para fazer a diferença em relação aos outros festivais. Nós fomos o primeiro evento a assumir um palco de comédia e é muito gratificante ver que se abriu um mercado. Hoje, grandes eventos como a Fatacil juntam comédia e música. Estamos a criar hábitos. Se calhar, houve pessoas a ver fado e comédia pela primeira vez num festival de música.
Estão atentos à concorrência? Em entrevista ao i, a Roberta Medina reparava que o Alive também tem uma Rock Street, apesar de elogiar o festival.
Não é uma Rock Street. Em 1999, fui à Disney em Los Angeles e reparei em ruas como as do faroeste e pensei que aquilo é que era o ideal. Recriar algo que tivesse a ver com a nossa cultura. É muito melhor ter uma rua cenografada do que um stand. O Rock In Rio foi o primeiro a fazê-lo em Portugal mas a inspiração foi a mesma. A roda já foi inventada há muito anos.
Quando o Álvaro e o Luís Montez começaram a fazer festivais em 1995 [ano do primeiro Super Bock Super Rock] sentiam-se aventureiros?
Completamente. Na altura éramos a terceira empresa e o mercado resumia-se a meia-dúzia de concertos ao longo do ano e três ou quatro grandes espetáculos nos estádios. Para ganharmos corpo, precisávamos de criar hábitos de consumo de cultura em concertos. E aí acho que tivemos um papel muito relevante. Por outro lado, para fazer um grande evento só fazer festivais em Portugal como Reading e Glastonbury. O Vilar de Mouros tinha sido fugaz e o mais parecido que havia, com regularidade, era a Festa do Avante. Com cariz político. O que era um festival na altura? Era um conjunto de artistas médios que valiam tanto ou mais que um artista de estádio. Foi um desafio atrair marcas para isto. Somar vários artistas e vender ao preço de um espetáculo… a relação entre o cachet e o preço é completamente diferente. Por isso é que os patrocinadores são tão importantes para subsidiar o preço do bilhete. Levei a ideia à Super Bock inspirado em dois case study mundiais: o Hollywood Rock, um festival brasileiro no Rio de Janeiro e em São Paulo patrocinado por uma marca de cigarros, a Hollywood. E o Rock In Rio que era patrocinado pelo Turismo do Rio de Janeiro. Dois produtos que associavam uma marca ao nome do festival e permitiram fazer um festival maior. Claro que foi uma experiência no início porque o português é um povo tramado e não alinha à primeira. Desconfia sempre.
Por isso tiveram de abrir portas no dia do David Bowie em 1996.
Isso foi um fenómeno estranho, sem explicação. Provavelmente, porque os portugueses gostam do David Bowie mas no fim do dia não tiveram vontade de comprar bilhetes. A questão de «abrir portas» não foi bem assim. Fez-se uma ação cruzada com a Super Bock em que os estudantes tinham entrada franqueada. Começar um projeto envolve sempre riscos. Como é possível ter estado tão pouca gente para ver o Paul McCartney na primeira edição do Rock in Rio? E é o Paul McCartney. E porquê? Porque era a primeira vez.
Com o Alive também foi assim?
Foi, claro. A primeira edição teve um resultado negativo de 1,4 milhões de euros. Mas era um risco calculado. Estávamos a investir. Só equilibrámos as contas na quarta edição.
Vê-se como um homem de números?
Todos os empresários de espetáculos são loucos. Não podem ser homens de números. Não é por acaso que os grandes grupos não têm uma divisão de espetáculos. Claro que tenho de ser uma pessoa de números porque as coisas precisam de ser estruturadas mas se fosse uma pessoa só de números, estava noutra atividade. È preciso ser louco. No bom sentido. Aliás, é preciso ser-se muito arrojado para ser empresário em Portugal. E ser empresário de espetáculos ainda pior porque muitas vezes concorremos com o Estado. Passei na Torre de Belém e vi um palco montado. É o Gilberto Gil, não é? [concerto de encerramento das Festas de Lisboa]. Assim as pessoas não dão valor. Não vejo o Estado a dar comida. Seria melhor o Estado financiar pessoas sem poder económico para comprar bilhetes do que oferecer espetáculos.
Ainda se emociona com um concerto?
Então não. Com o Leonard Cohen. Ainda agora com o Chico Buarque; Radiohead, Coldplay, com os Pearl Jam também espero que aconteça…e às vezes pequenas coisas. Ver uma Carminho no estrangeiro ser aplaudida por uma plateia em pé é emocionante.
Tem três filhos, dois deles trabalham consigo. Gostava que seguissem o seu caminho?
Gostava que seguissem o caminho que for melhor para eles. Não faço questão que sigam esta vida. O mais velho creio que sim. Os outros não sei.