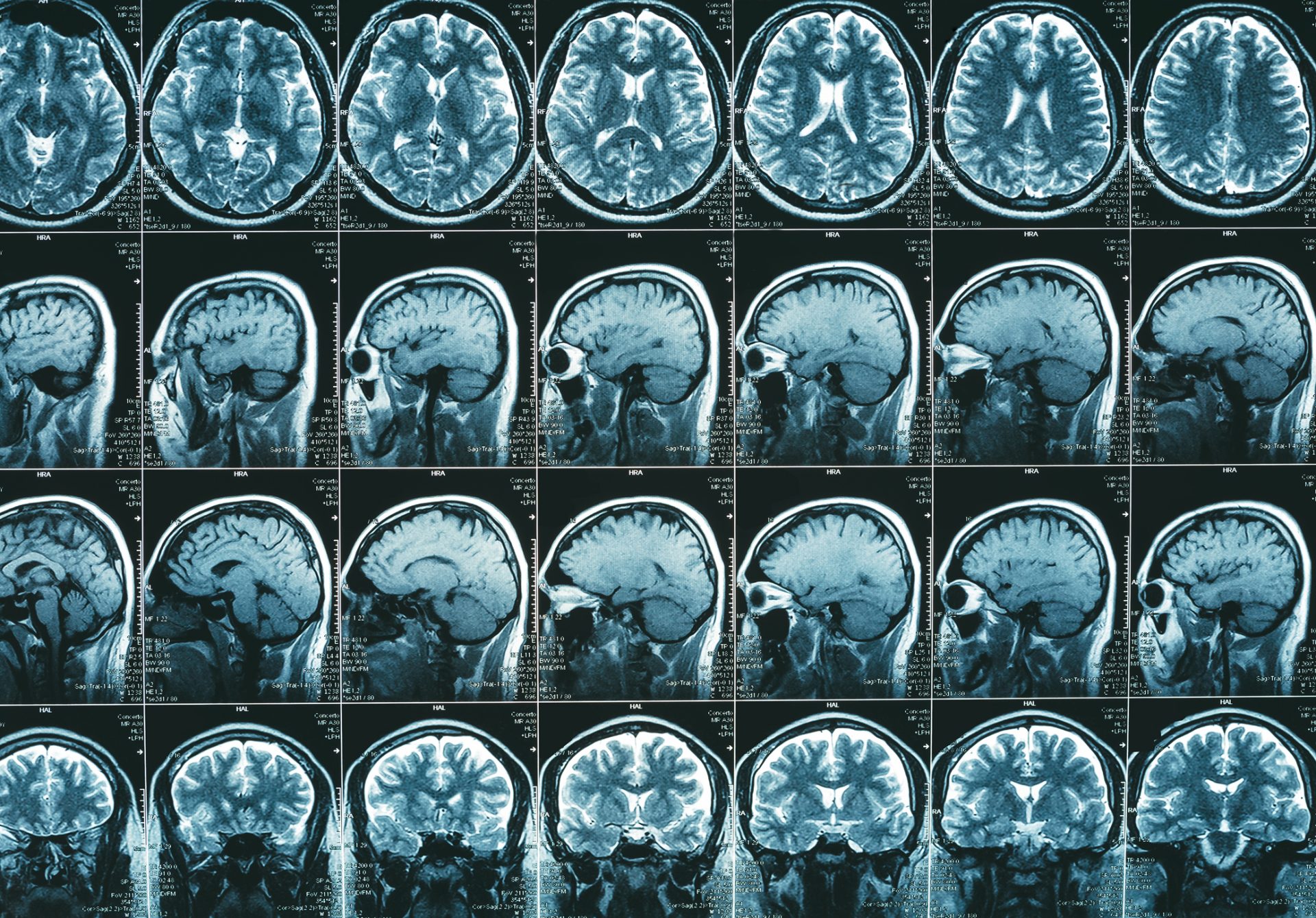Da luta nos bastidores ao apoio a doentes e trabalho junto de minorias. Luís Mendão é uma das figuras mais reconhecidas na luta contra a sida no país. Foi diagnosticado há 20 anos. Durante três, ninguém suspeitou do que tinha. A começar por ele, na altura já ativista na área direitos cívicos e sócio da Abraço. A ingenuidade acabou, de certa forma, por salvar-lhe a vida: quando foi internado, estava a surgir a terapia antirretroviral combinada, que mudaria o curso da doença. No Dia Mundial da Luta Contra a Sida, o presidente do GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos abre o livro de uma vida que mostra também o quanto a epidemia mudou. Mas a luta tem de continuar: para pôr fim à discriminação e eliminar a doença.
Que idade tem Luís?
Nasci a 31 de janeiro de 1958, tenho 58. Tenho no Facebook a idade, não escondo nada. A verdade é que muitas vezes digo que sou mais velho. Os anos com sida contam por dois, sinto-me como se tivesse 75 ou 80. Fui diagnosticado há 20 anos.
Quem era o Luís antes do VIH?
Estudei bioquímica em Lisboa, depois em Paris. Estive um ano em Itália a trabalhar numa vinha entre Florença e Siena, talvez a casa mais bonita onde vivi. Depois vim ajudar um primo a fazer uma discoteca, na altura uma coisa branchée.
Onde era a discoteca?
Chamava-se Belle Époque e foi das discotecas mais conhecidas na margem Sul. Durante 15 anos funcionou tão bem que acabei por me dedicar àquilo. Abríamos aos fins de semana, natal, Páscoa e nos meses de verão, o que nos permitia férias que nunca mais acabavam. Acabei por viver praticamente toda a década de 80 com seis meses de férias por ano.
Desistiu por completo pela bioquímica?
Sim. Quando acabei os estudos achei que não era suficientemente bom para fazer investigação e não queria dar aulas, foi aí que fui para Itália trabalhar. Fiquei a viver com uma família de quem gostava muito, uma mãe e três filhas. Namorava a filha mais velha e vim-me embora quando ela se apaixonou pelo meu patrão e a situação ficou tensa. Mas a vida dá muitas voltas e mais tarde acabei por casar com a irmã mais nova. De regresso a Portugal, e com o tempo livre da discoteca, que além disso me dava um vencimento maior do que tenho hoje, acabo por me envolver mais politicamente e em movimentos cívicos.
Quais eram as causas?
Cresci ainda no fascismo e fiz o liceu em Setúbal, uma zona muito politizada. Logo aí comecei a envolver-me nos movimentos cívicos antifascistas e depois no final dos anos 70 acabei por juntar-me ao Partido Radical, que tinha sede em Itália.
Fazia parte da luta armada?
Não, de todo. Apesar do nome, era um partido não violento, com uma filosofia gandhiana. Tínhamos posições fortes mas sempre pelo caminho da não violência. Era o momento alto das Brigadi Rossi e dos movimentos revolucionários armados, também em Portugal, e tínhamos grandes discussões com a extrema esquerda da altura. Organizávamos debates sobre o divórcio, o direito à interrupção voluntária da gravidez, o direito à objeção de consciência, pela luta contra fome. E, por fim, participei nos movimentos pelo fim da epidemia das drogas injetáveis. Era pelo radicalismo de esquerda, na aceção francesa do que é ser radical e não o entendimento que se tem hoje do extremismo de esquerda ou direita. Queríamos ir à raiz dos problemas.
Leia a entrevista completa na edição em papel do i desta quinta-feira.