Poderia perguntar-te, qual é que te parece mais importante, a grande História ou a pequena, a nossa… em que estás mais envolvida, as complexidades do mundo ou o nosso assunto, qual é a trama mais importante para ti?…
Sándor Márai, "A Gaivota"
A pergunta do narrador de Sándor Márai, na novela A Gaivota, creio ser mais pertinente do que parece, tanto no contexto da História europeia, como em qualquer outra geografia. Olhai para certas fotografias de cidades sob bombardeamento, como me lembro de ver uma de Londres, em que os cidadãos, após momentos do que supomos entre a vida e morte violenta, correm à rua e sentam-se a folhear e a ler os livros que transbordaram cá para fora com o desmoronamento dos prédios. Recordo ainda ler toda a obra do grande crítico e ensaísta americano Edmund Wilson, cuja consciência da História, lado a lado com o seu profundo americanismo, sempre havia tido a Europa no seu centro, quer a sua literatura quer as questões ideológicas que faziam estremecer as sociedades ocidentais desde a chegada de Lenine ao poder. Pouco diria ele – ele, que participou na I Grande Guerra – durante todo o conflito mundial, concentrando-se quase só em literaturas étnicas ou minoritárias que descobrira naquela altura, ou então em revisitações constantes ao melhor da literatura russa. Entretanto, era a vida quotidiana, como se mais nada de grande importância estivesse a acontecer no resto do mundo. Até mesmo na correspondência daqueles anos, ou no seu famoso diário organizado por décadas – The Forties, por exemplo – se encontramos muito sobre a guerra que viria a ser decisiva para nós todos, em qualquer recanto mundo. Só no depor das armas viajou por alguns dos países destruídos no velho continente, fazendo um balanço da catástrofe, mas mais ainda do estado literário entre as duas grandes guerras, com visitas a grandes escritores, como George Santayana. Nos nossos dias, por certo, esta atitude não será muito diferente na literatura criativa, aparecendo um outro romance de várias nacionalidades que têm como tema fundamental a grande destruição em curso, a incerteza política em toda aparte. A pergunta do narrador, na citação que faço aqui de Sándor Márai é ainda mais pertinente quando consideramos os anos da sua escrita e publicação, assim como o que poderemos considerar o seu cenário de fundo – o indivíduo perante e mesmo dentro das geografias em convulsão, como seria a Hungria naquele preciso momento da história europeia, e ainda mais o facto de o narrador ser, de certo modo ou insinuadamente, um dos participantes políticos em decisões de grave impacto, possíveis e plausíveis, no que respeita aos rumos dos acontecimentos portas adentro. A Gaivota é uma novela, mas por vezes na sua prosa deixa cair essa sua tendência na sua contundência narrativa, nalguns instantes quase lírica, na aparente busca de um romance de fôlego, ficando o leitor incerto sobre os possíveis significados das palavras trocadas entre os dois protagonistas, ou de certas acções que permanecem absolutamente obscuras, mas que sabemos ser de importância para o que esperamos acontecer, mas nunca se concretiza ou desenvolve. Suponho que uma novela também deve ser elíptica – pela natureza da sua forma – deixando ao leitor a tarefa de perceber todo ou qualquer mistério da sua linguagem, contida e metafórica. Diga-se ainda que, na leitura de uma obra desconhecida, como é para mim a deste autor, sigo um dos mais pertinentes postulados da nova crítica americana: esqueçamos a biografia, ou até mesmo contexto sócio-histórico, de uma obra literária e concentremo-nos na sua estrutura interna, avaliando-a pela sua capacidade de comunicar uma visão artística em harmonia formal, para além do espaço e do seu tempo, cada palavra ou frase transmitindo ironia, tom, e andamento temporal na recriação de universos paralelos. Lida assim, A Gaivota ultrapassa certas passagens que nos ficam em branco, mas o que nos oferece é precisamente esse momento revelador da “alma” dos seus personagens, no que um poeta chamou num dos seus versos o instante suspenso, esse estado de alma que só por si define todo um território e tempo.
A Gaivota é esse mundo visto ou apreendido nesse instante suspenso, um mundo de mistérios e sombras em tempo de guerra, uma espécie de poema filosófico que antecede o suicídio contínuo de uma civilização muito antiga, a Europa real e imaginária, os canhões em marcha e o poeta olhando pela janela à espera do seu destino. Não há trama aqui, há um longa conversa entre um alto funcionário de meia idade, num ministério do Governo em Budapeste, aliado do Eixo, e uma mulher jovem finlandesa à procura de exílio consentido, de nome Aino Laine/Única Onda, que lhe aparece inesperadamente pedindo ajuda na sua legalização no país a fim de exercer as funções de professora. Momentos antes da sua chegada ao ministério, o seu anfitrião tinha acabado de redigir e assinar um documento dirigido ao Ministro, que o narrador diz irá mudar o curso dos eventos trágicos para milhões de pessoas, e que mantém o leitor sempre à espera de saber o teor desse texto, ou então os acontecimentos que supostamente vai despoletar. Chegamos ao fim sem nunca descobrirmos uma coisa ou outra, mas creio que isso faz parte da intenção do autor – esquece os grandes e mesmo decisivos acontecimentos à tua volta, agarra o dia e a noite enquanto te é possível viver como queres ou sonhas. Eventualmente, saberemos de uma série de coincidências profissionais e pessoais que juntam o ministro e a finlandesa, mas antes disso acompanharemos os dois a uma ópera seguida de uma longa conversa no apartamento luxuoso do seu momentâneo tutor e possível amante. Li algures que esta é outra peça literária de uma burguesia europeia entre uma guerra e outra, uma burguesia de braços caídos em perpétua saudade de uma Europa, que ela própria constrói e cria um mundo de arte e beleza para depois queimar tudo à sua volta. É isso que sobressai em primeiro plano desta breve narrativa – a condição existencial do momento, os valores da sobrevivência, contra a fatalidade da guerra e do desespero. A beleza e sensualidade da mulher aqui representada é como que, ante o funcionário ministerial húngaro na noite da sua longa conversa, a única justificação para se estar vivo. Aino parece-lhe quase como um fantasma que ele julga ser o regresso de uma outra mulher que ele amara, e que se suicidou há uns bons anos. O simbolismo e metáfora são um só elemento portador do que nos parece ser a intenção temática desta novela – o jogo de espelhos que tanto leva ao engano e à morte nações inteiras, como poderá levar ao suicídio os seres que amamos, sem que nunca os possamos proteger do seu e nosso destino. Nunca saberemos quem Aino é verdadeiramente, mas isso só reforça o que venho dizendo aqui na minha leitura de A Gaivota – não importa se nela vemos a beleza e a possibilidade do amor, não importa se tudo está condenado às chamas ou ao esquecimento, importa a visão, por mais breve que seja, do outro lado do inferno. No fim, Aino parte, sem mais nada explicar, disse de onde vinha mas não para onde ia agora, ao seu anfitrião resta-lhe espreitar a sua partida por uma ponte congelada sobre o Danúbio, onde só as gaivotas sobrevoam a brancura de vida e morte, a cidade pelo meio indiferente ou ameaçadora na História e da consciência magoada e solitária que nela habita.
“Apaga a luz – diz o narrador do governante, quando Única Onda deixa o seu apartamento luxuoso – do candeeiro e abre a janela. Lá fora na rua escura está a nevar. Em baixo, a afastar-se, a figura branca e esbelta avança apressadamente entre flocos de neve. Consegue vê-la, por um instante, na esquina, por baixo da luz obscura do poste de iluminação, através do véu mágico e reluzente dos flocos de neve. Vai em direcção ao rio com passos enérgicos, flutuantes. Anda com ligeireza por cima do manto branco, como se isso fosse um elemento familiar. Dobra a esquina e desaparece”.
Parte da narrativa pertence à voz de Única Onda/Aino, quando ela conta ao seu anfitrião a sua passagem pela França nos dias que antecedem a entrada dos alemães, e depois de abandonar a Finlândia e a destruição da sua casa de nascença. Mulher bonita, inteligente e culta, tinha acompanhado um escritor a um jantar num hotel de luxo e tradicional algures no interior do país, precisamente nos dias que precederam a invasão alemã, e o grupo de políticos, escritores e outras figuras da alta sociedade que actuavam e falavam como se o seu mundo vivesse na normalidade, a burguesia bem intencionada a pretender que o que se passava na Europa não era com ela, ou, nesse seu fingimento masoquista, que tudo permaneceria sem grandes sobressaltos. A memória histórica está aqui deliberadamente ausente, o esquecimento um outro modo de negação a que as classes dominantes se rendiam. A melancolia do velho continente metaforizada no relato da finlandesa, nas cenas de um banquete e do luxo em que decorre o jantar desta elite, que depressa iria tolerar o jugo do seu histórico inimigo do outro lado da fronteira. O sentido da História trágica de uma civilização decadente que vive desde há séculos o melhor e o pior da humanidade. Arte e morte, vida e sombra, o perpétuo voo da gaivota sobre um rio congelado em busca da salvação.
Sándor Márai abandonou do seu país em 1948, aquando da chegada do comunismo a Budapeste. Suicidou-se em San Diego, na Califórnia, em 1989, pouco antes da queda do regime comunista na sua pátria, já em idade bem avançada, depois de todas as perdas pessoais e nacionais. Estava canceroso, e o círculo fechava-se para sempre. Sándor Márai pertence a uma época e grupo de escritores europeus do entre-guerras, que viram a catedral a arder, mas salvaram a sua memória na arte e no canto.
___
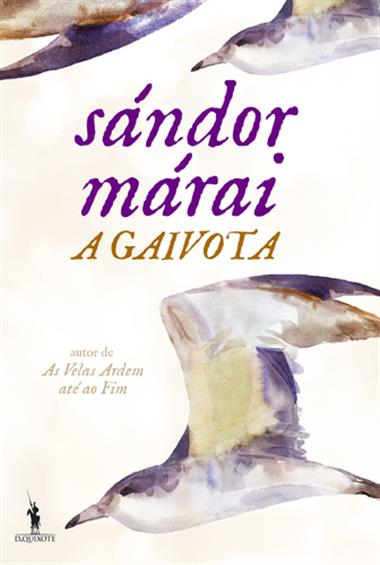
Sándor Márai, A Gaivota (tradução de Piroska Felkai), Lisboa, D. Quixote, 2016.












