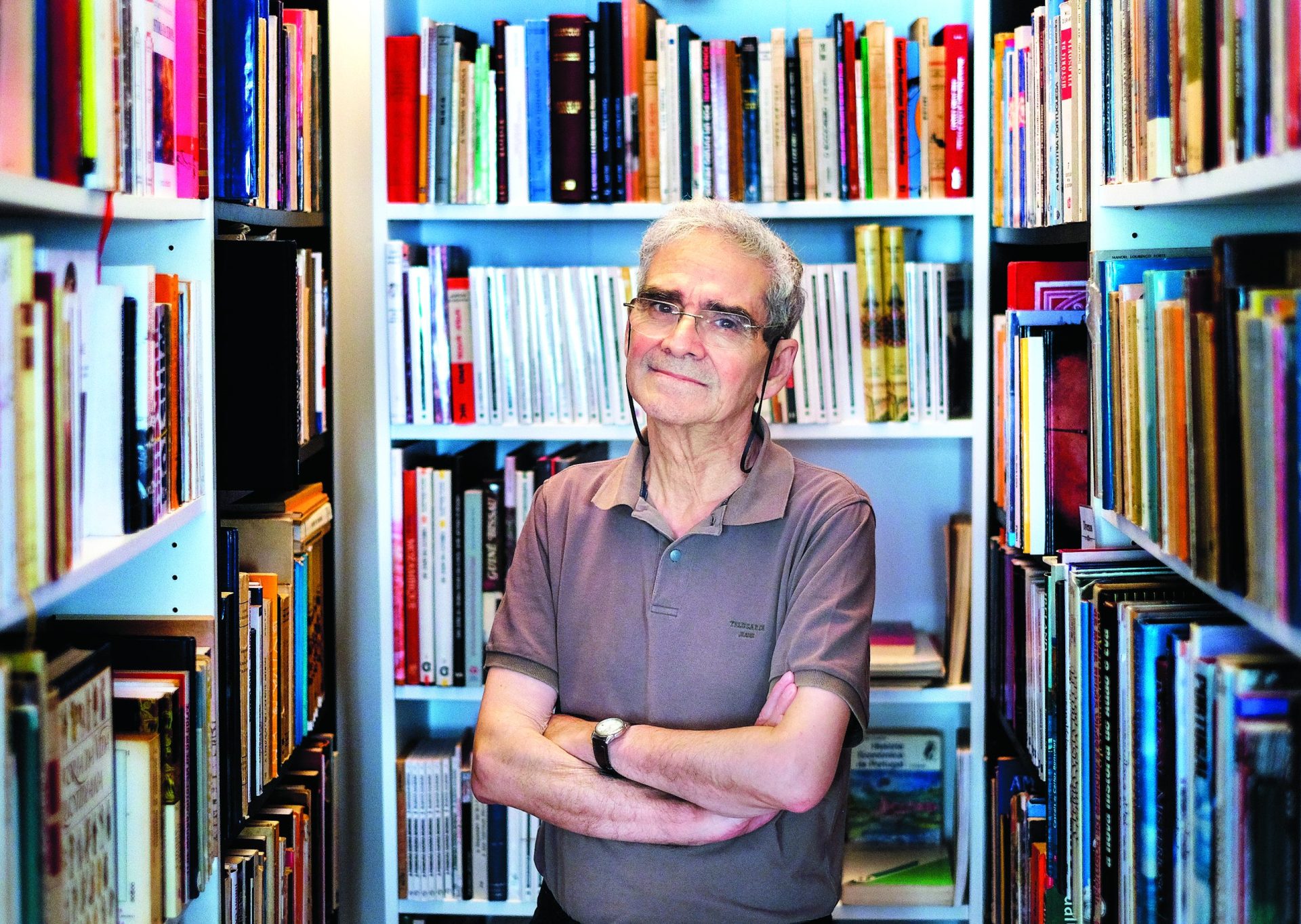Bem-vindo a bordo de um livro que nos embarca numa viagem de longo curso, tão estranha quanto necessária, desenrolada numa temporalidade não reconduzível a uma linha sossegadamente horizontal. Destino: Tebas, uma cidade-símbolo tanto mais fugidia quanto mais importaria alcançá-la. Prepare-se para percorrer séculos recuados da história dos homens, para atravessar regiões deste mundo e de outros, para pular de era em era, de estória em estória, de mito em mito, de assombro em assombro. E para convívios imprevisíveis com os clássicos da língua. Ponha de parte o cinto e demais atilhos que nos prendem à realidade, situada a muitos furos de distância dos territórios que aqui se mapeiam.
A reedição de “O Livro Grande de Tebas, Navio e Mariana” corresponde a um acontecimento editorial tanto mais assinalável quanto se sabe que, sendo o terceiro publicado pelo autor, ocupa, na cronologia da sua escrita, um lugar inaugural. É o arranque romanesco de uma obra sempre sintonizada com o genuíno curso do seu tempo, desde o primeiro momento resistente à corrente dominante da ficção portuguesa, então absorvida na reescrita da História.
O prefácio que Manuel Frias Martins assina, espécie de índice de rumos e perspectivas de análise, é uma boa porta de embarque no universo temático e estilístico da ficção de Mário de Carvalho.
Um aviso à navegação: não é obra para bagagem breve, wikipédica mala de mão, saberes de pequeno formato. Apela antes a uma substancial bagagem, do imaginário mítico e histórico-cultural português e ocidental à multissecular tradição literária, espécie de grelha ou matriz articulada a um espaço de subversão. Na ausência dessa bagagem, pode bem acontecer termos na mão os elos da nossa tradição – as cantigas de amigo, Gil Vicente, Camões … – e deixar escapar o fio que tanto procuramos. Ou darmos de caras com Ulisses (ou algum duplo dele) e não o reconhecermos apenas porque mudou de farpela, perdeu artifícios, a facúndia, a autoridade, a aura ou o tino. O narrador-viajante não esconde a sua decepção: “Esperava eu uma majestade solene, de grande brandura e finos, hieráticos gestos. Dou com um oriental decrépito, tartamudo, de olhos fendidos, mortiços, sorriso largo, infixo, vestes açafrão confusas, complicadas de definir.”
Ao “Livro Grande de Tebas” apetece chamar OLNI – Objecto Literário Não Identificado. Livro inclassificável este. Não é uma colectânea de histórias de delírio e mitos expurgados da sua seriedade anacrónica. Não é um compêndio de História devassada. Não é uma peregrinação, muito embora a voz do narrador-viajante, em certos momentos, evoque a de Fernão Mendes Pinto, também ele implicado numa empresa histórica, colectiva. Não é uma paródia da odisseia homérica, sendo certo que a reescreve. Não é um catálogo de imagens de mestria na aventura da escrita. Não é uma biografia da Humanidade. Não é uma carta de impossível achamento. E também não é um romance, mesmo que deste tenhamos um entendimento aberto. Nada disso e tudo isso.
E também não é um programa de escrita posto à consulta daquele leitor escrupuloso que sempre faz questão de apurar se o autor está ‘conforme’. E no entanto, nele se encontram as linhas matriciais de tudo quanto Mário de Carvalho depois escreveu: livros de contos, romances, peças de teatro, guiões para cinema. O próprio, aliás, confessa que está “todo por lá”. Aqui se apresenta o autor dos “Contos da Sétima Esfera” na sua vontade narrativa (e subversiva), na sua ironia cativante, no exercício da arte maior de ‘misturar’, no gosto de localizar acções em épocas históricas diversas, muitas vezes imaginando países, eventos e nomes bizarros, num absoluto alheamento face a um realismo de estrita observância. Aqui se apresenta, enfim, aquele que antes mesmo da década de 80 já era escritor. Quem o diz é Manuel Frias Martins, um dos Quatro Elementos Editores, grupo de amigos donde emerge o ficcionista.
O estatuto de excepção deste grande livro (Freud haveria de saber explicar o lapso), amálgama de Livros, é determinado por aquela característica do romanesco que o torna capaz de engendrar figuras que reconfiguram a lei e ao mesmo tempo a suprimem.
Como toda a viagem, também esta travessia do Tempo e da História envolve os seus meios de deslocação, facultados pelos avanços e retrocessos do mundo e consentâneos com a morfologia imaginosa do terreno ficcional em que nos movemos. Sobressai um autocarro tomado na Síria, “viatura enorme, construída de restos de outros carros […] Apertado, segue um grande ror de gente, diversa no trajar e cor da pele, confusão álacre de tribos várias, vidas distintas, multiplicadas religiões”, a fazer soar a buzina de Babel, o Navio que o título anuncia (“um navio-resumo de todos os navios que em todos os tempos houve”), Nau dos Loucos incluída. E, claro, esse outro veículo que herdámos de Camões, a língua portuguesa, manejada com desenvolto domínio numa escrita de grande fulgor que nos restitui a pulsação incessante da linguagem, que, à imagem de uma onda, flui e reflui, expondo-se segundo nós de intensidade que excedem toda a compostura social das palavras e a ordenação convencional da realidade.
Quando, chegado ao final do volume, o leitor – que em bom rigor a Tebas nunca chega – alongar os olhos, a avaliar a distância percorrida, verá que não perdeu a viagem. Bem ao contrário.