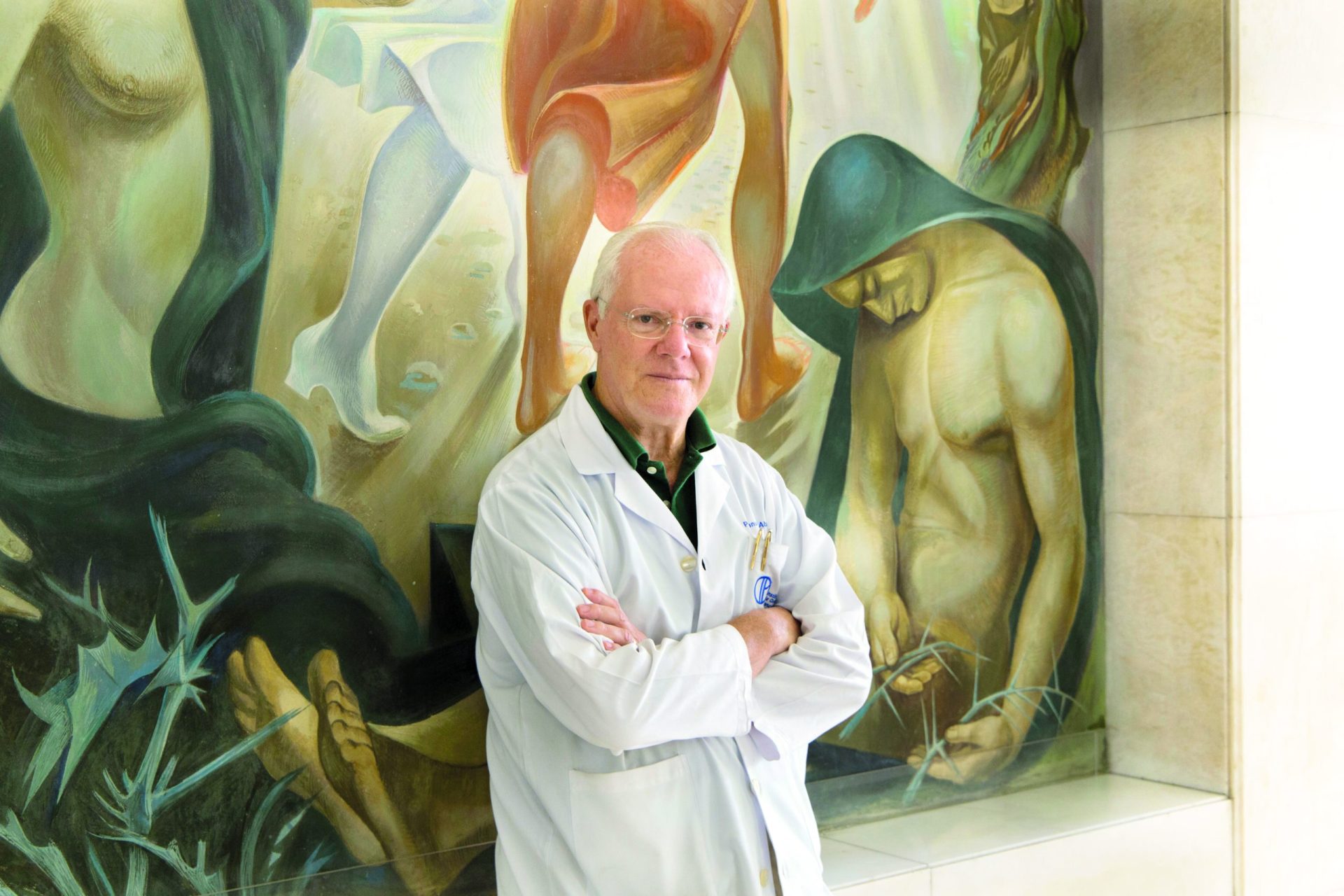O primeiro transplante de medula no país aconteceu a 28 de maio de 1987. Para trás tinham ficado dois anos de preparativos no IPO de Lisboa, um compasso de espera necessário mas algo sufocante, lembra Manuel Abecasis, o médico responsável pela Unidade de Transplantes de Medula (UTM) e que trouxe a técnica para Portugal. Ao regressar do estrangeiro nesses idos da década de 80, foram tantos os bloqueios que pensou em voltar a ir embora, mas o instituto viria a abrir-lhe as portas praticamente de um dia para o outro. Hoje seria mais complicado, admite, mas o trabalho está feito, e em 30 anos somam mais de 1800 transplantes. Esta semana, o IPO de Lisboa apresentou um livro de tributo com as histórias de 30 doentes. Em abril deverão estar concluídas as obras de remodelação da UTM, que vai ter espaço para mais doentes e transplantes. Para Manuel Abecasis, era o passo que faltava numa vida dedicada à medicina no SNS, com a sua dose de sacrifícios e a recompensa em todos os doentes que se curaram, alguns de forma surpreendente.
A medicina foi uma vocação precoce?
Acho que foi. Na altura chegávamos ao 5.o ano do liceu e tínhamos de escolher entre ciências e letras. Escolhi ciências já a pensar nisso.
Havia essa tradição na família?
A minha família era sobretudo de engenheiros até à geração anterior à minha. O meu avô era engenheiro, assim como o meu pai e os meus tios, à exceção de um, que era pediatra. O meu pai disse a certa altura: “Se quer ir para Medicina, fale com o tio Manuel.” Falei, mas de tudo menos medicina.
Anos 60?
Sim, entrei para a faculdade em 1968. Tinha 16 anos ou 17.
Na altura era uma profissão de maior prestígio?
Sim, mas exigia bastante dedicação e estudo, pelo menos para quem quisesse exercer de forma coerente.
Ainda não era preciso ter uma média alta para entrar.
Não. No meu ano, aqui em Lisboa fomos mil e tal alunos. Havia um interesse grande em formar médicos porque havia a Guerra do Ultramar e não havia numerus clausus, só apareceram mais tarde. Mas não chegávamos todos ao final. Entrávamos 1200 e chegavam ao fim de curso uns 300.
Qual era o cadeirão?
Anatomia. Tínhamos de saber tudo. Em Lisboa havia outro cadeirão que era Química Fisiológica, os mecanismos do metabolismo celular. Tínhamos o prof. Gomes da Costa, que tinha muitas manias. Fazer a cadeira dele na primeira época era quase impossível. Eu, por acaso, fiz e passei.
Tinha jeito para esses pormenores do organismo?
Gostava e consegui perceber. Mas houve um pormenor curioso: isto foi em 1971 ou 1972, o meu pai ia em trabalho a Moçambique e convidou-me para ir. Foi por isso que pedi o exame na primeira época, que era uma coisa que ninguém fazia. O professor ficou convencido de que eu ia para o Ultramar, que tinha sido mobilizado.
Foi por isso que passou?
(risos) Não sei. No fim do exame deu-me os parabéns e disse: “Boa sorte, meu rapaz.”
Os estudantes eram mobilizados para a guerra?
Se a pessoa estava a estudar e tinha aproveitamento, não, interessava-lhes ter pessoas para exercer.
Era o início de alguma agitação política e a Faculdade de Medicina de Lisboa era um desses polos de oposição ao regime.
Sim, o ambiente académico era muito agitado. Nunca me senti particularmente injustiçado para ir para lutas políticas, mas vivíamos esse ambiente. Uma das minhas colegas de curso era a Sita Valles. Termino o curso em 1974, no ano da revolução.
Viveu a revolução com entusiasmo?
Sim, mas com alguma preocupação. O grande receio que havia já na altura era que a revolução fosse dominada pelo Partido Comunista e pela esquerda radical. Em 1975, o país ficou fraturado, na iminência de uma guerra civil, com o PCP a tomar conta do Estado e apoiado pela ala radical do MFA. Estivemos em grande risco de ter uma ditadura totalitária comunista e acho que aí houve várias pessoas que contribuíram de uma forma que tem de ser reconhecida. Lembro-me da intervenção do general Ramalho Eanes para dominar a insurreição em novembro e do comandante Jaime Neves, que dominou os quartéis comunistas, e de Mário Soares com o celebre debate com Álvaro Cunhal.
Seguia tudo?
Sim. Foram momentos vividos com um enorme dramatismo. A última coisa que penso que a maioria dos portugueses queriam era que, tendo saído de um regime muito autoritário, fôssemos cair noutro regime ditatorial e implacável. E aquela fragilidade do Otelo Saraiva de Carvalho, um homem que não tinha praticamente cultura política e que se deixou desvanecer pela aura da revolução… Foram períodos difíceis.
Viria a conhecer essas figuras na sua vida de médico?
O general Spínola foi meu doente durante vários anos, tinha uma doença de sangue que, felizmente, não era grave. E vim a conhecer Otelo Saraiva de Carvalho, tratei o filho dele, e felizmente as coisas correram bem. Lembro-me de uma cena caricata. Na altura, eu era consultor de hematologia no Hospital de Santa Cruz e tinha uma tarde de consulta lá, e houve um dia em que, na sala de espera, coincidiram o general Spínola com Otelo Saraiva de Carvalho, e criou-se ali um ambiente pesadíssimo, com as pessoas a ver aquelas duas figuras uma ao lado da outra, ainda que se tenham cumprimentado. As secretárias vieram dizer-me: “Veja lá, não marque os dois para o mesmo dia.”
Aconteceu-lhe outras vezes encontrar pessoas do seu imaginário?
Acontece, não vou dizer nomes. Mas lidamos com pessoas com uma vida pública intensa, com tudo o que isso implica em termos de discrição.
São pessoas que, por vezes, têm um papel ativo na sensibilização para o cancro.
A doença é difícil de gerir para qualquer pessoa, mas para estas deve ser bastante mais difícil. O notável é como algumas, reconhecendo a gravidade da doença, conseguem transmitir uma mensagem de esperança e força para outras pessoas em situações semelhantes.
Voltando ao final de curso, na altura já sabia que ia querer ser hematologista, trabalhar com as doenças do sangue?
Não sabia bem o que queria. Podia ter sido pediatra, como o meu tio. Gostei imenso de neurologia e também de cardiologia. Mas depois tive contacto com hematologia que, na altura, ainda não era especialidade. Tive o prof. Ducla Soares, que era um homem brilhante, pai da escritora Luísa Ducla Soares.
Brilhante porquê?
Na forma como observava os doentes, no raciocínio. Era internista, mas era ele que dava Hematologia no curso. E depois houve um fator de natureza pessoal nesta minha escolha. Tinha um primo da minha idade que morreu com uma leucemia no instituto.
Quando eram crianças?
Andávamos no liceu. Ele tinha uns 14 anos, e eu aproximadamente a mesma idade. Lembro-me de vir visitá-lo aqui ao instituto, fez-me uma impressão enorme. Na altura não havia tratamentos para as leucemias agudas. Não havia transplante e a quimioterapia estava mesmo no início.
António Gentil Martins costuma lembrar que 80% das crianças com cancro não sobreviviam.
Era assim, e nesta área evoluímos imensamente. Hoje, a percentagem é o contrário: 80% das crianças com leucemia ficam curadas. Para isso foram necessárias varias décadas, a introdução de vários medicamentos. O tratamento da leucemia aguda da criança é um caso de êxito nas doenças oncológicas.
O maior êxito?
Penso que sim, um dos maiores. E é um tributo aos investigadores e médicos que se dedicaram ao tratamento da doença e que, por tentativa e erro, conseguiram ir melhorando os resultados até se chegar onde se chegou. Hoje, a maior parte das crianças são curadas com transplantação.
Dessa visita que fez ao seu primo no princípio dos anos 60, que imagem guarda do IPO de Lisboa?
Um local um bocado assustador, cinzento. Ele estava num quarto sozinho, grande.
Em isolamento?
Não se fazia isolamento. Estava num quarto, cheio de febre, muito, muito doente. As coisas evoluíam muito rapidamente. As leucemias eram tratadas com cortisona e um medicamento chamado vincristina. A doença tinha boa resposta ao início, mas rapidamente o doente se tornava resistente e as coisas evoluíam de forma catastrófica.
E o instituto era muito diferente? Por fora, está parecido.
Por fora, está igual. O edifício de rádio, onde estamos, é dos mais antigos, mas foi renovado por dentro e mesmo o edifício central tem sido remodelado. Tem um aspeto mais acolhedor, menos dramático.
Há um ambiente menos assustador?
Em relação ao que havia na altura, acho que sim. A envolvência física tornou-se mais alegre, com cores mais claras. De certa forma, acompanhou a evolução do prognóstico da doença.
Quando terminou o curso foi logo para o estrangeiro?
Primeiro fazíamos o internato médico: em 1975 estive em Santa Maria, no Curry Cabral, na Alfredo da Costa. E depois fiz o serviço médico à periferia na Madeira.
Havia muita pobreza?
Não tem nada a ver com o que é a Madeira hoje. Para irmos do aeroporto ao Funchal demorávamos três horas, o que hoje se faz em 20 minutos. Tínhamos de assegurar a cobertura médica numa série de postos ao longo das povoações da costa sul da ilha e tínhamos um hospital de base na Calheta. Do Funchal lá eram duas horas, e depois fazíamos essa rotação, da Ribeira Brava à Ponta do Sol.
Encontravam doentes que viam um médico pela primeira vez?
Sim, acontecia. No Paul do Mar, quando lá chegámos em 1977, foi o primeiro ano em que abriram uma estrada. As pessoas dali iam ao Funchal de barco.
E como estavam de saúde?
Nós aparecíamos como médicos recém–formados, generalistas. Havia de tudo, diabetes, hipertensão, depressões, problemas que não estavam a ser minimamente acompanhados.
Tratavam-se com mezinhas?
Sim. E havia uma linguagem muito característica. Lembro-me de uma senhora me entrar no consultório e dizer que tinha uma pregadura no bico da pá.
Era o quê?
Uma dor nas costas – o bico da pá era a omoplata. Houve uma altura no Paul do Mar em que, por qualquer razão, deixou de haver apoio de serviços veterinários.
Eram médicos das pessoas e dos animais?
Sim. Íamos ao matadouro ver as vacas abatidas e dizer se podiam ser consumidas ou não. A certa altura começámos a explicar às pessoas que era fácil, era olhar para os pulmões e para o fígado e ver o aspeto.
Mas vocês, meninos de Lisboa, estavam contentes com o valor que vos davam ou pensavam que estavam no fim do mundo?
Foi uma experiência fantástica e fez-nos crescer. E a mim deu-me outra coisa: conheci a minha mulher na Madeira. Ela também era de Lisboa, mas estava deslocada a dar aulas. Conhecemo-nos numa festa, tínhamos conhecidos em comum e fomos apresentados.
E depois?
Quando acabei o serviço médico à periferia fui para Inglaterra, isto em 1978. Portugal não estava sequer na Comunidade Europeia, o nosso curso não era reconhecido em Inglaterra. Tive de ir a Londres fazer a equivalência, e depois consegui um lugar no sistema de saúde inglês e fui fazer o primeiro ano do internato em hematologia em Liverpool.
Conheceu os Beatles?
(Risos) Já tinha passado um bocado. Era uma cidade pós-industrial falida, muito triste. Depois daquele primeiro ano fui para Manchester, para um hospital de grande prestígio na área da hematologia.
E namorava à distância?
Entretanto casei-me. A minha mulher foi comigo ainda para Liverpool e depois para Manchester. Estive um ano no equivalente ao instituto de oncologia e depois mudei para o hospital universitário, onde estive mais dois anos.
Comparando com os hospitais de cá, era outro mundo?
Também não eram nada de extraordinário.
O SNS viria a ser criado nesta altura, em 1979.
Sim, o que eles já tinham era um grau de organização extraordinário. Os médicos não eram especialmente bem pagos, mas trabalhava-se de forma diferente, tinha-se mais acesso a informação.
Já faziam transplantes de medula, a técnica que viria a trazer para Portugal?
Os primeiros transplantes foram feitos em 1957, nos Estados Unidos e Paris. As coisas não correram bem porque não se percebia nada do que se estava a fazer e isso obrigou a que as pessoas voltassem ao laboratório e à experimentação animal. Os primeiros transplantes com sucesso foram feitos nos EUA em 1968, já se podia escolher recetor e dador de acordo com a compatibilidade. Mas começam a ser uma estratégia terapêutica mais aceite nos anos 70 e o grande boom dá-se nos anos 80.
Mas apercebe-se disto tudo em Inglaterra?
Sim. Na altura, só se faziam transplantes em dois hospitais em Inglaterra. Em 1981, eu trabalhava no serviço de hematologia do hospital universitário em Manchester e o meu consultor sabia do entusiasmo, e disse-me que havia uma vaga num desses hospitais em Londres, o Royal Marsden Hospital. E assim foi, fiquei colocado, e a partir daí foi só transplante. Fiquei lá um ano com uma das equipas de ponta nesta área, que tinha conseguido melhorar muito os resultados adaptando um medicamento que era usado no transplante renal.
Para que servia?
Era um imunossupressor para prevenir a doença do enxerto contra o hospedeiro.
A rejeição?
Não, é exatamente o oposto daquilo a que chamamos a rejeição do órgão pelo doente, porque é o enxerto que reage contra o organismo. Quando fazemos um transplante de medula transplantamos também o sistema imunitário do dador, que vai reconhecer o organismo do doente como algo estranho. É para isso que o sistema imunitário serve, para nos defender dos organismos estranhos. E essa reação, no início da transplantação de medula, era das complicações mais graves que podiam haver. Muitas vezes, matava o doente. O que o meu chefe da altura, Ray Powles, fez foi pegar nesse medicamento que só se tinha usado na rejeição no transplante de rim e o raciocínio dele foi brilhante mas muito simples: se serve para uma coisa, vai servir para a outra.
Foi a melhor escola que podia ter tido?
Sem dúvida. E demo-nos bem, hoje continuamos amigos. Ao fim desse ano de eu estar com ele, uma vez estávamos reunidos e ele perguntou se algum de nós falava francês. Respondi que sim e ele pergunta-me se quero ir para Marselha. Estavam a começar os transplantes lá e tinham-lhe perguntado se ele podia mandar alguém da equipa para colaborar na fase de arranque.
Portanto, antes de começar os transplantes em Lisboa, ajudou no pontapé de saída em Marselha.
Sim. É evidente que neste período em que estive em Londres tinha contacto com alguns doentes portugueses que iam lá para ser transplantados. Percebíamos que todos os doentes chegavam lá numa fase em que era tarde demais e que havia que criar em Portugal a noção de qual era a altura certa para os transplantes, que não podem ser um tratamento em fim de linha. A certa altura, depois de um ano em Marselha, senti que já estava preparado para regressar e dar um contributo útil. E era a altura de estabilizar. Na altura já tínhamos duas crianças. No outro dia estive a contabilizar com a minha mulher e já tínhamos tido 14 casas diferentes.
Quando regressam a Lisboa, qual foi a reação?
Foi um choque grande, já estava habituado a trabalhar de maneira diferente.
Mas o que o incomodava mais?
A enorme lentidão para se fazer o que quer que fosse. Eu tinha feito uma carreira até aí exclusivamente hospitalar, dedicava o meu tempo todo ao hospital e, aqui, isso não acontecia. A maior parte dos médicos iam para aqui e para acolá, dividiam-se muito.
Entre público e privado?
Sim. Em Inglaterra, praticamente era só público, privado só havia em Londres. Em Manchester tinha um chefe que fazia clínica privada, mas era o único. Não era uma coisa significativa.
Porque acha que o sistema se desenvolveu assim?
O serviço público desenvolveu-se mais tarde. Lá também já há muita medicina privada e o sistema de saúde inglês não é nada do que eu conheci, está muito fragilizado. De modo que eu regresso para Santa Maria, mas não me senti muito integrado, com condições para avançar. Conheci na altura o dr. Francisco Gentil Martins, que era o presidente da Liga Portuguesa Contra o Cancro e que depois veio a ser diretor do instituto.
Neto do fundador do IPO.
Sim, neto do prof. Gentil e irmão do António Gentil Martins. Ele era cirurgião e não percebia muito de hematologia, mas eu expliquei-lhe o que tinha estado a fazer e qual era a minha ideia para criar uma unidade de transplante de medula. Disse-lhe até que já tinha pensado ir embora outra vez porque as coisas não estavam a andar. Ele disse-me para eu ir ter com ele no dia seguinte ao instituto e cá fiquei.
Nunca mais tinha voltado a entrar no IPO desde que era adolescente?
Nunca mais tinha voltado. Reuni-me com a direção e ele deu-nos luz verde. Disse que a partir do dia seguinte podia começar a trabalhar e que íamos levar as coisas para a frente.
Hoje seria mais difícil?
Seria impossível fazer as coisas assim. Eu regressei a Portugal em 1983, vim para o instituto em 1985. Hoje faz impressão pensar nas coisas que não existiam ainda. Não existia um laboratório de microbiologia, que é fundamental. Os laboratórios fechavam às cinco da tarde e depois já não havia mais análises para ninguém. Não havia um serviço de sangue que fosse capaz de responder às necessidades se um programa de transplantes viesse a avançar.
Portanto, estávamos atrasados.
Sim, bastante atrasados.
Tinha essa perceção de que havia doentes a morrer porque não lhes era dado o tratamento que já estava mais disseminado lá fora?
Claramente. Foram dois anos de imenso trabalho para dotar o instituto das infraestruturas necessárias para que finalmente arrancássemos com os transplantes de medula em 1987.
Olhando para trás, foi rápido ou, ainda assim, demasiado lento?
Para mim, na altura, foi uma lentidão sufocante. Mas, olhando para a forma como as coisas se processam hoje, foi rápido. Hoje em dia tínhamos de ir a não sei quantas comissões pedir autorização para despesa pública, os controlos de qualidade. Não quer dizer que não seja importante, mas muitas vezes é um obstáculo tremendo para que as coisas comecem. Quando arrancámos os transplantes tive um único médico a apoiar durante alguns meses até vir outra colega de Londres, foram meses difíceis.
Raramente ia a casa?
Como moro perto do instituto, não era raramente, mas era um vaivém constante. Costumo dizer que a principal declaração de conflito de interesses que tenho em relação à minha atividade foi o conflito de interesses com a minha família, com os meus filhos. Não me dediquei nem uma parcela do tempo que gostaria de ter estado com eles, a vê-los crescer. A minha mulher é que teve de suprir tudo isso e manter a família unida.
Faz 30 anos desse arranque dos transplantes de medula em Portugal. Há um doente que o marque mais que todos os outros?
Acho que não. Cada doente é um caso e continuamos a segui-los durante algum tempo, é uma relação intensa.
Fizeram nestes 30 anos 1858 transplantes, 1061 autólogos – com células da própria pessoa – e os restantes com células de dadores. O que começou primeiro?
Foram as células de dadores, de irmãos.
Era uma decisão difícil para os pais?
Sim, mas o risco do procedimento de colheita de células era pequeno. Era o risco de uma anestesia geral. Ao longo destes 30 anos, das maiores mudanças foram termos passado a recolher as células no sangue periférico em vez de ser na medula óssea, o que é mais confortável para o dador e não implica ir ao bloco operatório. E a utilização cada vez mais frequente de dadores que não são relacionados com os doentes, muitos deles estrangeiros.
Existe o registo de dadores de medula e muitas vezes surge uma onda de solidariedade que aumenta as inscrições. Quantas vezes por ano é que são chamados dadores desta base?
Não são muitos casos, menos de cem por ano.
E a maior parte dos doentes que precisam encontram dador?
As pessoas de origem caucasiana encontram com alguma facilidade porque, dos 24 milhões de dadores no mundo inteiro, 90% são de raça branca. Dois terços dos nossos doentes que não têm alguém compatível na família conseguem encontrar dador.
Ser compatível depende de quê?
Daquilo a que chamamos tipagem HLA. É um conjunto de moléculas, proteínas, que existem na superfície das células e que fazem com que essas células sejam reconhecidas pelo sistema imunitário. O que pretendemos é que essas moléculas do dador sejam o mais parecidas possível com as do doente, para que o sistema imunitário não as rejeite.
Há muitas combinações possíveis dessas moléculas?
Muitas, milhares.
Qual foi correspondência mais surpreendente? Já houve casos de compatibilidade entre um doente português e alguém muito longe, na Austrália, por exemplo?
Deste conjunto de moléculas estudamos cinco pares do lado da mãe e do pai, dez antigénios. Transplantamos quando há compatibilidade de dez em dez, mas também de nove em dez. Da Austrália, acho que não, mas temos tido correspondências na Alemanha.
Terão antepassados comuns?
Sim, há trabalhos interessantíssimos que conseguem perceber as migrações populacionais a partir disto.
A doação é anónima, mas as pessoas não têm depois a curiosidade de saber quem lhes salvou a vida?
As pessoas conhecem a regra, respeitam isso. Mas isso não as impede de agradecerem ou de enviarem mensagens. Às vezes recebemos aqui cartões de dadores estrangeiros que dão células a doentes nossos a desejar que tenha corrido tudo bem. E já recebemos mensagens e prendas para dadores portugueses que ajudaram doentes estrangeiros. Uma vez recebemos uma caixa de bombons de um doente para o dador.
Como amigos secretos.
Sim. (risos) Apesar de tudo, existe este relacionamento anónimo.
Guardar as células do cordão umbilical, decisão com que são confrontados os pais, faz sentido?
Neste momento, ainda não vejo grande sentido em guardar as células para uso próprio.
E mais avanços?
Além da forma como colhemos as células, a idade dos doentes que tratamos mudou substancialmente. Hoje transplantamos pessoas com mais de 60 anos, a mais velha tinha 67 anos. Quando começámos, só íamos até aos 45 anos.
A partir daí, as pessoas estavam condenadas?
Sim, é uma diferença enorme. Tenho estado a trabalhar os dados destes últimos 30 anos e uma das coisas que mais me agradou foi ver que a mortalidade associada à toxicidade do transplante tem vindo a diminuir progressivamente. Separei os doentes por cada década de atividade da Unidade de Transplantes de Medula e é notório. Neste momento, aos cinco anos de follow-up, temos 20% de mortalidade, o que é um numero comparável com qualquer outro centro no mundo. Isto inclui infeções, alterações metabólicas, doenças do enxerto contra o hospedeiro, rejeição. Mostra bem como afinámos os nossos conhecimentos, além de todos os avanços técnicos e de medicamentos que houve.
Hoje em dia propõe um transplante de ânimo mais leve?
Sim, embora nunca deixemos de dizer aos doentes que é um procedimento arriscado. Embora seja raro, pode resultar na morte.
Mas quando pensa no médico que há 30 anos tinha essa conversa com os doentes, era um salto de fé muito maior?
Sem dúvida, era mais um salto no desconhecido. Hoje temos fatores de prognóstico que nos permitem classificar os doentes em patamares de risco e compararmos isso com a gravidade da doença. Se a doença não é muito grave e existe um elevado risco de transplante, podemos dizer que é preferível não o fazer.
Como lida com o insucesso?
Criamos alguns mecanismos de defesa, mas dói sempre. Lidar com o doente e acompanhá-lo até ao fim, lidar com as famílias, é um esforço de equipa muito grande. Temos um grande apoio da psicologia e da psiquiatria, são essenciais.
É o que custa mais?
É muito duro. Quando temos uma criança em que depositamos uma grande esperança e o miúdo tem uma recaída e não vemos grande alternativa, é difícil.
O que se diz num momento assim?
Tem de se dizer o que é. Não passamos implacavelmente uma sentença de morte, porque a medicina tem coisas surpreendentes. Tenho em mãos uma miúda que eu disse aos pais umas duas ou três vezes que não conseguíamos dar a volta isto e agora ela está a recuperar muitíssimo bem. Estou francamente admirado como é que foi possível. Lembro-me de outro caso, dos primeiros mesmo, de uma criança que teve a tal doença do enxerto contra o hospedeiro, uma situação gravíssima. Falei com a mãe e disse-lhe que não íamos conseguir. Correu bem, a miúda conseguiu ultrapassar a doença e hoje está bem.
São milagres?
Outro caso é o da irmã de uma colega nossa, com uma leucemia aguda, que nós transplantámos. Desenvolveu uma complicação rara e, na altura em que isso aconteceu, todos os doentes com essa complicação morriam. Eu estava desesperado. Tenho algumas pessoas-chave a quem costumo recorrer nessas situações. Uma delas é o Rainer Storb, em Seattle. Na altura não havia emails, mas mandei-lhe um fax a dizer que não sabia o que havia de fazer. Ele respondeu-me a dizer que estavam a ensaiar um medicamento na Europa e que podia valer a pena tentar. Disse-me para falar com o dr. Iacobelli em Itália. Falei de imediato e naquele dia enviou-nos o medicamento. Começámos a tratar a rapariga numa sexta-feira à tarde, estava agónica. Na segunda-feira parecia que tinha ressuscitado. Hoje é engenheira, faz a sua vida profissional. É uma das doentes que aparece no livro dos 30 anos da UTM.
Mas como explica estas situações? É um homem crente?
Sou católico, acredito em Deus. A fé em nada é incompatível com a ciência. Há uma frase de Einstein que me ficou marcada: quanto mais conheço a profundidade do universo, mais me convenço que isto só pode ter sido criado por um ente muito superior a todos nós.
A fé é importante para os doentes?
Ajuda. As pessoas que têm uma convicção religiosa, seja católica ou outra, acho que têm um sustentáculo importante do ponto de vista psicológico, o que conta muito na doença.
Um dia de trabalho tem mais alegria, mais tristeza?
As duas coisas mas, felizmente, os elementos positivos predominam em relação aos negativos. Talvez o que se tem tornado mais difícil é a sobrecarga assistencial, o elevado número de doentes.
Porque há mais cancro?
Porque estamos a transplantar mais pessoas e doenças mais difíceis, casos que antes não tinham essa hipótese.
Uma das novidades deste ano de aniversário é o início das obras da UTM. Esperam fazer mais cinco transplantes/mês, mais 60 por ano.
Faz falta. Estamos a fazer à volta de cem transplantes por ano. Vamos passar de nove a 12 quartos.
A lista de espera estava a agravar-se?
Estava, e com as obras reduzimos de nove para sete quartos, portanto temos uma lista de espera de dezenas de doentes. Já temos enviado doentes para serem transplantados em Santa Maria e no Porto, mas são doentes nossos, ligados à casa, e sentiam-se melhor a continuar aqui. Mas temos de tomar decisões enquanto não temos capacidade para responder atempadamente.
Este alargamento era um projeto que ansiava há muito?
Há muito tempo, há uns dez anos.
Foi falta de dinheiro?
Não, foram decisões que foram sendo adiadas. O IPO esteve para ter um edifício novo…
Mas está de novo em cima da mesa, não é?
Penso que sim, mas essa história do edifício novo já vem desde o século passado, desde os anos 90, de modo que é muito importante avançarmos agora com esta ampliação.
Era neste ponto que imaginava o aniversário dos 30 anos da UTM?
Esperava que já tivéssemos uma unidade nova. Em termos de tratamento e prognóstico, temos conseguido fazer aquilo que gostaríamos.
Trabalha com a vida e morte. Isso mudou-o?
Trabalhei sempre nesta área, não sei, Claro que há coisas na vida que nos mudam. Perdi um filho num desastre de automóvel, foi devastador. Tinha 23 anos. Consegui perceber pela primeira vez o que sentem os pais que perdem os filhos e isso mudou a forma como lido com eles.
Está com que idade?
Sessenta e seis.
E é para continuar no SNS até à idade- -limite, os 70?
Acho que sim, porque não?
Já agora, é ver o novo edifício do IPO…
O novo edifício, não sei… mas a nova Unidade de Transplante de Medula, seguramente, sim.
E depois? Uma pessoa que dedica a vida à medicina e sacrifica até um pouco a família, como disse, o que espera?
Espero ter um bocadinho mais de tempo para estar com a família e gozar muitas coisas que não pude fazer quando os miúdos eram pequenos. Tenho três netas.
Vem daí alguma médica?
Não sei, ainda são pequeninas. A mais velha tem três anos.