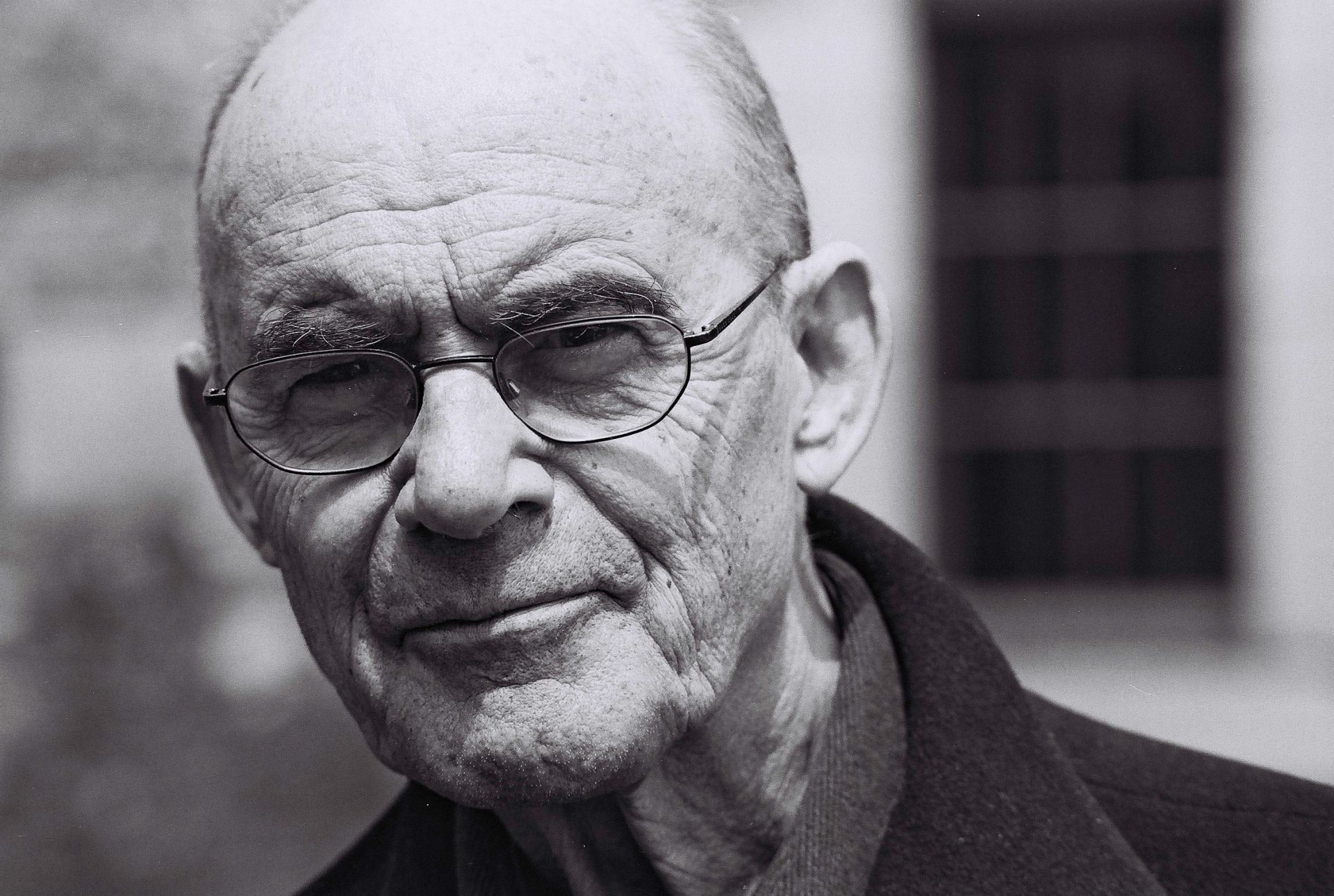Texto de João Oliveira Duarte
Uma pequena nota antes de começar, que é também um gesto de reconhecimento: em dezembro do ano passado foi editado em Portugal uma obra maior do pensador francês Jacques Derrida, Os Espectros de Marx. Teve tradução, como não podia deixar de ser, de Fernanda Bernardo, a quem devemos o esforço hercúleo de nos dar, através de traduções ou de artigos atentos, a obra de um dos “incorruptíveis”, como chamou Hèlene Cixous a todo um conjunto de pensadores franceses da segunda metade do século XX. Um dia dever-se-ia fazer a história dos tradutores, daqueles que nos dão a voz do outro.
Na década de 50 do século passado foi lançado um LP (haverá certamente quem ainda se lembre em que consistia esse dispositivo técnico) intitulado Out of This World, um conjunto de gravações dos sons emitidos por tremores de terra e outros, captados na ionosfera. Quem se der ao trabalho de percorrer estas paisagens sonoras (há uma pequena amostra disponível online) perceberá, certamente, o que elas contêm de profundamente inumano: esses sons que se ouvem, na profunda indiferença que têm relativamente a nós – mas há já intervenção técnica, que torna possível que eles nos cheguem, que torna possível que a sua inumanidade nos diga alguma coisa – tornam desprovida de sentido a velha questão que o Bispo Berkeley colocava (se se uma árvore cair sem ninguém por perto, ela faz barulho?). A pergunta pressupunha, independentemente da sua resposta, que entre nós e a natureza existe a possibilidade de uma relação, e, face a esses sons, a relação pode apenas ser catastrófica: são anteriores ou posteriores ao homem, relação alguma pode ser instituída; são inumanos, emana deles o sopro gelado de um deserto sem vida. Experiência semelhante pode ser feita por quem ouça, numa bomba de gasolina de uma autoestrada (o local, aqui, importa), o som contínuo, sempre igual ou com ligeiras e quase imperceptíveis modificações, que um gerador emite no meio de uma noite que, por breves instantes, se adivinha eterna – esta ligação profunda, tantas vezes abismal, entre o artefacto técnico e uma natureza que não nos diz respeito é actualmente pensada por um teórico vagamente excêntrico chamado Jussi Parikka, que sobre isso tem um livro (A geology of Media). Estes sons que nos chegam não nos dizem respeito, nada neles foi feito à medida do homem, nada neles é à medida do homem; são a recusa de qualquer relação – frios, sóbrios, percorrendo uma paisagem deserta, não dão lugar a qualquer palavra, a qualquer tagarelice, e até a voz que, no LP, explica a sua proveniência, desposa a sobriedade aterradora, sombria, com que nos chegam do interior e do exterior do planeta. São “fora do mundo”, se compreendermos por mundo tudo quanto diga respeito ao homem.
E há arte assim, ou melhor, a arte devia medir-se em face do inumano – é o sentido positivo da barbárie, de que falava Walter Benjamin, uma vida sem vestígios, que apaga tudo, que rasura tudo. Os filmes de Farocki, por exemplo. A sua sobriedade, o seu rigor, a voz sem tonalidade que se limita a fornecer, de forma clara e límpida, informações – que é uma outra forma de dizer que é uma voz que se apaga, que não quer ser lembrada, que permanece presa a uma neutralidade cinzenta. Acima de tudo, nada nestes filmes diz respeito ao prazer (mesmo quando fala de prazer). Frio, sóbrio, distante: uma arte da recusa.
Vem isto a propósito de um recente livro editado entre nós, um livro de um autor com alguma fortuna editorial, Jean Luc Nancy. Com tradução de Jorge Leandro Rosa, O Prazer no Desenho é o mais recente título deste pensador francês desaparecido no ano passado.
Correspondendo ao texto de um catálogo de uma exposição de 2007-2008 (Le plaisir au dessin: carte blanche à Jean-Luc Nancy), O Prazer no Desenho acaba por ser um título algo enganador, na medida em que se nota que a Jean-Luc Nancy interessa muito mais a ligação entre a arte e o prazer do que propriamente o desenho. Afirma algo sobre este último, sem dúvida, sublinha o lado dinâmico (“o desenho evoca mais o gesto de desenhar do que a figura traçada”), traça uma espécie de acontecimento do desenho dentro do campo artístico (“o desenho é a forma não dada, não disponível, não formada. Ele é então, ao invés, o dom, a invenção, o surgimento ou o nascimento da forma”), confere-lhe um papel central dentro da arte, faz dele “uma espécie de modelo da arte que nasce ingenuamente para o seu próprio génio”. O desenho tem a particularidade de se referir ao gesto, de remeter para a mão que traça, de, assim, permanecer sempre aberto, que é uma outra forma de dizer que designa sempre a “força formadora desta mesma forma”. É um acontecimento: algo se mostra através do desenho, algo surge pela primeira vez, de forma não antecipável.
No entanto, é exactamente por dizer respeito à mão que desenha, antes ainda de designar aquilo que é desenhado, que este texto de Jean-Luc Nancy fala, em primeiro lugar, do prazer contido em toda a arte:
“O primeiro a desenhar um cervo, a sua mão ou uma linha ondulada numa parede rochosa deu abertura à repetição indefinidamente modulada do seu gesto, à variação ilimitada do seu tema. Esta repetição, de que o desenho contém a abertura e a estranha necessidade, alimenta um prazer cuja essência é a própria repetição.”
Se há repetição, é porque o desenho diz sempre respeito à mão e a essa modulação indefinida e ilimitada do gesto de desenhar (é o prazer do próprio gesto, de um gesto livre de qualquer lei, que pode permanecer na indeterminação). Seria, enfim, o próprio prazer da arte, fazendo Jean-Luc Nancy apelo a uma tradição já antiga, que liga Kant a Freud – ambos com forte presença nestas 100 páginas. Mas Nancy apressa-se logo a não distinguir prazer de desprazer e a notar o quanto um se encontra entrelaçado com o outro:
“Não há arte sem prazer; o que não significa que a arte seja estranha quer ao esforço quer à inquietação ou à dor, em todos os sentidos da palavra. Mas isso significa que a arte provém sempre de uma tensão que se busca, que se compraz em tensionar-se, não para atingir a finalidade de uma distensão, mas para renovar essa tensão até ao infinito, o que também quer dizer que esse prazer tenso arrasta desprazer – ou, antes, que essa oposição se enreda em si mesma.”
Não convém confundir o prazer e o desprazer de que fala Jean-Luc Nancy com o prazer de um regime (visual, sonoro, sensorial) que encontramos todos os dias, que invade de todos os lados – é aquele que nos é dado pela televisão, pela publicidade na rua, nos transportes públicos, nos telemóveis, no som da rua, em todos os momentos ao longo do dia. A este, Nancy chama de “repleção”:
“Se é a um tal estado que que precisamos de chamar “satisfação”, então compreendemos que essa palavra deve ser entendida no sentido mais pleno de satis (o bastante, em plena suficiência) e no sentido mais completo de factum (feito, acabado, terminado). O verdadeiro sentido da palavra será, portanto, o de “repleção”. A repleção já não experimenta o prazer: ela oscila entre a saciedade (o satis efectuado), adormece num sono que não renova a emoção, antes a embrutece e anestesia”
O que Nancy chama de repleção, como, aliás, começa desde logo por afirmar, não é equivalente ao prazer próprio à arte – este, nascido de uma tensão que não tem fim, é prazer do prazer, é desejo de prazer – mas podemos perguntar-nos se já não estaremos todos um pouco cansados de tanto prazer, e se o que precisamos actualmente não será antes uma arte à altura da destruição da experiência, uma arte à altura de vidas que apagam os seus vestígios, uma arte da recusa, da distância indecomponível – fria, sóbria, distante, como um astro sem vida que permaneça à distância. Uma arte à altura desses sons inumanos com que começámos.
O filósofo alemão Walter Benjamin, num pequeno texto muito ambíguo, dava como exemplo de uma arte à altura da pobreza da experiência do seu tempo o vidro:
“Mas Scheerbart – para voltar a este exemplo – faz questão de alojar a sua gente (e, seguindo o seu modelo, também os seus cidadãos) em casas ajustadas à sua nova condição: em casas de vidro, deslocáveis e amovíveis, como as que, entretanto, já Loos e Le Corbusier construíram. Não é por acaso que o vidro é um material tão duro e tão liso, a que nada se fixa. É também frio e sóbrio.”
Este prazer de que fala Nancy é demasiado humano (não confundir com o humano do humanismo, que é uma outra forma de selvajaria), diz respeito ao gesto, à mão, dá lugar à liberdade, é a própria liberdade na medida em que constrói sempre e de cada vez o sentido, permite cruzar tempos, é aquilo que nos liga a Lascaux – uma continuidade sem evolução, como se estivesse continuamente a nascer. E a arte talvez seja efectivamente isso, ou pelo menos uma parte dela: uma forma de se respirar fora da barbárie, uma suspensão, uma promessa de felicidade, como diria Nietzsche. Mas podemos perguntar: será isso legítimo, ou, de uma forma menos moralista, será isso suficiente? Duro, liso, frio e sóbrio (como o vidro), uma arte que fosse como um deserto por onde apenas passasse um frio gélido – inumano, como é inumano tanto o interior e o exterior do planeta. Um lugar sem vida, onde esta não fosse sequer possível. Adorno, no início de Minima Moralia – um livro que tem o melhor subtítulo do último século, “reflexões de uma vida danificada” – falava naqueles escritores que “enfeitam as suas marionetes com as imitações da paixão de outrora quais adornos baratos e que deixam actuar personagens que nada mais são do que peças da maquinaria, como se ainda pudessem agir enquanto sujeitos e algo dependesse da sua acção.” Seria certamente injusto comparar Nancy a estes escritores, mas talvez se deva pedir à arte menos prazer (seja ele qual for) e mais uma indagação sobre a “forma alienada” – que é uma outra forma de dizer, sobre o inumano, seja ele qual for.