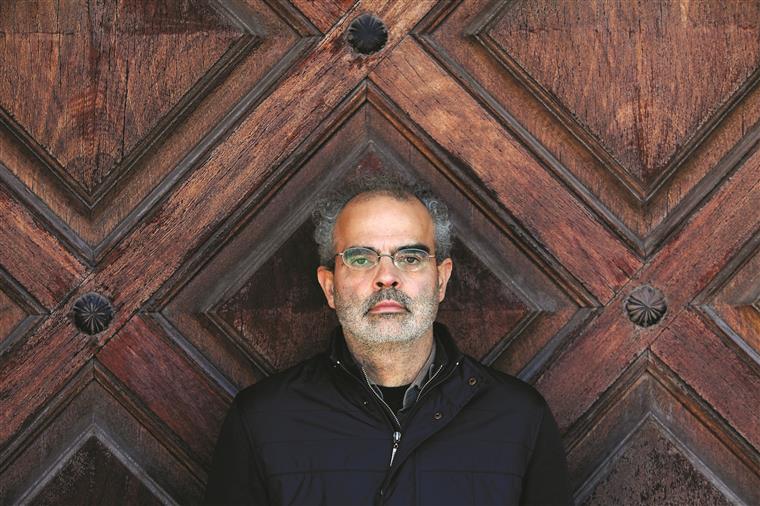Há figuras espectrais, próximas de um mutismo que corresponde à exaustão da linguagem, figuras como que fracturadas entre dois tempos, impelidas ora para um ora para outro. Vemo-las: estão irrequietas, sempre sem fôlego, o seu olhar é ao mesmo tempo vago e rigoroso, pousa sobre as coisas, tenta medi-las, traçar-lhes o contorno, mas algo as impele para um outro lugar, para um novo objecto. Chamemos, a esse género de figuras que encontramos aqui e ali, de “ressacados do século” (o termo não é nosso), seres para quem o passado, tanto quanto o futuro, se encontra em perigo. O “século” é, aqui, o XX, tal como o século passado é ainda o XIX, e o futuro, vago, sem contornos ainda, é o nosso presente.
A figura que se desenha, como que por detrás do novo livro de Gonçalo M. Tavares (As Botas de Mussolini), um conjunto de textos inclassificáveis onde nos conta pequenos detalhes da história do século XX (mas não só, porque o século começa na Revolução Francesa) é deste género. A literatura, se é que ainda se pode usar este termo para designar este conjunto de textos, há muito que aqui deixou o duplo jugo da ficção e desse termo jornalístico, a actualidade, que invadiu o campo do que outrora se chamava romance. Leva a sério a injunção de Maurice Blanchot em La folie du Jour (“un récit? Non, pas de récit, plus jamais”), onde o “nunca mais” vem selar tanto uma impossibilidade, uma exaustão que chega de um lugar a que não conseguimos aceder, como uma proibição; e a “actualidade”, por sua vez, que produz apenas alegorias não muito interessantes, apesar de bastante interessadas com o que consideram interessante, é trocada por um olhar que sabe não estar à altura daquilo que vê, de todos esses fragmentos e detritos que tenta, sem nunca conseguir, ordenar e dar um sentido. É do fundo de uma impotência, do qual consegue retirar alguma coisa, nem que seja o “som da linguagem de frente para os acontecimentos”, que nasce As Botas de Mussolini. E talvez o porvir da literatura, da escrita – a existir – passe por se reclamar dessa impotência radical.
Se quiséssemos encontrar um parente não muito afastado para este novo livro de Gonçalo M. Tavares talvez pudéssemos recorrer a uma conhecida imagem do filósofo alemão Walter Benjamin, aquela do anjo da história que, tendo o rosto voltado para o passado, vê apenas uma catástrofe contínua. Gostaria de parar, despertar os mortos e juntar os destroços, mas algo o impele para o futuro e ele vê apenas – regista – um amontoado de escombros que cresce até ao céu. Com algumas diferenças, no entanto: a figura espectral por detrás de As Botas de Mussolini não pretende resgatar nada, mas apenas dar conta dessa tragédia – isto é, também, contar –, colocar o “som da linguagem” perante acontecimentos que destituem a própria palavra – daí uma espécie de corrosão, de permanência à beira de um mutismo de onde não parece ser possível sair; e, aqui, não há destroços, há apenas detalhes, fragmentos que transportam em si todo o disparate do século.
É uma história fragmentada, sem unidade alguma possível, como se Gonçalo M. Tavares nos quisesse dar o fôlego da destruição que vê atrás de si – e uma outra, que ainda não vê bem, que é a do nosso tempo e geografia –, como se a catástrofe tornada permanente fosse aquilo mesmo que torna impossível qualquer história. É o que diz, aliás, numa breve nota que antecede todos os pequenos textos sem género que compõem o mais recente livro:
“O livro As Botas de Mussolini inaugura uma linha, a que chamo História Fragmentada do Mundo, e este nome descreve o caminho: saltos no tempo e na frase.
Desde o Diário da Peste, livro essencial no meu percurso, que entre muitas outras coisas me interessa isto: o entendimento que vem do ritmo e do som da linguagem de frente para os acontecimentos”
São os acontecimentos que impõem esses enigmáticos “saltos no tempo”. A impossibilidade de reunião dos fragmentos – em momento algum, como facilmente se percebe, o fragmento é remetido a uma totalidade de que daria notícia –, que resulta de toda a destruição e catástrofe, da tragédia que o olhar ainda traz em si, tem como resultado esses saltos na frase que, tal como os primeiros, também se tornam enigmáticos, como se a linguagem estivesse sempre a soçobrar, exausta (um outro pensador, francês e já não alemão, dizia que o esgotamento remete à última das palavras), como se ela não conseguisse já refazer-se e atingir o canto. O cantar, o canto, é uma imagem recorrente na obra de Gonçalo M. Tavares – mas não só na dele, obviamente, dado que se trata de uma dessas imagens magnéticas que concentram uma série de sentidos –, é com ele que a boca se liberta da sua função biológica, que a humanidade assume a sua pobreza e a sua relação de proximidade e distância perante o animal. No entanto, encontramos em As Botas de Mussolini uma imagem que vem em contramovimento face àquela do canto e do cantar:
“E ainda um sinistro som de alarme/ feito por um qualquer compositor obsessivo –/ canção monocórdica de perigo e ameaça.// (Imaginar um mundo sem música alguma, só com sirenes de alarme/ a instalar o cuidadinho e o chiu obediente no já calmo cidadão;/ pesadelo político e sonoro).”
Imaginemos, portanto. Suponhamos um canto que estivesse à altura desse “sinistro som de alarme”, porque aí encontramos uma possível chave de leitura para As Botas de Mussolini, para toda a sua fragmentação, para todos os detalhes com que estes textos sem género devolvem uma unidade que não está meramente perdida, mas que se encontra, doravante, despedaçada, impossível. É um canto em permanente estado de alerta, demasiado próximo dos acontecimentos para conseguir algum tipo de distanciamento, constantemente assediado por essa “canção monocórdica de perigo e ameaça”, feita por um “qualquer compositor obsessivo”. Dela, desta “canção monocórdica”, não se sai, não se escapa, e talvez advenha daí, do confronto com ela, do facto de o “som da linguagem” se colocar perante o perigo e a ameaça que contém, a grafia dos textos. Um observador desatento poderá pensar que se trata de poesia – a mancha gráfica induz essa ideia –, mas nada há, nestes textos, que se assemelha ao famoso enjambement. Se a frase pára, para ser retomada na linha seguinte, isso deve-se, antes de mais, a esse salto de que fala Gonçalo M. Tavares, que outra coisa não é que a própria impossibilidade em terminar a frase, como se a linguagem perdesse o fôlego para, pouco tempo depois, retomar o seu trabalho.
É um olhar alucinado, atento apenas a detalhes, a pequenos fragmentos, dos quais não consegue retirar ensinamento algum. Imaginemos, portanto, um olhar que não pode deixar de olhar – uns olhos que não se podem fechar –, que não pode, inclusive, pestanejar. É uma mera superfície de registo, incapaz de reunir tudo o que vê numa imagem coerente, de ligar as coisas numa qualquer unidade – os saltos, no tempo e na frase, são a medida dessa incapacidade; é um olhar partido, que arrasta consigo, quer queira quer não, a história do século XX, e que não compreende ainda o que o rodeia, que olha para a divisão e não consegue unir os diversos fios.
O mais interessante neste pequeno livro é, de facto, o lugar a partir o qual ele se escreve, essa divisão inultrapassável entre um século e outro – daí o termo “ressacados do século”, como se, espectros, já não vivesse no século XX, não vivendo ainda no século XXI. Esta cesura que rompe qualquer unidade ou continuidade possível, que olha, impossivelmente, para dois lugares diferentes, aprofunda a fratura de onde parte. Se o termo geração não fosse de desconfiar, poder-se-ia dizer que este é um livro que pode apenas ser lido por um conjunto de pessoas que, ainda em hoje, vive capturada, captiva, dos acontecimentos do século XX – como um lastro, uma lama que se transporta, cuja existência é, tantas vezes, ignorada. Mais velhos, e as mudanças radicais dos últimos trinta anos permaneceriam surdas, facilmente acomodadas dentro de um regime existencial há muito delineado; mais novos, produtos de uma mutação antropológica em curso, e é o próprio acontecimento da mutação que se perdeu.
Esses seres espectrais que se encontram partidos entre tempos diferentes, que retomam em cada gesto a sua incapacidade e a sua impotência, constantemente sem fôlego, não são marginais nem se colocam à margem. Digamos, para retomar uma ideia presente em As Botas de Mussolini, que são laterais, quase fora do tempo, impossibilitados de aderir com clareza ao seu lugar. Fala de Hitler, do sonho delirante de um desenho cheio de clarividência de quem “vê sem perturbações”, mas a imagem pode ser levada para outros lugares:
“Ver sem olhar para o lado, essa obsessão do pintor/ destituído de empatia – essa qualidade que/ vem precisamente da lateral,/ do pressentimento e evidência de que há muita coisa de lado/ e para lá dos meus sapatos”
Só conseguir ver perturbações, não conseguir observar nada com clareza, viver entre dois universos radicalmente distintos, habitar a fratura do tempo: é isto que é erigido por este pequeno livro, que chama a si uma profunda impotência.