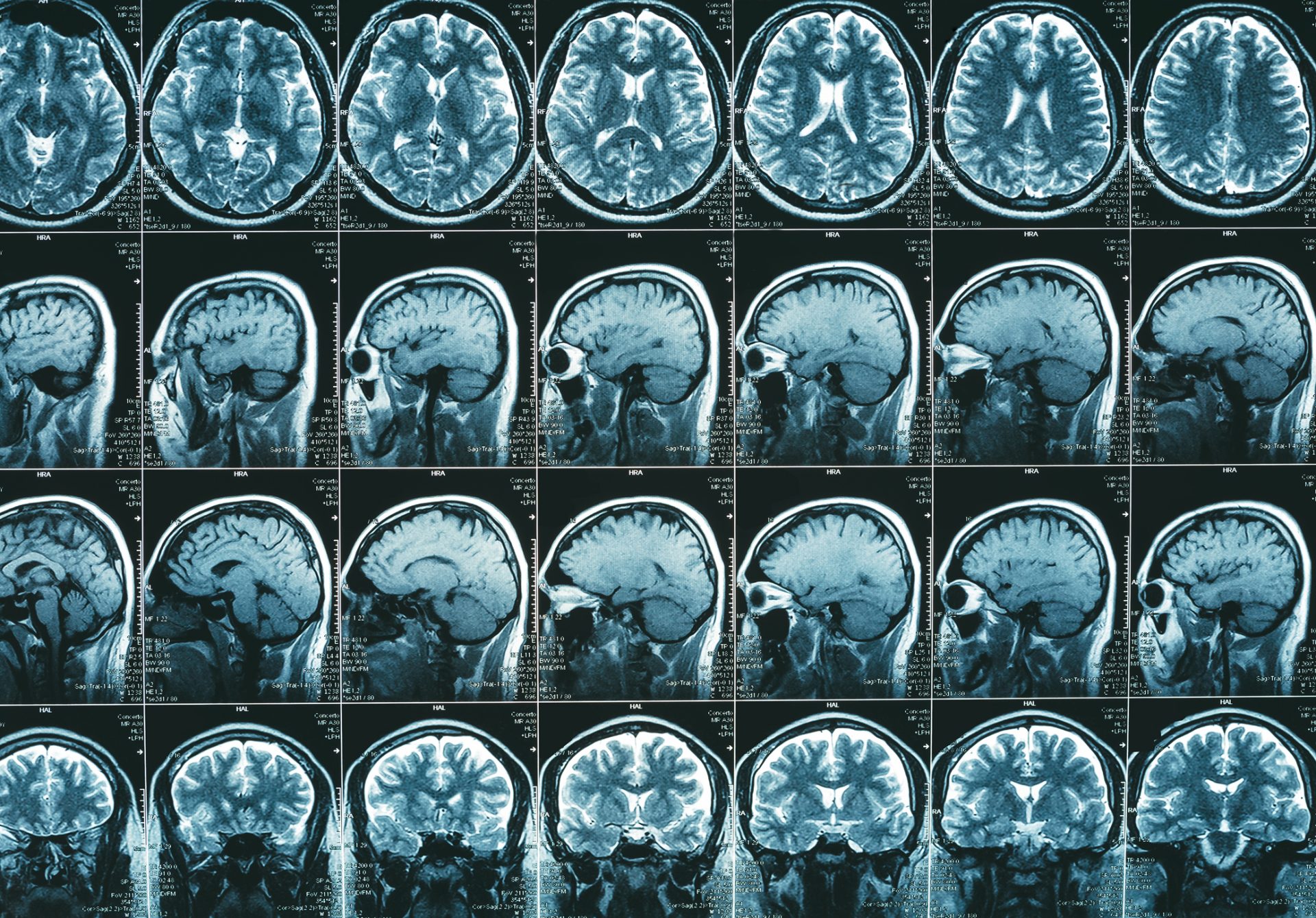Nasceu em Memória, em Leiria. Como foi a sua infância?
É difícil lembrar-me, porque foi há 70 e poucos anos. A coisa mais simbólica de que me lembro é o dia em que nasceu a minha mulher, que é quatro anos mais nova do que eu. Nas aldeias, juntava-se toda a gente quando nascia alguém. As mulheres ajudavam a fazer o parto e, depois, vinham as famílias. É a primeira memória que tenho. Depois, recordo-me do que brincava com o meu irmão. Com os carrinhos de madeira e coisas fabricadas pelos pais. Não havia nenhuma destas modernices! Nasci em 1948 e, dois anos depois, o meu pai foi para Moçambique à procura de uma vida melhor. Foi sozinho e estava lá um irmão dele. Tanto que faltava pouco tempo para o meu irmão nascer e o meu pai só o viu quatro anos depois, quando chamou a família. Chegámos a Lourenço Marques no dia 1 de abril. Recordo-me bem de todas as viagens que fizemos até lá. Por exemplo, a viagem de comboio até Lisboa. Ficámos na casa de uns primos dos meus pais e, depois, fizemos 20 dias de viagem de barco. Eu nunca tinha visto o mar. Na chegada a Moçambique, o meu pai levou-nos a almoçar a uma cervejaria. Havia uma daquelas máquinas em que colocávamos uma moeda, caía um disco e foi a primeira vez que ouvi o Barco Negro da Amália. Nem rádio tínhamos em Portugal. Nunca tinha ouvido uma pessoa a cantar, uma voz que saía de uma caixa! Fui para uma casa completamente diferente. Quando abria uma torneira, em Moçambique, saía água! Em Portugal, tínhamos de tirar a água de um poço. Esta transição dos 5-6 anos foi a descoberta de um mundo novo. As aulas começavam um bocadinho mais cedo do que aqui e, portanto, esperei cinco meses para ir para a escola primária. O meu pai, que tinha só a quarta classe, ensinou-me a ler e escrever antes de eu ir para a escola. Nem toda a gente tinha a sorte de ter um pai com interesse. Ele dava-me explicações. Mudámos várias vezes de casa por variadas razões. Sempre fui, desde o primeiro dia, a pé para a escola. Quando fui para o liceu é que comecei a andar de autocarro. Mas, muitas vezes, ia a pé para poupar 50 centavos para comprar um chupa-chupa ou qualquer coisa do género! Não havia mesadas naquele tempo. Nunca nos faltou nada, mas a vida era simples.
Frequentar o Secundário já foi uma vitória para os seus pais?
Tendo o meu pai a quarta classe, ele nunca teve dúvidas de que, pelo menos, eu tinha de dar o passo seguinte. Se chegaria ou não à universidade, não sabíamos. Antecipando-me um pouco, na Universidade de Lourenço Marques, para onde entrei em 1965, o curso de Medicina tinha sido fundado dois anos antes. Se ela não se tivesse lá criado, provavelmente… A alternativa era vir para Portugal e só vinham para aqui os filhos dos doutores e engenheiros que tinham boas condições financeiras. Embora tivesse família em Portugal, seria muito difícil vir estudar para cá. Digo, no livro, que, em muitos aspectos da minha vida, tive sorte. O meu pai adoeceu em 1957, contraiu uma tuberculose, e regressou a Portugal. Veio para se tratar e nós vendemos tudo. Mas ele teve quase uma cura milagrosa. Fiz cá a quarta classe inteira e, depois, regressámos a Moçambique. Até fui à frente dos meus pais para me apresentar na escola no início do ano letivo. Na altura, surgiu a hipótese de vir a entrar para um seminário. Era uma alternativa. A ideia fugiu e acabei por ir para o liceu. Não fui o melhor aluno da turma todos os anos, mas fui na maior parte deles. E deu-se a felicidade de estudar Medicina. Os professores do liceu eram médicos, engenheiros, enfim, tinham várias profissões. E davam umas aulas paralelas às suas atividades. E, portanto, tive vários professores que me influenciaram e deles veio o ‘bichinho’ da Medicina.
Como foi na Universidade?
Era, obviamente, uma outra novidade. Tínhamos, em Goa, uma escola médica. Estava muito longe de Moçambique. E uma das coisas que o professor Veiga Simão, que foi Ministro da Educação já depois do 25 de Abril, fez foi dizer: ‘Não queremos uma escola médica de Goa, queremos uma universidade como deve ser’. E, portanto, durante os seis anos de curso, professores das várias faculdades de Medicina iam lá começar e acabar o ano letivo. Havia a época de exames normal, tal como aqui, e uma segunda época, onde as pessoas iam fazer exames que não tinham tentado fazer na primeira época ou iam repetir exames em que não tivessem obtido aproveitamento na primeira. Utilizei muito a segunda época porque, normalmente, deixava uma ou duas disciplinas por fazer e concentrava-me nas outras. O desejo que eu tinha era ganhar uma bolsa, no final do curso, porque era de 10 contos. Era muito dinheiro! Tivemos professores de grande calibre. Para além disso, todo o ano era acompanhado por docentes, também vindos daqui, que até faziam serviço militar. Havia grandes nomes da Medicina portuguesa, como Simões de Carvalho, na área da Anatomia. Tínhamos essa vantagem de, apesar de tudo, termos os melhores professores. Eram escolhidos a dedo. Fui temporariamente para África do Sul e, depois, quando vim para aqui… Nunca achei que a minha formação fosse inferior! Entrámos 72, salvo erro, para o meu curso e acabámos 12 no tempo certo. Isso quer dizer que, a partir do terceiro ano, quando começávamos a área clínica, já éramos uns 20. O ar condicionado não funcionava na faculdade, por vezes, e íamos para um restaurante que ficava à frente, juntávamo-nos em duas mesas e era ali que o professor dava a aula. Coisas completamente diferentes! A vida, sobretudo em Angola e Moçambique, era muito distinta da de Portugal. Percebia isso quando vinha cá. Os discos do Zeca Afonso, que só foram autorizados depois do 25 de Abril… Já os conhecia todos! Também bebia Coca-Cola. A minha vida escolar toda foi influenciada por fatores extracurriculares. No quarto ano do curso já frequentava a maternidade com um professor de Coimbra e fazia partos. Isso aqui não era possível. Lá faltava pessoal e qualquer ajuda era boa! Da primeira vez que entrei numa sala de operações para ajudar um cirurgião, estava a dois anos de terminar o curso. O mundo estava todo ali: era só preciso saber apanhá-lo, vivê-lo e utilizá-lo. Nesse aspeto, viver tão longe talvez me tenha favorecido e dado outra visão.
Casou em 1972.
Foi um ano depois de ter terminado a parte curricular do curso. Já estava a meio do estágio. Não era autónomo, mas já atuava como médico. A minha mulher não teve a mesma sorte, porque a data escolhida apanhou-a no segundo ano da faculdade.
A sua primeira filha nasceu em 1973, a segunda em 1975 e o terceiro em 1982. Nenhum seguiu Medicina.
E devo dizer que não fiquei nada desgostoso com isso! Dediquei sempre muito tempo ao hospital, à Medicina. Acabava de fazer o meu turno de 12 horas na urgência e ainda ficava mais tempo para ter mais oportunidades. Para operar, aprender, treinar. E comecei a olhar para eles e a pensar ‘Não tive tempo de os acompanhar na infância’. Quem verdadeiramente educou os meus filhos foi a minha mulher. Por vezes, havia 36 horas seguidas em que eu não estava em casa. Pode parecer um comentário machista, mas ainda hoje acho que a mulher tem um papel muito mais importante no conceito clássico da família do que o homem. Nesse aspeto, não somos iguais. Mesmo que quisesse, nunca conseguiria ter dado de mamar aos meus filhos. O meu filho mais novo nasceu na África do Sul e já estudou em Portugal. Ele é engenheiro informático. Já pequenino, queria arranjar os computadores dos vizinhos!
‘Emigrar é separarmo-nos de uma metade de nós’. Escolheu esta citação de uma jornalista para o seu livro. Como foi a jornada na África do Sul?
Depois de terminar o curso, tive dois anos de especialidade de cirurgia geral e fui convidado para ser assistente na faculdade. Pareceu-me que, na área cirúrgica, a África do Sul era a maneira mais próxima de ser cirurgião. Fiquei praticamente 14 anos lá. As coisas estavam muito confusas em Portugal pós-25 de Abril e, rapidamente, consegui afirmar-me enquanto profissional. Trabalhando quase dia e noite. Estava habituado, como médico, a trabalhar umas oito horas. Quando fui para a África do Sul, entrava às 7h e saía às 19h. A família não me via durante 12 horas. E quando estava de urgência eram 24 horas. Fiz dois anos de cirurgia geral antes de mudar para a cirurgia cardíaca e penso que me evidenciei. Tive ali, logo, as janelas abertas para fazer uma carreira universitária. Sendo que, quando foi a independência de Moçambique, percebi que Moçambique não seria o meu futuro e, portanto, fui ficando por África do Sul. Comecei como interno, completei o tempo da especialidade e acabei como diretor de serviço e professor catedrático da universidade. Vim para Portugal porque me convidaram quando foi inaugurado o novo hospital da Universidade de Coimbra. E também porque estava perto do sítio onde nasci. Penso que a família tenha sido mais importante na decisão de regressar. É que a Universidade de Joanesburgo era uma das grandes instituições internacionais. Coimbra tem a sua História, mas no ranking está muito longe daquela.
Fala na magia da cirurgia cardiotorácica. A capa do seu livro é uma fotografia da primeira vez em que entrou numa sala de operações de cirurgia cardíaca.
Sim, dia 1 de agosto de 1976! Se tivesse voltado para Moçambique, teria terminado aqueles dois anos e feito a tese. E seria um cirurgião geral. Desliguei-me da universidade lá, procurei fazer a especialização e só fiz a tese muito mais tarde. Depois de ser especialista em cirurgia cardíaca. A cirurgia geral trabalhava na sala 3 e a cirurgia cardíaca na sala 4. Era uma confusão, para mim, pensar em operar um coração. Já como médico, não tinha essa noção. Fui olhar para aquilo e pensei que, se calhar, era algo que gostaria de fazer! Já operava estômagos, vesículas, etc. Portanto, ao fim de três meses, já estava a fazer cirurgias cardíacas mais simples. Era muito mais sofisticada, cheia de máquinas. A cirurgia cardíaca trabalhava em dois hospitais: um para negros e outro para brancos. E o diretor do hospital estava no hospital para brancos e o número dois estava no hospital para negros. Mas trabalhávamos exatamente da mesma maneira! O número dois era só dois anos mais velho do que eu e o professor talvez uns seis ou sete. Eu teria 35 anos ou qualquer coisa do género. Tinha gente nova à minha frente. O número dois teve um problema de saúde mental e, ao fim de um ano de eu ser especialista, perguntaram-me se me importava de tomar conta do serviço. Fui para lá e nem em seis meses revolucionei aquilo tudo. Transformei-me no número dois automaticamente. Lá só se estava no público ou no privado. Abriu uma clínica privada, convidaram o professor para ir para lá e pensou que o convidariam para continuar também no público. Mas abriram um concurso e eu concorri. E ganhei o lugar. Mais um episódio de sorte! Antes de ser professor catedrático, transferi o serviço para negros para o hospital para brancos. Aquilo que cá fora se diz que é o Apartheid não é exatamente aquilo que era. Quando era diretor interino, fui falar com o diretor provincial, porque aquilo é como se fosse uma federação de quatro províncias, ele ouviu-me durante bastante tempo e expliquei: ‘Se os senhores quiserem que o serviço que prestamos no hospital para brancos, que é igual ao que prestamos para negros, continue com a mesma qualidade, isso é impossível nesta fase’. Então, pediu-me um plano. Eu já o tinha e entreguei-lhe os papéis. Ele teve de falar com o ministro nacional da Saúde e dali a duas semanas voltámos lá. No fim, disse: ‘Se o senhor professor entende que é assim que temos de fazer, então que se faça’. Mas pôs várias oposições como dizer que os brancos e os negros não deviam estar nas mesmas enfermarias e que deviam ser operados em dias diferentes. E eu disse que isso não era possível por razões de caráter logístico. Quando pus doentes brancos e negros uns ao lado dos outros, foram os negros que suscitaram mais problemas. Coitados, não se sentiam à vontade ali! Mas correu tudo muito bem e foi uma experiência única e da qual me orgulho imenso!
Tem um capítulo cujo título é ‘Chamamento às Origens’. Como foi voltar para Portugal depois de tantos anos em África?
Convidaram-me para Coimbra, porque os resultados eram tão maus, em nove anos tinham operado 183 doentes. Por isso, o diretor do hospital e o diretor da Cardiologia mandaram parar essa experiência. Foi nessa altura que olharam para mim. O pessoal sentia-se envergonhado da situação, de maneira que tive toda a colaboração que quis. Quis as pessoas a entrar às 7h30 e não às 9h. E acabávamos às 19h ou 19h30. Foi assim que se conseguiu montar uma equipa. Tive de lutar contra muitos obstáculos. O Conselho Científico da faculdade chumbou a minha entrada. Achavam que um tipo de fora vinha destronar quem cá estava. Tive de impor as minhas condições. Cada vez que queriam modificar as coisas, eu dizia ‘Estamos a funcionar muito bem. Portanto, não mexemos aqui agora’. Ainda tive duas ocasiões em que ameacei bater com a porta. Um dia, cheguei ao pé de um diretor e disse ‘Tome as chaves, fique à frente do serviço, eu vou-me embora’. No dia seguinte disse-me ‘Reconsidere’ e eu respondi ‘Quem tem de reconsiderar é o senhor!’ e ele ‘Ok, pronto, vamos ver como é’. Houve algumas dificuldades, mas nada que me fizesse sofrer durante muito tempo. E penso que, se olharmos para as estatísticas, percebemos que todos os serviços aumentaram muito a atividade depois da minha chegada. Cheguei no dia 22 de março e no dia 28 fizemos a primeira cirurgia em Coimbra. Tive de voltar à África do Sul a meio de julho, mas em três meses operámos 245 doentes. Mais do que tinham operado em nove anos! E não perdemos nenhum doente. Não havia listas de espera. Os doentes vinham de todos os sítios! Operei 35 mil doentes. Uns 25 mil como cirurgião e outros 10 mil a ajudar os mais novos.
Houve um crescendo.
Sim! O serviço tinha sido planeado para fazer 250 cirurgias por ano. O que era uma coisa do outro mundo! Quando me convidaram para visitar o hospital, olhei para aquilo, fiz uns cálculos sobre a população da zona Centro do país e disse: ‘Precisamos de operar, pelo menos, 400 a 500 doentes por ano’. Ainda o hospital não tinha sido inaugurado, estávamos a partir paredes para criar novos espaços para fazer cirurgias. No primeiro ano, em 1988, operámos 400 e tal doentes. Ao fim de cinco anos, tínhamos ultrapassado os 1000 anuais e, ao fim de dez anos, andámos perto dos 2000 por ano.
O ano com mais cirurgias foi 2013.
Exato. A partir de determinada altura, ‘juntámos o armazém’. Atingimos o limite. E os outros do país todo também aumentaram. Ninguém nos ultrapassou ou chegou sequer perto dos nossos números. Em 2013, fomos o maior serviço da Península Ibérica.
Tinha a ambição de ser professor?
Dois anos depois de me formar já me transformei no primeiro grau dos docentes da faculdade. E, portanto, a carreira académica sempre esteve no meu horizonte. E teria sido assim em Moçambique, se para lá tivesse voltado. Foi assim na África do Sul. Logo que pude, movi-me naquela direção. Foi deste modo que fui convidado para aqui. Se fosse apenas para um posto hospitalar, não teria vindo. A minha atividade principal, que me ocupava 90% do tempo, era a de cirurgião. No ensino, esta especialidade tem um currículo escolar relativamente reduzido. Nos seis anos em que os alunos estão na faculdade, não os ensinamos a serem cirurgiões cardíacos. Pretendemos mostrar as bases. A anatomia é uma disciplina essencial aos cirurgiões, de maneira geral. A determinada altura, o professor Simões de Carvalho jubilou-se e havia duas anatomias. Os cirurgiões queixavam-se muito de que os alunos chegavam ao sexto ano sem saber anatomia suficiente. De maneira que foram convidados a tomar conta da anatomia. E eu, como um deles, também tomei. Fiquei até ao fim a dar a anatomia do tórax. E, ainda hoje, sou chamado, enquanto professor catedrático convidado, a título gracioso.
Fala nas contribuições para o progresso.
É um título talvez um bocadinho excessivo para o capítulo. Tudo é contribuição. Há coisas que, num carro, são muito específicas, mas se alguém inventar uma maneira nova de pôr tampões nas rodas ou qualquer coisa é uma contribuição! Devo dizer que tenho um recorde de publicações: 510. Grande parte em revistas internacionais da especialidade. Ninguém, na nossa faculdade, nem no país, tem tantos artigos publicados. Todos os artigos, teoricamente, têm qualquer coisa de novo. Pode ser uma vírgula apenas, lemos o texto sem a vírgula, mas sabemos que ali temos de parar um bocadinho. Eu próprio tenho uma dezena de trabalhos científicos que mostram pequenas modificações da técnica, especialmente da válvula tricúspide, e há muita gente hoje que fala na ‘técnica de Antunes’. De facto, o trabalho fui eu que o publiquei mas não fui eu que inventei a técnica. Foi um professor com quem trabalhei, na África do Sul. Por exemplo, o livro que mostro, sobre a reparação da válvula mitral, é uma sequela da minha tese. E tem pequenas contribuições minhas. Durante, pelo menos, duas décadas, e a publicação dele coincidiu exatamente com o ano em que vim para Portugal, foi o único livro sobre esta técnica que existiu internacionalmente. E o professor francês que convidei para fazer o prefácio dessa obra diz que se sentiu simultaneamente infeliz e feliz porque foi publicado um livro antes das milhares de páginas que ele já tinha escrito sobre esse assunto, mas foi um pupilo dele que levou a cabo essa tarefa. Portanto, tem esse aspeto. E há outro livro, sobre cirurgia valvular, em que, em conjunto com três cirurgiões de outros países, também fiz algumas contribuições. E, neste momento, está para sair a quinta edição daquele que consideramos a nossa Bíblia em cirurgia cardíaca: o ‘Tratado de Cirurgia Cardíaca’, e eu sou o autor do capítulo dedicado à cirurgia da válvula mitral. É o máximo a que se pode aspirar. Não temos de ganhar o Prémio Nobel, mas, se levarmos a vida de uma maneira pensada e refletirmos sobre aquilo que fazemos, podemos contribuir para que a sociedade evolua. Não tenho dúvidas de que a minha vida não fui eu: foi a equipa que construí. Foi o meu trabalho e o deles. E tivemos impacto na cirurgia cardíaca e, mais tarde, nos transplantes.
Dedicou-se ao SNS de corpo e alma. Quais são as maiores falhas?
Fui moldado na África do Sul com o regime de trabalho lá que era um misto de britânico com americano. Para o melhor que cada um tinha. E, portanto, costumava dizer que, hoje, amolgamos um para-choques de um carro, vamos à oficina, tiram aquele, deitam ao lixo e põem outro. Mas, na primeira vez que amolguei um, o bate-chapas agarrou numa chapa de alumínio e pôs ali, foi batendo-a e, no fim, tinha um para-choques novo. Entrei para a África do Sul com uma chapa de aço e saí de lá moldado. E o sistema lá era o de exclusividade. Esta era a maneira de trabalhar. E tinha o descanso de saber que nunca tinha conflitos de interesse. E, depois, quando trato um doente, trato-o com aquilo que é melhor. Não estou preocupado com o facto de ele puder pagar ou não. Agora, faço clínica privada para continuar a ter alguma atividade. Mas devo dizer que mandei doentes para o hospital que me “cheiraram” a incapacidade económica. Há aqui, realmente, conflitos e estamos numa cidade onde se chega em 10 minutos a outra ponta. Mas, em Lisboa ou no Porto, há médicos que demoram imenso tempo a conduzir de um lado para o outro. Não sou contra nem critico aqueles que não têm exclusividade. Em primeiro lugar, porque a lei o permite e, em segundo lugar, porque tenho a noção de que talvez fosse o único que não se importava tanto com o dinheiro. A minha família não me exigia muito. Não me posso queixar porque trabalhava, em média, 75 horas por semana. Não tenho qualquer dúvida. E os meus colegas tanto ou mais do que eu. E tudo aquilo que excedia as 40 horas foi sempre pago. Em tempos, sobretudo antes da troika, as horas extraordinárias eram pagas a duas vezes e meio o valor da hora base. De maneira que os médicos que trabalhavam no meu serviço tinham um bom salário. É claro que, depois, chegavam ao escalão máximo do IRS e ficava lá metade do dinheiro. Grosseiramente, em termos líquidos, seria duas vezes o salário. Já me dava para aquilo de que precisava. Continuo a dizer que o sistema em que se devia trabalhar é o da exclusividade. Sendo certo que as pessoas, lá fora, ganham o dobro daquilo que ganham no Estado. E se acumulam aquilo que ganham no Estado com aquilo que ganham no privado, bastava o Estado pagar o dobro daquilo que paga que já era, realmente, compensador. O nosso país é o sexto em que o salário médio dos médicos é mais baixo. E se entrarmos para os países como Espanha, Itália e França, é o dobro do nosso salário. E no Luxemburgo é o triplo do nosso. Há um partido que disse que devemos aumentar o salário dos médicos em 40% para resolver este problema da falta de médicos. Nesta altura, já não chega! Teríamos de aumentar para o dobro. O país tem de se adaptar às circunstâncias se não quiser que o SNS seja destruído de vez. E não estamos longe de que aconteça.
Porquê?
Para além dos salários, a gestão dos recursos que temos é altamente deficiente. Fomos governados por pessoas altamente conhecedoras. Temos ministros que são professores catedráticos, com o máximo de conhecimento possível. Mas estão destacados da realidade. Os nossos diretores dos hospitais estão, hoje, muito concentrados nos orçamentos que têm e naquilo que podem fazer com o dinheiro que há. Estão muito fora da realidade. O principal problema do SNS está na gestão. E tivemos experiências como as PPPs, que até parecia que estavam a correr mal. Mas foram terminadas apenas por questões de caráter político, de dogmatismo puro. É curioso que, mesmo no PS, há gente a clamar que voltemos às PPPs nem que seja como método experimental.