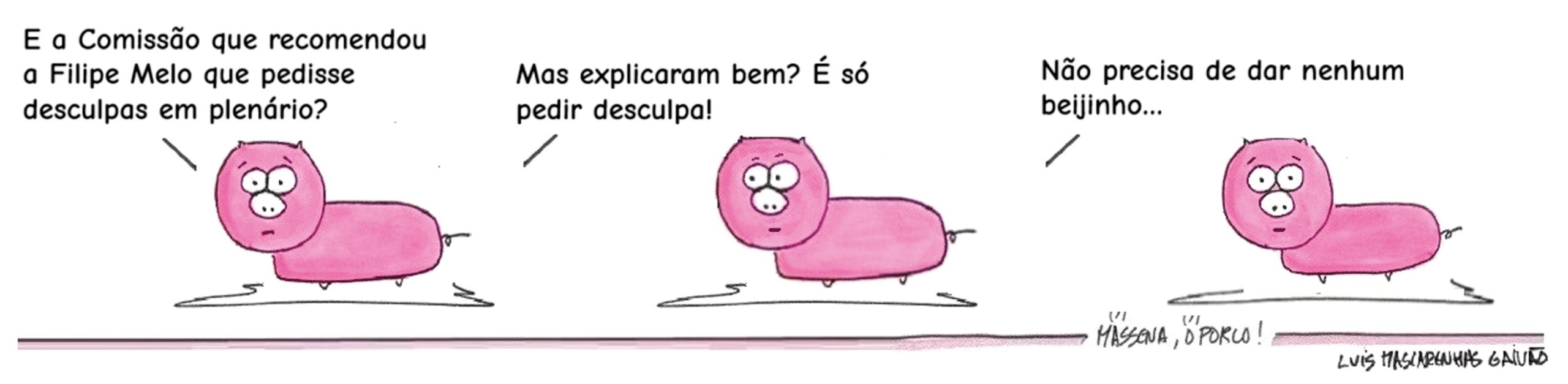O salão de pequenos-almoços do hotel Intercontinental Semiramis é uma máquina bem afinada. À entrada, uma jovem com o cabelo tapado, como manda a lei islâmica, coze deliciosos pãezinhos achatados num forno a lenha; há um cozinheiro que só prepara ovos, de todas as maneiras e feitios; e um rapaz responsável pelo café. Os empregados rodopiam à volta das mesas a uma velocidade estonteante, enquanto um supervisor se vai certificando de que nada falta aos hóspedes. Apesar da enorme abundância da oferta – até há bacon e salsichas, o que não deixa de ser extraordinário num país islâmico – temos de engolir qualquer coisa à pressa para não perdermos o autocarro que nos levará ao planalto de Gizé. É preciso fazer a visita cedo, enquanto os termómetros se mantêm abaixo dos 40oC.
Numa via rápida, uma mota vem em contramão e passa pelo autocarro encostada ao rail de cimento. Até fico arrepiado, mas vejo pela janela o condutor a rir-se. Não tem capacete.
Na orla da cidade, a paisagem muda abruptamente. O casario dá lugar a baldios e estaleiros de obras. Um dos passageiros graceja: «Eu não te disse que os antigos egípcios já usavam guindastes?». De repente estamos às portas do deserto. Por causa da neblina – segundo um estudo de 2018, o Cairo é a cidade mais poluída do mundo – as pirâmides surgem no horizonte difusas como uma miragem. Só quando estamos bem perto delas nos damos conta da sua escala e solidez. Cada fileira de pedras é como um degrau de uma escada feita para gigantes.
Saímos do autocarro e Mahmmoud, o nosso guia, procura uma clareira para fazer um briefing ao grupo.
- Alguém tem uma ideia de como os antigos egípcios construíram as pirâmides? – pergunta.
Como ninguém se acusa, levanto o braço.
- Com rampas – sugiro. Li isso algures, ou vi num documentário.
- Com rampas… Mais alguma ideia? – repete Mahmoud, dando a entender que o meu palpite não foi grande coisa. – Há quem diga que foram os extraterrestres, mas não acreditem nisso, está bom?
Eu garanto-lhe que não acreditamos.
- Então eu vou contar para vocês como eles construíram as pirâmides – e faz uma pausa para aumentar o suspense. – Foi com leite de vaca.
Olhamos uns para os outros. Com leite de vaca?!
De facto, uma questão essencial antes da construção foi confirmar se o terreno suportava o peso da montanha de pedra. A chamada ‘pirâmide marreca’ de Dachur teve de ser corrigida precisamente porque o solo começou a ceder. Segundo Mahmmoud, os construtores despejaram leite de vaca no solo. Os locais onde o leite formava poças não eram adequados; quando o leite desaparecia completamente, aí sim, seria um bom lugar para construir o monumento funerário do faraó.
A verdade é que nos melhores livros sobre o Antigo Egipto nunca vi isso referido – fazendo uma pesquisa no Google por leite e pirâmides só me aparece a pirâmide dos alimentos. Além disso, qual a vantagem de usar leite em vez de água, com o Nilo ali tão perto?
No coração da pirâmide
A pirâmide de Khufu é um feito miraculoso de arquitetura que, a brincar, a brincar, já tem 4500 anos. Uma montanha artificial de pedra com 146 metros de altura, assente numa base perfeitamente nivelada, com um desvio máximo de 1 cm em 230 metros de lado. O que se vê hoje é, como diz a egiptóloga Inês Torres, o ‘esqueleto’ da pirâmide, pois o revestimento original foi pilhado ao longo dos séculos e usado noutras construções. Segundo Heródoto, o historiador grego do século V a.C., a memória do faraó Khufu (ou Quéops) era tão nefasta que dois mil anos depois os egípcios ainda se recusavam a pronunciar o seu nome.
Já estamos dentro do monumento. A entrada custa 600 libras egípcias, cerca de 11 euros, e, embora Mahmmoud nos dissesse que não há nada de especial para ver lá dentro, não quisemos perder a oportunidade. Esperamos num átrio a nossa vez para subir uma escadinha. Quem vem a descer é um turista a escorrer suor, com o rosto encarnado, a t-shirt colada ao corpo. O seguinte, um homem de porte atlético, também vem a deitar os bofes pela boca. E mais outro. O que será que nos espera?
Subimos as escadinhas. Estende-se à nossa frente uma passagem relativamente íngreme, uma espécie de conduta, com apenas 1,20 m de altura e uns 50 passos de comprimento. Claramente as pirâmides não tinham – não têm – um plano de evacuação para uma emergência. Superada a prova, encontramo-nos na grande galeria, um espaço estreito com quase 50 metros de comprimento e uma falsa abóboda a mais de oito metros do chão, o que permite aliviar a sensação de claustrofobia. Permite também distribuir o peso da pedra da pirâmide, desviando-o da câmara onde se encontrava o túmulo do faraó.
Antes dessa câmara funerária há uma derradeira passagem, com um teto ainda mais baixo do que a primeira, onde temos de caminhar acocorados.
Chegámos ao coração da Grande Pirâmide, uma sala com uns 10 metros de comprimento por cinco de largura e seis de altura. Algumas das lajes de granito preto que definem este paralelepípedo chegam a pesar 40 toneladas e foram trazidas de muito longe.
Já percebemos do que se queixavam os turistas. Cá dentro o ar é quente e saturado, quase irrespirável, como numa sauna. Curiosamente, o simpático vigilante não parece importar-se ou sequer dar-se conta disso.
Além de ser a mais alta, a Grande Pirâmide tem algumas particularidades que a tornam única. Não há outra em que a câmara funerária fique mesmo no centro da montanha de pedra. Montada com uma precisão impressionante, está orientada para o norte verdadeiro e possui pequenas condutas que durante muito tempo os arqueólogos acreditavam serem respiradouros. Na realidade, essas condutas são uma espécie de ‘antenas’ que apontam para as estrelas circumpolares, que mantêm a sua posição no céu ao longo do ano inteiro. Era a elas que o faraó se iria juntar no firmamento depois de cumpridos todos os rituais, incluindo a mumificação do corpo.
Na década de 1950, foram localizados no exterior da pirâmide dois poços: cada um continha 1224 peças de madeira de cedro. Após décadas de tentativas, os arqueólogos conseguiram montar este puzzle gigante: juntas, as peças perfazem uma barca com mais de 40 metros de comprimento. Porquê duas barcas? Suspeita-se que uma seria para navegar de dia e a outra para navegar de noite.
Saímos da escuridão da Grande Pirâmide a escorrer suor, como todos os outros turistas: descer o longo túnel de cócoras é tão exigente como subi-lo. Mas teremos razões de queixa? Lembro-me que para o meu amigo Mário, que aqui esteve há uns 25 anos, do alto do seu 1,90 m, deve ter sido bem mais complicado. E, se achamos duro visitar as pirâmides, resta-nos imaginar o que terá sido construí-las, numa época em que não havia máquinas a vapor, só o poder de tração dos animais, a mão-de-obra escrava e mecanismos simples como cordas e alavancas – nada prova que a roldana fosse conhecida.
O autocarro leva-nos em seguida para um miradouro que oferece um belo panorama sobre as três pirâmides. Há cameleiros que propõem passeios nos seus dromedários. Dispensamos o passeio, mas é verdade que os animais são incrivelmente fotogénicos. Um dos donos apercebe-se disso e quando dou por mim ele já me pôs um pano na cabeça e atou-o como um turbante. Nem tive tempo para reagir. Depois tira-me a máquina fotográfica das mãos e começa a fazer-nos retratos ao lado do seu dromedário, as pirâmides em fundo. No final, vem cobrar pelos seus serviços. «O animal tem de comer!». Dou-lhe uma moeda de dois euros – protesta, diz que as moedas não servem para nada, mas acaba por aceitar.
A próxima paragem é um empório dos papiros, uma daquelas armadilhas para turistas onde os guias adoram levar os seus grupos. Os autocarros despejam os passageiros, talvez uma centena de uma assentada. À entrada há um barulho infernal, parece uma betoneira ou um martelo pneumático. O edifício deve estar em obras. Por causa disso torna-se difícil ouvir as explicações sobre o processo de produção dos papiros, pelo que prefiro vaguear pela galeria. Há réplicas de documentos antigos, cobertos de hieróglifos com olhos e cabeças de falcão, mas também pores do sol alaranjados com palmeiras e pirâmides e até uma versão árabe do menino da lágrima, de turbante! De tempos a tempos o barulho da betoneira cala-se e o salão fica às escuras – obviamente não é betoneira nenhuma, mas um gerador. Claramente, a barragem de Assuão não produz energia suficiente.
Chamem um uber!
De regresso ao Semiramis, estamos finalmente por nossa conta. Aconselharam-nos a só andar em táxis chamados pelo hotel, mas obviamente desobedecemos. Um taxista estacionado na rua pergunta-nos para onde queremos ir. Explicamos-lhe que chamámos um Uber e estamos à espera. Só que o Uber não aparece. Chamamos outro e não aparece. Temos de dar o braço a torcer e negociar com o taxista. O nosso destino é a cidadela de Saladino.
Pelo caminho perguntamos ao condutor se ele pode esperar por nós enquanto fazemos a visita, para depois nos levar ao Khalili, possivelmente o bazar mais famoso do mundo. Ele vai dizendo que sim, não há problemanenhum. Assim que chegamos à cidadela ele faz menção de se ir embora. O local é ermo e isolado, uma espécie de ilha circundada por uma via rápida. Ali à volta não se vê nada sequer remotamente parecido com um táxi.
- Como é que depois saímos daqui? – perguntamos.
- Chamem um Uber!
E arranca a toda a velocidade.
A cidadela começou a ser construída em 1176 por ordem de Saladino, o sultão que em 1187 reconquistou Jerusalém aos Cruzados. À frente das obras foi colocado Qaraqush, segundo uma fonte da época «um indivíduo genial». Esta zona alta, «antes de Saladino só contava com mesquitas e túmulos, mas estes foram demolidos por Qaraqush», escreve Jonathan Phillips em A vida e a lenda do Sultão Saladino. «Alguma da pedra foi retirada às pequenas pirâmides de Gizé», ou seja, aos monumentos de dimensões mais modestas que se pensa terem sido os túmulos das rainhas, nobres, membros da corte e sacerdotes.
Saladino, que travou Ricardo Coração de Leão e deteve o avanço dos cristãos, foi por estes comparado ao diabo. Em consonância com a sua reputação guerreira, existe aqui na cidadela um Museu Militar, que não visitamos. Preferimos entrar na mesquita de Al-Nasir Muhammad, construída no início do século XIV, poucas décadas antes de a Peste Negra chegar à Europa. Tiramos os sapatos à entrada e avançamos até ao mihrab, o nicho sagrado que indica a direção de Meca. A tranquilidade que se respira no pátio, que faz lembrar um claustro, contrasta com a azáfama que se vive na cidade. Visitaremos uma segunda mesquita, a de Muhammad Ali, mais recente, em estilo otomano. Lá dentro, um visitante testa a acústica entoando um cântico, certamente versículos do Corão, que faz lembrar os chamamentos do almuadem. Tem uma bela voz. As notas parecem expandir-se em círculos, replicando a arquitetura do espaço.
De novo no exterior, detendo-nos num balcão debruçado sobre a cidade a perder de vista, há três constatações imediatas. Primeira: sem dúvida, a cidadela possui uma situação estratégica excecional e, dada a largura das suas muralhas, não é de estranhar que fosse considerada inexpugnável. Segunda: a neblina que paira sobre os edifícios confirma que estamos numa das metrópoles mais poluídas do mundo. Terceira: olhando para os palácios, as cúpulas e os minaretes à nossa volta, mesmo de dia sentimo-nos numa cidade das mil e uma noites.
Cervejaria liberdade
Não há táxis à vista, mas um particular oferece-se para nos levar ao Khalili. Cobra um preço demasiado alto, 200 libras (4 euros) – justifica que tem de dar uma grande volta e está muito trânsito – mas não nos resta alternativa.
O Khalili é cortado ao meio pela rua Al-Azhar: para cima, fica o bazar e ruelas labirínticas muito apreciadas pelos turistas. Para baixo, fica também uma zona eminentemente comercial, mais autêntica. «A metade sul tem um ambiente de bairro enquanto a norte parece um museu ao ar livre», resume um texto do Cairo Observer.
As bancas do Khalili vendem os souvenirs mais óbvios, como pirâmides, esfinges, sarcófagos e obeliscos de plástico, t-shirts, especiarias e quinquilharia variada. Mas no dédalo de ruelas também se encontram produtos de qualidade que não são acessíveis a qualquer bolsa: joias, tapetes, perfumes, antiguidades, sapatos em pele de camelo. «Este bairro é o antigo Cairo» – comenta uma das personagens do romance Khan al-Khalili, de Naguib Mahfouz, o Nobel da literatura egípcio falecido em 2006 – «são restos de glórias passadas que se desfazem. É um lugar que agita a imaginação e desperta nostalgias e sentimentos de pesar. Mas, quando se considera o velho Cairo sob uma óptica intelectual, apenas se vê sujidade, uma sujidade que nos pedem que preservemos em detrimento dos seres humanos. Seria melhor arrasar tudo e dar às pessoas a possibilidade de gozarem uma vida feliz e sadia». O visitante ocasional, embora não lhe escapem nem a sujidade nem a pobreza de alguns dos seres humanos com que se cruza, não subscreve este pessimismo.
O GPS não é eficaz no emaranhado de ruelas do Khalili, mas quando chega a hora de regressarmos ao hotel dá-nos uma boa ajuda. Vamos experimentar caminhar: segundo o Google Maps são 4 quilómetros que se percorrem em cerca de 50 minutos, se nunca nos enganarmos no caminho. O trajeto passa por debaixo de um viaduto. Já caiu a noite, e é agora que as ruas se enchem. Já fora dos circuitos mais turísticos, mergulhamos numa confusão avassaladora, uma verdadeira babilónia. Há bancas por todo o lado com pessoas a regatear, motas barulhentas que fazem razias aos transeuntes, carros que por pouco não colidem, altifalantes altíssimos donde saem vozes distorcidas que, a avaliar pelo tom, tanto poderiam estar a recitar orações como a fazer o relato de uma final entre o Al Zamalek e o Al Ahly. Lembro-me por mais de uma vez de um título de um livro que deixei em Lisboa: Understanding Cairo – The logic of a city out of control. Sentimos que o Cairo autêntico é isso mesmo, uma cidade fora de controlo – variada, tensa, agressiva, cosmopolita, barulhenta, mas também mágica e encantadora.
Ao fim de uma hora e pouco, chegamos a uma zona mais organizada, talvez o equivalente das Avenidas Novas de Lisboa, onde pela primeira vez vemos semáforos. É num desses quarteirões que se nos depara um café de atmosfera tentadora: cadeiras clássicas, paredes com painéis de madeira creme, ventoinhas no teto. A estrela da casa são as garrafas de cerveja Stella de meio litro (de produção egípcia, não a belga), o que mostra até que ponto este país islâmico é liberal. O velho empregado, que veste uma camisa ainda mais encardida do que as paredes, indica-nos uma mesa onde já está sentado um cliente. Um homem magro, apático, com olhos baços e um aspeto derrotado. Tem à sua frente quatro garrafas de meio litro vazias e um cinzeiro cheio de beatas. O empregado zela por que não falte a cerveja a ninguém e vai permanentemente levando garrafas às mesas e reabastecendo o frigorífico. Cada uma custa 50 libras (um euro).
Só mais tarde descobrimos que este café-cervejaria é um clássico do Cairo: o el-Horreya, palavra que significa ‘liberdade’ em arábico. Durante décadas foi, segundo o site Mashallaw News, o ponto de encontro de «poetas, advogados, artistas e trabalhadores» – e certamente jornalistas, acrescentamos nós -, que vinham aqui tomar uma cerveja e conversar. Um dos vidros que dão para a rua está partido, o que acentua a sensação de decadência. Na realidade, trata-se de um pedaço de história: com atenção, pode ver-se a marca das balas disparadas pela Polícia durante as manifestações de 2011, que resultariam na deposição e prisão do ‘faraó’ Hosni Mubarak.
Depois da cerveja refrescante, o regresso ao hotel faz-se bem, é uma caminhada de vinte minutos pela Corniche. O nosso quarto, com vista para a Praça Tahrir, fica num 24.º andar. Nunca tinha dormido tão alto.