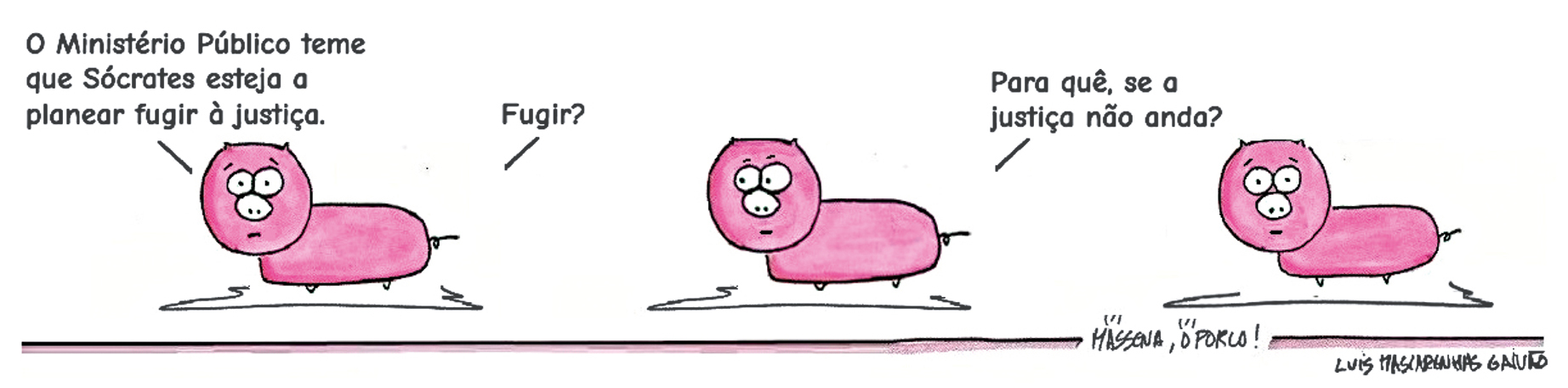Planeámos começar o segundo dia no Cairo com um mergulho na piscina. Estamos prestes a instalar-nos numa espreguiçadeira quando nos apercebemos de uma fita à volta a interditar os banhos. «Só a partir das nove», informa-nos um funcionário do hotel. De facto, a piscina está aberta do nascer ao pôr do sol, mas os banhos só são permitidos na presença de um vigilante, que chega às nove. Não vamos ficar à espera.
Já que não temos direito ao mergulho, desforramo-nos no salão dos pequenos-almoços. Pousamos as toalhas numa cadeira e abastecemo-nos no buffet. Verificamos que enquanto fomos buscar uma chávena de café com leite a mesa foi ocupada por um árabe maciço que tem uma montanha de comida à frente e uma barba que mete medo. De calções e t-shirt, sinto-me ridículo ao lado dele e da mulher, tapada da cabeça aos pés. Recolhemos as toalhas e os pratos e vamos à procura de outra mesa.
Já com o estômago reconfortado, é tempo da visita ao Museu Egípcio. Por toda a Praça Tahrir há grandes barreiras de cimento espalhadas aparentemente sem lógica, imagino que para impedir atentados com carros-bomba contra o museu. Mas também podem ser um qualquer dispositivo anti-manifestações, como as que aqui tiveram lugar em 2011 e levaram à queda de Hosni Mubarak. Em questões de segurança, o Presidente Al-Sisi não deixa os seus créditos por mãos alheias.
É preciso passar um primeiro detetor de metais. Como não comprámos o bilhete com antecedência, temos de esperar uns vinte minutos numa fila do género ‘tudo ao molho e fé em Deus’, para então nos sujeitarmos a um segundo detetor de metais e revista dos bolsos e das malas.
Há quem ache as instalações do museu antiquadas, opinião de que eu não comungo. Ou melhor, são antiquadas, mas isso faz justamente parte do seu encanto. O edifício da praça Tahrir não tem certamente as condições expositivas do futuro megamuseu de Gizé, os pergaminhos do Louvre, o requinte do Metropolitan ou a monumentalidade do Hermitage. E ainda bem. Possui uma dimensão quase ideal, uma atmosfera maravilhosa e uma coleção de 100 mil peças capaz de deixar qualquer um de queixo caído. Quanto ao pó, tem o mérito de nos recordar que estes materiais vieram de escavações.
Não são necessariamente as peças mais famosas as que mais nos entusiasmam. A primeira a chamar-nos a atenção é uma pequena cabeça de terracota. Com mais de seis mil anos, trata-se de uma das mais antigas representações do rosto humano que nos chegaram. Entretanto, reparo que um guia pegou na estela de Narmer para mostrar ao seu grupo os relevos do primeiro faraó a subjugar os inimigos. E se ele a deixa cair? Falso alarme: o original está dentro de uma vitrina, esta é uma réplica de exposição ali posta para se mexer.
No piso térreo há filas e filas de sarcófagos cobertos de hieróglifos com fórmulas mágicas para protegerem o defunto no Além. Um dos mais notáveis é o do anão Djeho, dançarino nas cerimónias rituais do touro sagrado de Ápis. Para ter direito a um sarcófago tão rico, detinha um estatuto que não correspondia à sua reduzida estatura. Djeho aparece representado na tampa de granito nu, de perfil, e em tamanho real: tinha 1,20m, por coincidência a altura exata do túnel que conduz à câmara funerária da Grande Pirâmide.
O faraó de prata
Exposto numa sala à parte, o tesouro de Tutankhamon é a joia da coroa do Museu Egípcio. No Antigo Egipto, o ouro, como nunca envelhecia, era considerado ‘a carne dos deuses’. Só a máscara funerária de Tutankhamon pesa 10 kg. Dez quilos de ouro puro. Mas o sarcófago que continha a múmia pesa 110! Uma loucura. E depois ainda há as braceletes, os colares, os peitorais, os brincos, os amuletos, as sandálias, para não falar dos cofres, das estatuetas, da carruagem cerimonial e do trono. E o punhal, claro, com a lâmina de um metal que se pensa ter literalmente caído do céu, sob a forma de meteorito.
A grande surpresa para mim, porém, encontra-se numa discreta sala ali ao lado: o sarcófago de Psusenés I, faraó que reinou por volta do ano 1000 a.C. É feito em prata cinzelada, um metal que no Antigo Egipto era mais raro, e possivelmente mais precioso, do que o ouro. Se Tutankhamon é o Sol, Psusenés é a Lua.
Há uma razão forte para Psusenés ser muito menos famoso do que o seu congénere. Howard Carter teve a imprensa ao serviço da sua descoberta, enquanto o tesouro de Tanis foi encontrado por Pierre Montet em 1940, numa altura em que os jornais estavam mais preocupados com as incidências da II Guerra Mundial do que com as campanhas de um arqueólogo francês numa necrópole do delta do Nilo. A descoberta foi relegada para segundo plano, de onde não mais saiu. Mas vale a pena ver esta peça, com a sua superfície trabalhada de forma a imitar penas de um pássaro prestes a levantar voo para se juntar às estrelas do firmamento.
Depois de quase quatro horas de visita, é tempo de ir comer qualquer coisa. Ontem, a caminho do hotel, vimos um café com bom aspeto a três minutos do museu, o Le Poire. O único problema vai ser chegar ao outro lado da rua, dado que não há passadeiras nem semáforos.
Diga-se de passagem que os cairotas são mestres na arte de atravessar ruas movimentadas. Fazem-no por etapas, uma faixa de cada vez, o que significa que há alguns segundos angustiantes (não para eles, mas para nós) em que ficam no meio do trânsito. Os automobilistas, que de forma geral têm uma condução agressiva, mostram-se indulgentes para com os peões indefesos. E é assim que vemos até velhinhos a ziguezaguear no caótico trânsito do Cairo, como quem consegue passar entre os pingos da chuva.
O Le Poire tem um ambiente limpo, cosmopolita, arejado, e uma vitrina refrigerada cheia de bolos com um aspeto delicioso. Depois de estudarmos bem o menu, decidimo-nos por uma refeição tipicamente egípcia: um hambúrguer e uma óptima sandwich club de três andares, acompanhados por batatas-fritas e uma coca-cola. Pelo sim, pelo não, retiramos todos os pedacinhos de alface da sandes.
Um túmulo no quintal
Os termómetros devem andar pelos 30ºC. Não comemos assim tanto que não pudéssemos ir dar um mergulho na piscina do hotel, mas isso iria hipotecar o resto da tarde. Já temos uma ideia de queremos onde ir e aqui não é preciso procurar muito para encontrar um táxi: basta ficar parado no passeio. O condutor que encosta ao nosso lado tem a marca dos muçulmanos devotos, uma pequena mancha de pele mais escura na parte superior da testa, conhecida por zabiba, que resulta de tocarem repetidamente com a cabeça no chão durante as orações.
Não fica minimamente melindrado quando lhe pedimos para nos levar ao bairro copta, onde vivem os cristãos. Esta comunidade tem uma longa tradição no Egipto – segundo a Bíblia, a Sagrada Família refugiou-se aqui quando o Rei Herodes mandou massacrar todas as crianças de Belém até aos dois anos.
O taxista não sabe bem como ir para lá, e passa a maior parte do tempo a tentar decifrar o itinerário com o nosso telemóvel na mão. Os longos segundos sem olhar para a estrada causam-nos ansiedade. Até que lá parece atinar com o trajeto. De caminho, passamos pela Cidade dos Mortos, o cemitério que é também cidade de vivos: diz-se que residem ali cerca de dois milhões de pessoas. É normal os habitantes terem no quintal, ao lado do estendal da roupa, uma sepultura ou duas, quando não se dá o caso de a terem mesmo dentro de casa. Os mortos não se queixam e os vivos também não.
O Novo Cairo
Não muito longe, avistamos o antigo aqueduto da cidadela e um enorme descampado, uma área gigantesca que parece ter sido arrasada por uma bomba nuclear. «New Cairo», explica o condutor. Na maior cidade de África, com uma população de 20 milhões, a habitação é um problema premente. O trajeto de 20 km do aeroporto internacional para o centro da cidade é quase um contínuo de prédios, prédios e mais prédios, alguns carcomidos pela poluição e pelo uso. Até à volta das pistas de aterragem se vê, do lado de lá da vedação, uma correnteza ininterrupta de torres habitacionais que fazem lembrar bancadas voltadas para um campo de futebol. Não é difícil por isso perceber o que significa para os cairotas a promessa de casas novas oferecidas pelo Governo.
Acredito que vão nascer aqui, junto ao velho aqueduto, edifícios com todas as condições. Mas por enquanto o ‘Novo Cairo’ não passa de um monte de entulho, uma espécie de ground zero do mais desolado que se possa imaginar. Quando o condutor mete por uma estrada de terra ao lado do descampado, pensamos se o GPS não nos estará a pregar uma partida. Através dos vidros fechados vemos crianças andrajosas a remexer no lixo, um verdadeiro soco no estômago. Será que a estrada tem saída? É o tipo de sítio onde não queremos que o carro fique empanado. Ao fim de 500 metros, o táxi desemboca numa rua miserável, mas já com casas. Alguns homens sentados à soleira da porta olham para o táxi. Não devem passar muitos turistas por aqui. E finalmente reentramos no circuito normal do trânsito, com um suspiro de alívio. Chegados ao bairro copta, o homem cobra-nos 50 libras (um euro). Acho que nunca vi um taxista tão honesto.
O relógio marca quase cinco da tarde. Uma cancela separa o bairro do resto da cidade e o guarda não nos quer deixar entrar. Até que aparece uma figura local que nos pergunta donde somos. «Portugal?». E faz uma grande festa. «Manuel José!». O guarda barafusta sem grande convicção, enquanto o homem lhe vai respondendo qualquer coisa, ao mesmo tempo que nos empurra pela rua fora. Como apareceu, desaparece, não sem antes receber a sua pequena comissão.
Dirigimo-nos ao Museu Copta, junto aos restos de uma fortaleza romana, construída por volta do ano 300 da nossa era pelo imperador Diocleciano. Não tem nem um milésimo da riqueza artística do Museu Egípcio, mas é um verdadeiro oásis de paz e de ordem no coração da cidade suja e caótica. Mais interessante do que a coleção – que ainda assim tem objetos importantes, como o manuscrito do Livro dos Salmos mais antigo do mundo – é a própria arquitetura. Não olhamos tanto para as vitrinas como para a sucessão de tetos de alfarge e para os pátios com palmeiras e muxarabis, uma espécie de varandas feitas de madeira primorosamente trabalhada.
Quando saímos do museu, já não falta muito para escurecer. Lá fora, um militar (que corresponde a um certo tipo egípcio, de bigode, que faz lembrar um pouco Sadam Hussein nos seus melhores dias) oferece-se para nos mostrar a Igreja Suspensa, cujas origens remontam ao século III. Nunca esperei ver um homem tão dignamente fardado prestar-se a servir de guia turístico a troco de uma ‘propina’. Já sei que, chegados à igreja, nos vão dizer que estava fechada mas podem abrir as portas por especial favor e esportular-nos mais uns trocos… Quando o militar nos indica uma escada que leva a um túnel esconso, agradecemos-lhe muito e seguimos o nosso caminho.
A corrida mais louca do mundo
Estamos teoricamente no meio de cristãos, mas nem por isso nos sentimos mais à vontade do que na confusão do Khalili entre homens barbudos e mulheres de cara tapada. Não vemos táxis por perto e a Filipa recusa-se terminantemente a andar de riquexó no trânsito alucinante do Cairo. Até que, lá ao fundo, vemos um homem de camisa azul às riscas a gesticular. Aproximamo-nos e ele abre-nos a porta do seu meio de transporte.
Este não é um táxi qualquer, é um Polski Fiat 125, modelo produzido na Polónia entre 1967 e 1991. Tem um Corão no tabliê, uma capa de volante com missangas e uma buzina especial que imita uma sirene. Como é que um Fiat 125 Polski veio parar ao Cairo não faço ideia.
O homem chama-se Saad e está sempre a rir. Conduz como se tivesse de ir tirar o pai da forca. Quando lhe aparece um carro à frente, aproxima-se até os para-choques quase se colarem e aciona a sirene. Lembro-me às vezes das palavras do meu amigo João, que aqui esteve em 2011 durante a revolução e teve de ser exfiltrado, com outros portugueses, num Hercules C-130 da Força Aérea: «Só sabemos que os carros não vêm de cima. De resto, podem aparecer de todos os lados». E aparecem mesmo. Quando outro condutor dá uma guinada para cima de nós, Saad desvia-se com um movimento perfeito, como se estivesse a adivinhar a manobra. Os dois carros ficam a centímetros, como na corrida de quadrigas do Ben-Hur, mas não chegam a tocar-se. Ele continua a rir-se e a acelerar. Não fala inglês, mas sabe duas palavras de espanhol que não se cansa de repetir: «Adelante, amigos!».
Até que apanhamos um engarrafamento. Nem um berbequim de percussão conseguiria furar pelo meio do trânsito. Como as buzinadelas insistentes não surtem efeito, Saad faz um desvio por uma ruela, os retrovisores quase a roçarem nas pessoas e nas mercadorias à porta das lojas. Claro que nem por isso modera a velocidade. «Adelante, amigos!».
A propósito do seu seu Fiat encarnado recordo-me de uma passagem do livro A Cidade Vitoriosa, de Max Rodenbeck, que fala das idiossincrasias de Farouk I, o penúltimo Rei do Egipto. «Farouk possuía quatro palácios principais, inúmeras casas de repouso e pavilhões de caça, um comboio privado e dois esplêndidos iates. Mas os seus brinquedos preferidos – pelo menos até descobrir as senhoras rechonchudas – eram os carros. Farouk adorava conduzir a alta velocidade, por isso tinha 200 automóveis, incluindo um Mercedes enviado por Hitler como presente. Eram todos vermelhos – de facto nenhum carro podia ser vermelho exceptuando os do palácio. Estabelecendo uma moda que ainda persiste entre os maníacos da buzina do Cairo, instalou buzinas complicadas nalguns deles».
À chegada ao Intercontinental, o porteiro olha-nos de soslaio. À porta do hotel não param só limusinas de luxo, mas também não é todos os dias que se vê um casal de hóspedes sair de um Polski Fiat encarnado com 40 anos. Despeço-me de Saad, um nome muito comum por estas bandas, que vem da palavra arábica para ‘feliz’ ou ‘sortudo’, e deixo-lhe uma pequena gorjeta por nos ter proporcionado a corrida de táxi mais louca do mundo.
O sol já se pôs e a piscina do hotel está fechada. A esplanada, debruçada sobre um braço do Nilo, seria muito agradável neste princípio de noite, não fosse a atuação de um grupo musical que parece empenhado em ensurdecer os clientes. Quando não está a cantar, a ‘vocalista’ da banda saca do telefone e fica especada a olhar para o ecrã, talvez a navegar no Instagram ou no Facebook. É da maneira que vamos jantar mais cedo.
O nosso amigo João, que além de bom garfo é um excelente cozinheiro, recomendou-nos o Naguib Mahfouz Cafe, no Khan El Khalili. O chefe de sala indica-nos uma mesa ao canto com tampo de latão.
Decido-me por um delicioso estufado de rabo de boi, que vem para a mesa a borbulhar numa panela de cobre. A refeição para dois, com sobremesa e tudo, fica a pouco mais de 30 euros e dá direito a um espetáculo musical de qualidade, não a gritaria da esplanada do hotel. Não ficamos até ao fim porque ainda queremos passar pelo El Fishawy. Com as portas abertas desde 1771, este café recebeu figuras tão ilustres como Napoleão e Romel, o Rei Farouk e o Presidente Nasser, Jean-Paul Sartre e Naguib Mahfouz. A sala é magnífica, há grandes espelhos com molduras barrocas, o primeiro dos quais foi trazido da Bélgica no século XIX. Por cima de um dos arcos jaz um crocodilo embalsamado, oferta do primeiro-ministro do Sudão. Na mitologia egípcia, os crocodilos eram os guardiães dos umbrais.
Pedimos um chá de menta, que vem com um pires de pevides, cortesia da casa. Somos abordados a cada minuto por um novo vendedor ou pedinte. O que mais me custa é recusar os serviços de um velho engraxador, um homem extraordinariamente curvado, mas de uma enorme dignidade. Corta-me o coração mas tenho os tostões contados, as libras que me restam mal vão chegar para pagar o chá e o táxi de volta ao hotel.
Estamos a queimar os últimos cartuxos. À saída do Khalili, uma família egípcia antecipa-se e toma o único táxi disponível. O condutor, que não quer perder a oportunidade de levar um casal estrangeiro, expulsa a família e quase nos arrasta lá para dentro. Já em andamento, explico-lhe que só tenho 150 libras (4,5 euros). Ele pisa o acelerador e o carro quase levanta voo no viaduto.
Bem vistas as coisas, o que são 48 horas? Nada. Mas, no Cairo, ainda deram para mergulhar no coração da Grande Pirâmide, visitar a cidadela de Saladino, embrenhar-nos no Khalili, explorar o Museu do Cairo, conhecer o bairro copta, andar à boleia de um dos melhores condutores do mundo, comer um estufado de rabo de boi e tomar um chá de menta num estabelecimento com 250 anos.
Não deu para nadar na piscina do hotel nem para visitar a mesquita de Al-Azhar, uma joia da arquitetura islâmica do século X, com os seus portais trabalhados como filigrana. Quem sabe, talvez tenhamos de cá voltar.