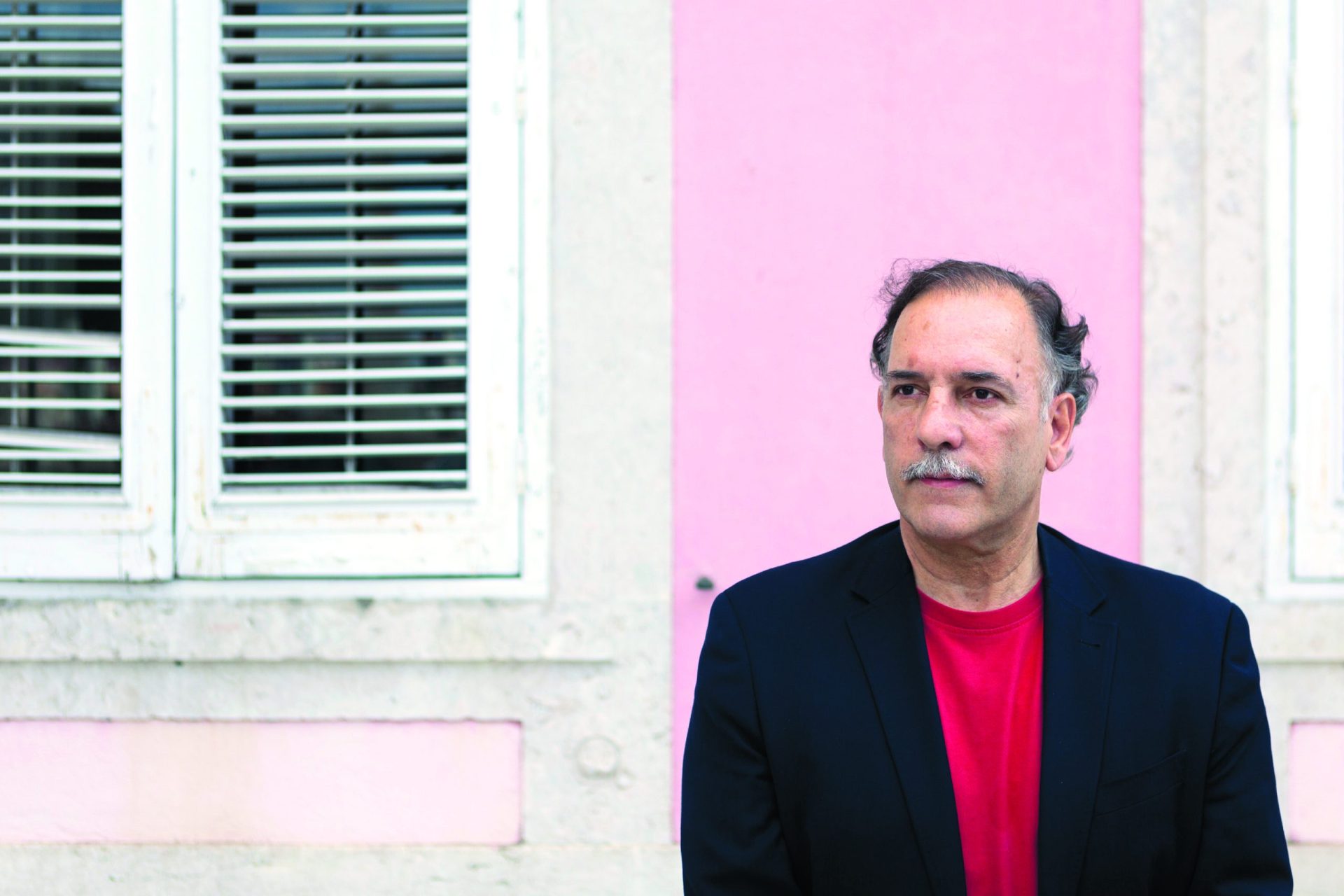Em 1943, um avião da Royal Air Force aterrou de emergência na Praia de Vila Chã, perto de Vila do Conde. Os pescadores da zona dirigiram-se ao local, ajudaram os tripulantes e levaram-nos para suas casas, onde lhes deram agasalhos, comida e vinho. Mais tarde, seriam generosamente recompensados por isso. Miguel Miranda, médico de família em Gaia, usou esse episódio como ponto de partida para Sete Janelas com Vista para a Morte (ed. Presença), um policial que mistura a ficção com factos históricos pouco conhecidos.
Toda a gente tem a ideia de que a vida de um médico é muito ocupada. Como é que ainda lhe sobra tempo para escrever?
E é bastante ocupada. O que não quer dizer que se fosse mais desocupada eu escrevesse mais ou melhor. Acho que as pessoas que têm mais ocupação são aquelas que produzem mais, porque a desocupação não facilita o ritmo de trabalho. Pelo facto de ter muitas ocupações também tenho muitas vivências, muitas experiências. Há quem pense ‘ele é médico e é escritor…’
‘… logo não pode ser bom escritor’.
Pois, ‘escreve umas coisas nas horas vagas’. Mas escrever não é só escrever, escrever é também viajar, pensar, conhecer. Eu, pelo contrário, estranho as pessoas que são só escritores. Se não têm vida própria, se não têm experiência, escrevem sobre quê? Agora, ao fim de alguns anos de dedicação, também já considero a escrita uma profissão. Costumo dizer que sou muito bem pago numa profissão, muito mal pago noutra. Na média sou razoavelmente bem pago em duas profissões, o que não é mau.
Tem sempre um livro em mãos ou há períodos em que está a repousar, ou a recolher material?
Normalmente escrevo um livro de cada vez, se bem que ultimamente estive a trabalhar três livros ao mesmo tempo. Mas isso é raro e é difícil, porque normalmente há uma envolvência grande com o livro. A pessoa até sonha com a história, portanto…
Sonha com a história?
Sim. Aliás esse é um processo mental que eu também utilizo para escrever. Quando estou a escrever um livro estou envolvido 100% e chego a levantar-me de noite para aproveitar ideias que me chegaram. Escrever depois é ‘imprimir’, por assim dizer.
Permita-me a pergunta: é casado?
Sou.
E a sua mulher não se queixa de até quando está a dormir estar a pensar nos livros que escreve?
Tenho a sorte de a minha mulher dormir muito mais do que eu, deita-se mais cedo e acorda muito mais tarde. Nos dias de trabalho, às 7h30 já estou no serviço, mas levanto-me sempre às 6h30 da manhã e ao fim de semana levanto-me também para escrever. Depois, quando a minha mulher acorda, vamos correr ou dar um passeio. Também utilizo muito as viagens para escrever – o avião é ótimo, o hotel também. Sou um escritor nómada, escrevo nas esplanadas, nos cafés, ando com o computador e vou aproveitando para escrever sempre que posso.
Então não precisa de um certo ritual ou de um ambiente especial para trabalhar…
Tenho o covil, que é o meu escritório, em casa. Tenho lá tudo. Mas dá-me mais prazer variar de sítio de escrita: tenho a sorte de viver a cinco minutos do mar, e gosto de ir para uma esplanada escrever a ver o mar à hora de almoço. Como não vejo novelas nem filmes que não prestem, à noite também aproveito. Dá para tudo. Não tiro tempo à família nem aos amigos por causa da escrita. Aliás a minha mulher é professora de Português, também gosta muito de literatura, e sempre que vou a algum lado ela acompanha-me, por isso não se sente excluída.
Como é que aprendeu o ofício da escrita? Foi simplesmente a ler os autores de que gostava?
O escritor tem de ser um bom leitor, tem de ter muitas leituras de base, e foi aí que eu ganhei a tentação de escrever. E depois fui-me corrigindo. O meu primeiro livro é muito fraco, mas teve essa vantagem de me permitir ver e corrigir o que não estava bem, e a partir do segundo os livros são todos bons, alguns muito bons. O primeiro é que eu digo que nem existe, é tão mau que… [risos]
Se pudesse apagava-o?
É quase como uma fotografia que a gente tem dos anos 70, com umas calças à boca de sino e uma camisa de rendas que uma pessoa vê aquilo hoje e fica horripilada. Mas não se pode apagar. Foi mesmo assim. Naquela altura escrevi assim, mas agora realmente confrange-me.
Falou-me de leituras de base. Quem são os autores que fizeram parte dessa formação?
Comecei a ler muito cedo, aos quatro anos de idade, porque o meu pai era engenheiro eletrotécnico e esteve envolvido na construção daquelas barragens no Norte de Portugal – Caniçada, Salamonde, Paradela, Alto Rabagão, Pisões… e eu estive até aos nove anos na barragem do Alto Rabagão, em Pisões. Chegávamos a ficar isolados pela neve durante 15 dias. Como não havia nada para fazer, o meu pai ensinou-nos – a mim e ao meu irmão – a jogar xadrez e a ler. Os livros vinham de Braga na camioneta da carreira, embrulhados em papel pardo e amarrados a cordel.
Que livros lhe chegavam?
Vinha alguma banda desenhada, o Zorro e o Tio Patinhas, muitos livros policiais, a Coleção X, Argonauta, muitos livros de ficção científica. Portanto aos cinco, seis, sete, oito anos, eu lia alguns westerns, mas sobretudo policiais, desde Simenon a Agatha Christie, e isso deu-me gosto pelo género policial, não só pela história em si, mas sobretudo pela técnica da escrita. É uma história que tem que ter princípio, meio e fim – uma coisa que muitos livros hoje não têm. E depois tem de haver alguma tensão, alguma imprevisibilidade que obrigue o leitor a ir por ali fora. Mesmo nos outros romances que escrevo utilizo essas características: capítulos curtos, alguma tensão da história. Depois comecei a ler outras coisas, sul-americanos, desde Borges, Garcia Márquez, Rubem Fonseca, e também os clássicos, como Dostoievski, e autores portugueses, como Lobo Antunes, que me interessaram. Também gosto muito do Mário de Carvalho. E fui começando a escrever.
Como se dá essa passagem do leitor para o escritor?
Sempre tive uma vida profissional muito intensa, mas um dia mudou a administração da saúde e nomearam outra direção que me demitiu das minhas funções de chefia. A consulta é trabalhosa mas os problemas ficam lá, a gestão é uma coisa que não tem fim. Então dessa vez fui para férias relativamente descansado.
Com a cabeça livre para se dedicar a outras coisas?
Estou descansado de mais, com o que é que me vou entreter? Com uma coisa que acho que é impossível: vou tentar fazer um livro. O desafio do impossível foi o que me levou a escrever o primeiro livro. Então nas férias escrevi metade do livro, uma história que tinha alguns traços de policial, e quando vim de férias acabei o resto. Algumas pessoas acharam que o livro tinha coisas engraçadas e decidi publicá-lo por uma editora pequena do Porto.
Esse foi o tal de que se envergonha?
Sim, o que eu digo que não existe. Aí passei um hiato de três ou quatro anos a trabalhar melhor os textos e saiu um segundo livro, Contos à Moda do Porto, que teve o Grande Prémio do Conto da Associação Portuguesa de Escritores. A partir daí é que as coisas começaram a suceder-se, eu a perceber o que tinha de limar, o que tinha de melhorar, fui alternando contos com romances puros e com policiais.
Disse há pouco que tinha esse livro ‘para esquecer’, outros bons e outros muito bons. Em que lote colocaria este ‘Sete Janelas com Vista para a Morte’?
Considero que é dos melhores. Porquê? Tem uma história policial muito complexa, são sete crimes, é difícil de articular, está bem articulado, sobretudo crimes com grande dificuldade de interpretação, é muito difícil descobrir a causa de morte, e cientificamente estão todos muito bem sustentados. Depois há duas coisas interessantes que passam debaixo do livro, que é a presença do casal de pintores Delaunay em Vila do Conde, que é um pormenor histórico interessante, porque foi uma fase muito rica da pintura deles e influenciaram uma geração de modernistas portugueses. E houve um incidente engraçado: a Sonia Delaunay pintava grandes quadros com círculos de cores e punha-os a secar de frente para o mar, e isso causou um bocado de desconfiança numa aldeia piscatória como era Vila do conde aqui há cem anos. E criou-se uma confusão, porque o Almada Negreiros tinha escrito um conto que se chamava K4, O Quadrado Azul e o Amadeo Souza-Cardoso tinha prometido publicá-lo no Porto porque as tipografias eram muito mais baratas do que em Lisboa. Mas nunca mais deu saída ao caso. Então o Almada mandou-lhe um telegrama: ‘Dá notícias K4 Quadrado Azul’. Alguém apanhou esse telegrama, somou 2 + 2 e deu-lhe cinco: ‘Há aqui uns pintores esquisitos a pôr uns quadros em frente ao mar, ela é de ascendência russa, e há aqui um telegrama esquisito em código. Isto é espionagem’. Foram todos presos, o Almada Negreiros, o Eduardo Viana, a Sonia Delaunay, até que o Amadeo Souza-Cardoso foi lá explicar o que se tinha passado. A Sonia Delaunay só esteve um dia na cadeia mas o Eduardo Viana esteve 15 dias. Isso é um pormenor interessante e eu achei que era engraçado deixá-lo numa ficção. Claro que o livro tem tanta ficção e tantas coisas estrambólicas que quem o lê pode ser levado a pensar que essa também é uma parte ficcional. Mas não. Isso é verdade e está documentado. Aliás há ali muitas personagens que vêm da realidade.
Então vamos falar sobre isso. O físico italiano Bruno Pontecorvo é uma delas, não é?
É. No Jornal de Notícias têm um serviço engraçado que é podermos encomendar a primeira página do dia em que nascemos. E os meus colegas de serviço fizeram esse gosto: ofereceram-me a página do dia em que eu nasci. Aquilo tem piada, mas é um grande mono, onde é que a gente pendura? A minha mulher não me deixa pendurar monos em casa, por isso pus no meu escritório. Um dia, estou a escrever em frente àquilo e leio uma notícia a dizer que o sábio atómico Bruno de Pontecorvo, que estava desaparecido há três meses, tinha sido visto em Moscovo. Isso interessou-me, fui pesquisar, e achei a história engraçada: um cientista italiano que se passou para o lado soviético. Então criei um sobrinho-neto do Bruno de Pontecorvo e procurei um isótopo radioativo, o cúrio, que pudesse ter sido inventado por ele.
É uma personagem que literalmente saltou da parede para o livro. Esse isótopo radioativo atua como o polónio, que foi usado naquele caso que tivemos em Inglaterra?
É semelhante. Não é tão rápido a atuar, mas também é letal. E causa alguns efeitos colaterais, como os olhos brilhantes. Isso acontece com os meus personagens: quando estão a morrer têm os olhos muito brilhantes.
Outro facto verídico que aparece no seu livro é a aterragem de um bombardeiro da Royal Air Force na praia de Vila Chã, durante a II Guerra Mundial. Existe muita informação sobre este episódio?
Alguma, não existe muita. Isso só começou a ser falado aí há três anos, quando decidiram fazer um museu com essas memórias. Há um grupo que começou a pôr na internet essas informações e até atraiu um descendente de um dos aviadores. Eu soube desse episódio e achei curioso. Até porque como Portugal era um país neutral nós pensamos que não se passou aqui grande atividade.
A gente diria que Portugal passou ao lado da guerra – ou a guerra ao lado de Portugal…
Mas não. Passou-se muita atividade de espionagem. Já noutros livros tenho refletido nisso. Por exemplo, o volfrâmio, que era utilizado para dar dureza às armas e aos tanques de guerra, era explorado pelos ingleses e pelos alemães na mesma serra em Arouca. Uns exploravam de um lado, os outros exploravam do outro, cumprimentavam-se pelo caminho. Os ingleses mandavam o volfrâmio de barco para Londres, mas eram espiados pelos alemães para serem apanhados pelos submarinos e os alemães mandavam de comboio para a Alemanha e eram espiados pelos ingleses para serem intercetados pela resistência francesa. Aqui era um alfobre de espiões. Em relação aos aviões ingleses, eles tinham uma base em Gibraltar mas não atravessavam aí para não serem atacados em Espanha pelos caças ao serviço dos alemães, por isso vinham ao longo da nossa costa. E às vezes um já vinha com falta de gasolina ou combalido por algum ataque e caía aí ou aterrava de emergência. Isso é tudo factual, a única coisa que é ficção, que eu criei, é que teria vindo um passageiro não identificado na tripulação e era um espião com uma missão secreta. Acho que tem piada porque a ficção cria uma história mágica, e muitas vezes serve para mostrar coisas que as pessoas ou não conhecem ou de que já não têm memória. No livro anterior falei sobre o roubo do coração do Rei D. Pedro que está na igreja da Lapa, no Porto. No anterior falo de um submarino alemão que está afundado junto ao Porto, a 35 metros de profundidade. Há dois em Portugal: um na Nazaré e esse do Porto. Eu fazia mergulho com garrafas e ali é um destino de mergulho.
O que se vê?
Vê-se tudo, ele está partido ao meio mas é em aço inox e está perfeito. Tem ainda os torpedos, tem a torre do submarino. Lá dentro há congros da grossura da perna de uma pessoa. É o submarino 1277. Numa dessas visitas que fiz pensei: ‘Também vai entrar numa história’.
E o avião, o que lhe aconteceu?
Caiu em bom estado, só com uma asa partida. Aliás caíram dois, naquela altura. Um caiu no mar e quase todos os tripulantes se afogaram. O outro tentou aterrar na terra e quando os pescadores lá chegaram os tripulantes pensavam que iam ser atacados e receberam-nos de pistolas. Só depois perceberam que era para ajudar. Então os pescadores levaram os sobreviventes para as suas casas, deram-lhes vinho, comida. Eles ficaram todos contentes. Depois foram repatriados e quando chegaram a Inglaterra mandaram 500 escudos para cada pescador para eles construírem uma casa.
Além de transportar esses factos da história para os seus livros também põe lá algumas coisas da sua vida?
Os livros estão sempre impregnados da nossa vida, da nossa maneira de ver as coisas, das nossas observações. É natural que vá buscar alguns pormenores à vida das pessoas. Mas como sou médico em plena atividade nunca transporto tal e qual uma pessoa ou uma história para o livro. Primeiro porque acho que é mais interessante construir sobre isso, acho que tem mais alcance, é um desafio maior criar e escrever. Claro que há sempre um pormenor que vem da realidade, da nossa experiência, às vezes a gente nem sabe de onde. Mas coisas pessoais, dramas pessoais, isso não conto.
Sendo médico e lidando com muita gente deve ouvir muitas histórias que davam um bom livro.
Há, mas não as posso contar, porque as pessoas reconhecem-se. Só abri uma exceção num livro que se chama O Silêncio das Carpideiras, em que há uma pessoa que objetivamente decidiu deixar de viver porque perdeu tudo e perdeu também as memórias do tempo de infância, porque a aldeia onde viveu ia ficar submersa pelo enchimento de uma barragem. Quis contar esse drama que se passou em muitos lados – conhece-se o caso mais recente da Aldeia da Luz, no Alqueva, mas isso aconteceu muito antes com a eletrificação do país no tempo do Salazar. As pessoas não acreditavam que o rio ia subir e depois era preciso ir buscá-las de barco aos telhados das casas quando a albufeira começava a encher. Tive essa doente que foi muito obstinada, quando decidiu que queria morrer, morreu mesmo. Isso também me impressionou, a força daquela pessoa, e a determinação com que quis morrer, e passei para a minha história.
O policial tem associado um certo lado macabro, de lidar com a morte de uma maneira muito próxima. É um daqueles médicos a quem não faz impressão lidar com os mortos, fazer autópsias, etc., ou pelo contrário os seus livros são para exorcizar esses receios?
Sou um médico normal, que lida com a vida mas também lida com a morte, sem qualquer problema. Não sou pessoa que se impressione com facilidade com acidentes, dramas, sangue – e ainda bem.
Porque se habitou ou sempre foi assim?
Porque me habituei. Sempre tive tendência para ajudar o outro. Quando tinha oito, dez anos, fiz parte de um grupo de socorro a náufragos. Desde miúdo que já fazia salvamentos, manobras de ressuscitação, respiração artificial.
Como funcionava isso?
Eu fazia praia em Matosinhos, antes de construírem o porto de Leixões tinha marés vivas e mar muito mau. Mesmo quando havia alguém a afogar-se o nadador-salvador sozinho via-se grego. Então tínhamos um grupo de apoio, e às vezes até chegávamos antes do nadador-salvador.
Tinha de ser um grande nadador…
Sim, nadávamos muito bem, era um grupo de oito jovens de doze, 14, 15 anos, íamos com barbatanas, levávamos as boias, as cordas.
E os seus pais não ficavam preocupados?
Não, desde miúdo que fazia caça submarina, tinha cinco minutos de apneia debaixo de água, dava tempo para passar muitas ondas.
Ainda faz mergulho?
Deixei de fazer há seis ou sete anos. Nisso a minha mulher já não alinha. Mas todos os anos ainda faço caça submarina, vou dar uma voltinha, apanhar uns peixinhos. Além de se ter de nadar bem, é sobretudo o à-vontade com o mar. É preciso compreender o mar e, sobretudo, respeitá-lo e não o contrariar. Não tentar nadar contra a corrente, saber onde é que se pode entrar e sair… Desde miúdo que sempre tive essa tendência para socorrismo, e depois lá segui para medicina – ainda bem que o fiz, porque gosto muito da profissão. Tenho a sorte de ter duas profissões que são bonitas e de que gosto. Uma não colide com a outra.
A escrita também é uma forma de fugir à rotina?
É. E de conhecer outros mundos e outros ambientes. E de criar. Quem gosta de criar não se satisfaz com as coisas que já estão feitas, quer sempre criar outras.