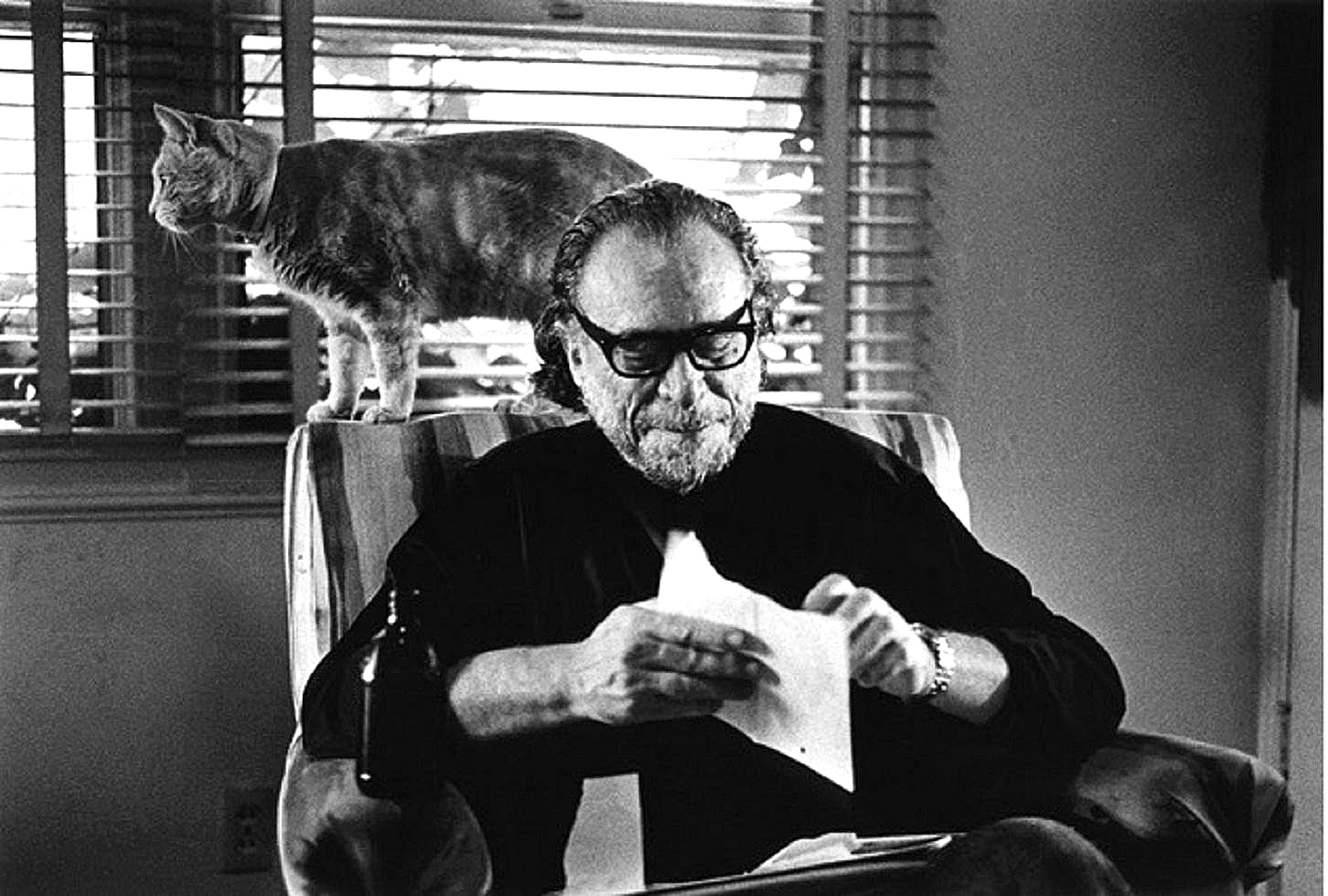Em Bukowski, nada tem que ver com o eterno. Ele começa por nos livrar dessa presunção desoladora. Eis um apóstolo da mortalidade, da carga de desespero que espia da esquina qualquer desejo que se nos tenha metido debaixo da pele, como uma infeção ou uma possessão dominadora. Ele torna evidente como nenhum outro escritor a relação tensa entre miséria e prazer. Diz-nos que os cães e os anjos não estão assim tão longe (uns dos outros) como isso. Ele diz-nos muitas coisas – é um fala-barato, mas toca qualquer coisa de profundo. Nunca está longe de ser grosseiro, mas isso não nos livra do encanto das suas palavras. “Há nele mais barro em bruto”, pedindo emprestado um verso de uma poeta chilena pouco conhecida por estas bandas, e “também um pouco da perversidade do Divino”. Cuspia frases como esses céus convulsos sabem parir raios de forma seca, sem chuva, sem demasiado contexto, como um estalo nas trombas que nos devolve os sentidos. Dizia que estamos aqui para nos rirmos das nossas fracas hipóteses e vivermos o que nos foi dado a ponto de não deixar dúvidas sobre as nossas intenções de esgotar a vida, com uma intensidade tal que a morte, quando for obrigada a dirigir-se-nos, venha acabrunhada, meio a tremer, sentindo-se estúpida. É um tipo que levou tanta porrada que teve de raspar no seu inconsciente uma boa porção de frases que o segurassem, para que não tocasse ainda mais fundo. Num dos seus poemas, conta como fez um mural com todas as cartas que recebeu das publicações e editoras que rejeitavam os seus contos e poemas, de forma a ir escamando o animal de sangue frio da sua amargura para se motivar. Outra coisa em que acreditava era que a poesia é o que acontece quando mais nada parece possível. E muitas vezes parece que estava em paz com a ideia de que nem toda a arte busca a elevação, mas que às vezes somos obrigados a mijar na pia. O que sabem os habitantes do Olimpo dos nossos problemas com a bexiga? Como escreveu Céline – um dos quatro autores que Bukowski considerava os seus mestres, génios inultrapassáveis (os outros eram Dostoievski, D. H. Lawrence e John Fante) –, se as coisas nos levassem com elas, por mais mal enjorcadas que as achemos, morreríamos de poesia”.
Bukowski tinha um pacto com a arraia, tinha a decência de se assumir como um canalha, de fazer ecoar de forma humorada a consciência do narrador dos Cadernos do Subterrâneo quando diz: “Agora que estou no fim dos meus dias, metido no meu buraco, escarneço de mim próprio e consolo-me com essa certeza, tão biliosa como inútil, de que um homem inteligente não pode tornar-se nada, só os parvos se tornam qualquer coisa. Um homem inteligente do séc. XIX deve, acha-se na obrigação moral, de ser uma criatura essencialmente sem caráter; um homem possuidor de caráter, um homem de ação, é uma criatura essencialmente limitada”. E isto é uma noção que cai mal a estes dias, provocando uma crise de urticária numa época que é só pele, só sensibilidades superficiais. Como era notado há dias num artigo em que o El País assinalava o centenário do “poeta laureado da ralé”, ouvindo uma série de autores de língua espanhola que assumem sem complexos a influência de Bukowski, deve estar para breve o processo que pretenda esmagá-lo como um inseto, enfiá-lo nalguma lista negra, já que nas suas páginas se ergue uma extenuante mitologia que se serve de toda a escória, toda a imundície, toda a manha, refastelando-se numa orgia de péssimos exemplos, canalhices glorificadas, num ácido despertar que agride em cheio este frágil momento cultural, esta sociedade que entrou na menopausa, empurrada pelos vícios de um consumismo celerado, e que agora busca abater a sua angústia com uma série de terapias, impondo-se um penoso regime de dieta mental em que só lhe interessam obras edificantes, uma arte que cumpra um propósito disciplinador. Assim, ao invés de programas culturais, o que temos é um cultura vigilante e persecutória.
Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.