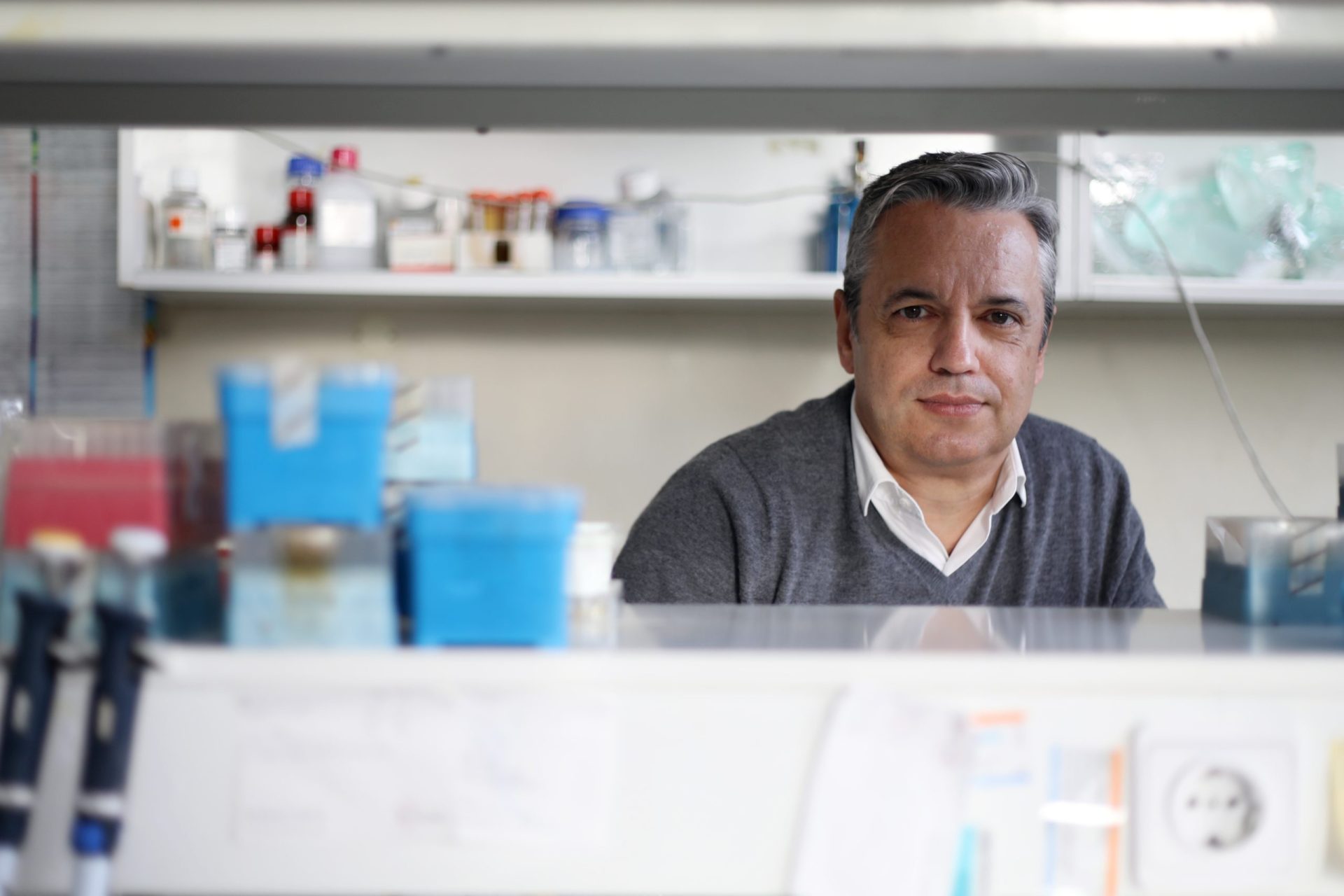Defende que, por cautela, as populações que foram pouco envolvidas nos ensaios das vacinas da covid-19, como é o caso de idosos com mais de 75 anos, não deviam ser as primeiras a ser vacinadas. Nem quem tem alergias graves – e por isso considera que o Reino Unido foi imprudente e gerou alarme. João Gonçalves, professor da Faculdade de Farmácia, diretor do Instituto de Investigação do Medicamento e especialista em anticorpos, guia-nos por este mundo, entre o sucesso e a incerteza com que se chega ao final de 2020, com nove meses de pandemia em cima, e as primeiras vacinas a chegarem ao mercado.
O que sente alguém que trabalha na área ao ver esta semana as primeiras pessoas a serem vacinadas?
É um momento de satisfação e de orgulho. Muitas pessoas acham que um ano foi pouco tempo. Só foi possível porque houve uma conjugação de esforços sem precedentes. Não só do ponto de vista da investigação, mas das empresas, dos Governos.
Imaginava que fosse possível?
Temos sempre dúvidas. Mas desde o início houve uma grande vontade dos reguladores e das empresas de chegar a bom porto. Ao longo dos últimos 20, 30 anos temos visto os reguladores e as empresas, às vezes, um bocadinho de costas voltadas.
Por suspeitas de alguma coisa?
Não. É muitas vezes pela burocracia imposta. Há mais burocracia do que as pessoas pensam neste mundo dos medicamentos. Um ensaio clínico é capaz de demorar dois ou três meses mas, se calhar, demora um ano a ser avaliado. Este tempo todo de burocracia foi eliminado nesta pandemia. Se pensarmos que fomos capazes de reduzir seis ou sete anos para oito meses, e que nestes oito meses temos estudos clínicos que demoram dois ou três meses e depois sete ou oito a avaliar, o que tivemos neste encurtar de tempo foi os reguladores conseguirem colaborar com as empresas para que, à medida que os dados fossem sendo gerados, irem avaliando.
Além de burocracia, não se poderão ter saltado passos importantes em termos de segurança e qualidade?
Não, e nessa questão ponho as mãos no fogo. E tudo o que foi feito vai ser publicado e escrutinado. Há nove empresas envolvidas nesta última fase destas seis vacinas em fase mais avançada e todas sabem que a primeira coisa para que todos vão olhar é para a segurança e qualidade. Houve até uma posição muito conservadora dos reguladores: colocaram uma barreira de eficácia de 50% para as vacinas serem aprovadas, muito cá em baixo. As empresas nem estavam demasiadamente preocupadas em ter uma eficácia muito elevada, estavam preocupadas com qualidade e segurança. O que houve de novo neste processo foi também um apoio muito grande dos Governos. Muitos compraram antecipadamente os lotes das vacinas. E isso deu uma margem grande às empresas que não existe noutras circunstâncias.
Chega a ouvir-se que a indústria farmacêutica ganha mais não curando doenças.
Não creio. Trabalho em medicamentos desde o início dos anos 90 e nunca senti isso. Sempre que a indústria tem possibilidades de uma cura ou breakthrough, isso é claramente uma vantagem que utiliza. As empresas precisam de ser as primeiras a colocar um medicamento revolucionário no mercado, é isso que lhes dá liderança. E se não conseguirem medicamentos revolucionários também, hoje em dia, os reguladores não os aprovam.
Têm de ser cada vez mais diferenciadores para serem aprovados e depois comparticipados.
Exatamente. Estão numa competição muito grande. Há 40 anos, a ciência e tecnologia estava na mão de sete ou oito empresas. Neste momento são 30 ou 40. Olhando para o exemplo desta primeira vacina da covid-19, a tecnologia não é Pfizer, é da BioNTech. A tecnologia da vacina da Moderna é de uma empresa que praticamente não tinha produtos no mercado. São pequenas empresas que já são tão ou mais competitivas que as grandes, só não têm o financiamento necessário. Colocar um medicamento no mercado é muito caro. O Governo americano e investidores colocaram 2 biliões de dólares em seis meses na vacina da Moderna. Isto nunca aconteceu. E por cima disto têm a garantia de que lhes vão comprar o produto. Tudo isto acelera os processos. Numa situação normal, não é que não haja desenvolvimento, mas vai tudo acontecendo mais devagar porque há um risco inerente à incerteza de colocar o produto no mercado.
Não há lucros extraordinários?
Pode haver lucros extraordinários após uns anos mas, ao início, as empresas recuperam investimento. Claramente, quando há sucesso, ganham dinheiro com isso, mas enquanto umas ganham, outras perdem.
Temos visto nos últimos anos medicamentos inovadores a chegar ao mercado a custarem meio milhão de euros por um ano de tratamento. Como se chega a um valor assim?
Resultará do investimento feito e do número de clientes, entre aspas, ou o número de pessoas que vão utilizar o medicamento.
Nas vacinas da covid-19, o valor é baixo porque será universal?
São milhões de pessoas. Nas terapias mais avançadas, em que temos 30 ou 40 doentes, aumentam o preço para recuperar o investimento. De forma simples, o risco que as empresas tiveram agora foi suportado pelos Estados, pelos Governos, que compraram antecipadamente para milhões de pessoas. Nunca aconteceu.
Com esta abordagem, seria possível haver tratamentos para mais doenças?
Não sei se se poderá repetir. Só numa doença que afetasse toda a população de todo o mundo.
O cancro.
Mas o cancro são múltiplas doenças que se fragmentam consoante os tipos de cancro. Não é uma realidade comparável. Penso que poderá voltar a acontecer, mas numa pandemia, em algo que seja dramático a este ponto de afetar as pessoas e a sociedade rapidamente. Em termos práticos, creio que não se cortou em nada do que normalmente se faz no desenvolvimento da vacina. Agora falta a outra etapa. As pessoas dizem: «Foram pouco testadas, agora é que se vai ver». Todas estas questões de monitorização e necessidade de farmacovigilância é o que acontece com qualquer medicamento que chega ao mercado.
Há casos de grandes deceções?
Sim. Há medicamentos que parecem ser muito bons e, na prática, não são ou têm efeitos secundários e acabam por ser retirados do mercado. E falamos de medicamentos que podem ter demorado dez anos a desenvolver. Mais uma vez, no caso da vacina da covid-19 não correlaciono o tempo que levou com a falta de segurança. Agora, muito do resto, vamos ver. E daqui a um ano, dois ou três, quando esta pandemia for controlada, estas empresas vão entrar de novo no modo normal de competição. A AstraZeneca já disse que isto, no primeiro ano, é a preço de custo, mas no terceiro ano já será ao preço normal.
Não podemos contar com vacinas a 20 euros para sempre?
Não acredito. Quando a pandemia estiver controlada e tivermos de, se calhar todos os anos ou de dois em dois, ter um reforço, aí vamos pagar um bocadinho por elas.
Não poderão ser os países a produzir as suas vacinas?
Nas vacinas de RNA mensageiro, que são a vacina da Pfizer e a da Moderna, ainda há várias patentes. Das vacinas de adenovírus, já existe tecnologia que pode ser licenciada ou potencialmente copiada sem problemas de patentes. Pode abrir-se uma oportunidade e o nosso país até poderia fazê-lo, se houvesse esse interesse político e investimento.
No caso das novas tecnologias, podem abrir-se portas para vacinas que não existem, contra o VIH?
Pode haver uma oportunidade mas, muitas vezes, o problema não é a tecnologia, é o agente infeccioso, por ser difícil de estudar, pelas suas características.
O VIH continua a ser o vírus dos vírus nesse aspeto?
Se calhar, daqui a 50 anos diremos que é mais um dos vírus que conhecemos extremamente bem, mas, até aqui, não tem sido possível. Tem uma biologia que permite adaptar-se muito bem ao nosso corpo, tem uma grande capacidade de mutação e torna-se invisível para o sistema imunitário. Este SARS-CoV-2 não: é um vírus, entre aspas, à bruta. Entra a matar. Todos os vírus que entram a matar, historicamente, são mais fáceis de controlar.
Toda a gente que entra a matar dá mais nas vistas.
Lá está. O SARS-CoV-2 mata logo as células, por isso não tem grande capacidade de se expandir. O sistema imunitário controla-o rapidamente porque o deteta e essa reação imunitária é o problema nesta doença. O VIH entra no nosso corpo silenciosamente, sem fazer muito barulho e, muitas vezes, até sem o sistema imunitário o detetar. Vai replicando-se e minando tudo. O SARS-CoV-2 entra, mata células, desencadeia uma tempestade de citocinas e o sistema imunitário fica superalerta para o neutralizar. Com isso, não gera muitas mutações porque não tem muitos ciclos de vida. São condições que jogaram a nosso favor.
E já se conhecia a chave que usa para abrir a porta das células.
Sim, a peça que usa para entrar nas células, a proteína spike. Conhecíamos os primos, o SARS-CoV-1 e o MERS, os truques. Também isso ajuda a explicar como se conseguiu uma vacina tão rapidamente: já sabíamos isso e foi relativamente fácil perceber o calcanhar de Aquiles do vírus, que é sermos capazes de desenvolver anticorpos neutralizantes que façam com que, quando entra no nosso corpo, tenha logo à espera defesas capazes de o neutralizar, que no fundo é o que queremos fazer com a vacina.
Os anticorpos são a sua área de estudo. O que o intriga mais no sistema imunitário?
A forma como se adapta a qualquer agente, infeccioso ou proteína, que entra no nosso corpo. Temos essa capacidade de reconhecer qualquer coisa que nunca vimos. É quase como se tivéssemos uma inteligência dentro do nosso corpo capaz de detetar qualquer intruso.
Os especialistas acham sempre que o seu órgão de estudo é o mais fascinante. O cérebro, o coração, os intestinos…
Mas o sistema imunitário é mesmo uma coisa extraordinária. (risos) Não é como os olhos, o coração, não o sentimos. Parece que não temos sistema imunitário. Mas quando alguma coisa estranha tenta entrar no nosso corpo, ele tem várias estratégias e ativa-as prontamente. Digo muitas vezes nas aulas que é como a tropa, um exército com diferentes ramos. E, depois, os vírus tentam fugir ao sistema imunitário e o sistema imunitário tenta adaptar-se. É quase uma luta de titãs. E enquanto nós temos uma vida, os vírus têm milhões de vidas que vão tentando furar as nossas defesas.
Há estudos que sugerem, no caso da vacina da gripe, que uma pessoa deve dormir bem antes de a tomar, até o estado de espírito pode influenciar a proteção. É verdade?
Muitas vezes há essas coisas que vêm até de alguma sabedoria antiga, mas que fazem sentido. Quando vamos vacinar-nos temos de ter um sistema imunitário competente. Não se pode estar cansado, exausto. Uma pessoa não pode estar imunocomprometida, não pode ter tido uma doença há duas semanas, ir vacinar-se e esperar uma boa resposta. Uma vacina tem de encontrar um sistema imunitário competente para responder da melhor maneira. Nesse sentido, tudo o que for uma estimulação saudável do sistema imunitário – por exemplo, o reforço de vitamina C no inverno – faz sentido. Não quer dizer que a vitamina C ataque o vírus, mas reforça o sistema imunitário.
Perante esse comprometimento, como funcionará a vacina em doentes oncológicos?
Se for uma doença oncológica ativa, um doente que esteja em quimioterapia em que as células estão a ser destruídas, o sistema imunitário fica mais comprometido. Não vão responder da mesma forma.
A questão não é tanto a segurança, mas a proteção que vão obter?
Exatamente. Não é ser perigoso para o doente oncológico, mas ele não responder da mesma forma. É a mesma questão que se coloca para os idosos. Sabemos que não vão responder à vacina da mesma forma que alguém imunocompetente. E isso leva-nos para os efeitos secundários: nos ensaios das vacinas da covid-19, vimos que os efeitos secundários nas pessoas mais velhas são menores do que nas pessoas mais novas. Os efeitos secundários resultam da ativação do sistema imunitário parar criar defesas, que será sempre maior nas pessoas mais novas.
Já classificou o plano nacional de vacinação da covid-19 como otimista. O que pode correr mal?
Penso que do ponto de vista do conceito e desenho, está bem idealizado. Quando digo que o plano é otimista é no sentido em que ainda não conhecemos metade dos dados importantes que nos permitam dizer que vamos ter um sucesso sem espinhas do plano de vacinação. Em termos de desenho, acho que está ótimo: primeiro, realmente proteger pessoas de maior risco e aqueles à volta com quem têm maior contacto; e só depois, quando tivermos mais dados – e vamos ganhar muitos desses dados na primeira fase de vacinação, em que se vai chegar a 950 mil pessoas –, é que será possível afinar a estratégia. A única coisa que sabemos neste momento são os 90% de eficácia. O que significam? Que há uma possibilidade de 90% de a vacina nos proteger de ter doença. Nada nos diz se a vacina nos protegerá de sermos infetados mas sermos assintomáticos e transmitirmos o vírus para outra pessoa. Foram questões que não foram estudadas. Não temos dados que nos permitam dizer que vamos ter rapidamente uma imunidade de grupo ou que vamos ser capazes de controlar a epidemia rapidamente, e mesmo nos grupos de risco. E repare, mesmo quando uma pessoa é vacinada tem de esperar pelo menos cinco a seis semanas para ter a sua imunidade bem instalada.
Tanto? Têm sido referidos períodos mais curtos.
Prefiro trabalhar com o que nos dizem os ensaios clínicos. Avaliaram a proteção uma semana depois da última dose. Isso dá-nos claramente à volta das cinco semanas. Se começarmos a dizer que é dez dias depois da primeira dose, que são nove, as pessoas começam a relaxar os cuidados.
A senhora Margaret Keenan, a primeira vacinada no Reino Unido, não deverá ter menos cuidado no Natal e Ano Novo?
Exatamente. E, além disso, não sabemos como os mais idosos vão reagir em termos de imunidade, pela tal questão da imunocompetência. E temos experiência com a vacina da gripe, que nos dá alguma ideia de que poderemos ter um problema de imunização nos mais idosos. Na vacina da gripe, os mais idosos têm uma eficácia à volta dos 30%, 35%. Os mais jovens conseguem uma eficácia à volta de 60%. Quando ouvimos falar de eficácia de 90%, teremos de estratificar isso nos diferentes grupos etários e perceber que a imunidade não é igual em todos.
Portanto, mesmo que dê para vacinar os grupos de risco e mais idosos na primeira metade do ano, ainda ficaremos distantes da imunidade de grupo e será preciso manter as outras medidas?
Creio que sim. A imunidade de grupo é sempre a soma de duas coisas: proteção direta e indireta. Temos um grau de proteção que virá, agora, da vacina, mas a outra parte são as medidas individuais que temos tido ao longo da pandemia. Quando toda a população estiver vacinada, poderemos começar a perceber se essa imunidade de grupo está instalada e começar a ter a liberdade que tínhamos anteriormente. Não pode ser uma questão individual, as pessoas pensarem que, de um momento para o outro, depois de estarem vacinadas, podem começar a andar na rua como lhes apetece.
Quando antevê que seja atingida essa imunidade de grupo?
Já saiu um estudo que diz que, na Europa, a imunidade de grupo só vai ser atingida no terceiro trimestre de 2021. É a minha posição também, quando chegarmos aos 60% a 70% de pessoas vacinadas. Agora, é preciso não esquecer que isto parte do pressuposto de que a eficácia da vacina será em torno dos 90%, que é o melhor cenário. Se tivermos um cenário de menos eficácia, temos de vacinar mais gente.
O que antevê como pior cenário?
O pior cenário seria haver rutura de abastecimento das vacinas. Temos de nos lembrar que são milhares de milhões de pessoas que vão querer ser vacinadas. As empresas vão ter de fazer estas vacinas com o máximo de qualidade e os reguladores são bastante exigentes. Se houver algum problema, as empresas vão ter de o resolver e parar a produção. Temos de encarar estas possibilidades. O pior dos cenários seria só no final do ano termos os 70% de pessoas vacinadas. Teríamos ainda um Natal um bocado chato.
Tem-se falado de ser exigida vacina para trabalhar, para viajar. Faz-lhe sentido?
É difícil responder porque a minha opinião é que devíamos ter toda a disciplina pessoal de percebermos a importância de nos vacinarmos. Vai haver certamente 30% ou 40% das pessoas que vão ter muita resistência à vacinação. O que se vai fazer? Se precisamos de 70% de pessoas vacinadas com uma eficácia de 90%, se tivermos 30% a 40% da população que não se vacina, já estamos a diminuir a possibilidade de se atingir a imunidade de grupo. Se a eficácia for menor, menos ainda. Nesse sentido, todas estas questões de hesitação vacinal são um problema sério. Quanto mais pessoas não forem vacinar-se, mais difícil vai ser atingir a imunidade de grupo. Penso sobretudo que temos de conseguir transmitir essa informação às pessoas. Precisamos de um plano de educação forte e já, não é em janeiro, para que as pessoas saibam o que é uma vacina, como funciona, os efeitos secundários. O risco de morte ou de doenças autoimunes que durem para a vida toda pode existir em algumas vacinas, mas nestas não temos indicações de que isso possa acontecer.
Não seria cedo para ter?
É cedo, mas as pessoas que foram vacinadas nos ensaios clínicos não tiveram efeitos secundários dramáticos. O problema coloca-se quando começamos a vacinar pessoas que não foram envolvidas nos ensaios clínicos.
No Reino Unido, ao segundo dia colocou-se a questão das alergias, depois de dois profissionais de saúde terem choques anafiláticos.
Naturalmente, as pessoas ficaram alarmadas, mas a agência reguladora já devia ter dito que estas pessoas não deviam ser vacinadas. Sabia que pessoas com alergias não foram envolvidas nos estudos. Estamos a falar de pessoas com historial de alergia grave, que andavam com canetas de adrenalina.
À partida, a Agência Europeia do Medicamento (EMA na sigla inglesa) já iria recomendar que pessoas com alergias não sejam vacinadas?
Penso que sim. Na minha opinião, o que se passou no Reino Unido foi falta de algum cuidado. Tal como as grávidas e as crianças não foram colocadas nos grupos de vacinação, por não terem entrado nos estudos, a mesma cautela devia ter sido tida com as pessoas com alergias graves.
A mesma questão não se coloca para os mais idosos?
A minha opinião é que deve também haver cautela. Todas as pessoas que não estiveram envolvidas nos estudos não deviam ser vacinadas nesta primeira fase. De facto, não temos muitas informações para pessoas com mais de 75 anos. É apenas uma questão de ser prudente: entrariam primeiro as outras pessoas e, com mais dados, entravam numa segunda ou terceira fase.
Depois de o Reino Unido ter começado a vacinar pessoas com mais de 90 anos, parece-lhe que a EMA ainda poderá colocar algum travão?
A EMA não tem nada a ver com a agência inglesa, é independente. Penso que poderá fazê-lo. E até se pode partir do princípio de que se pode vacinar estas pessoas. Agora, é preciso que quando isso ocorrer se tenha presente que são populações de risco que não foram incluídas nos ensaios e, por isso, o cuidado que se deve ter quando se vacinar tem de ser redobrado. A EMA é que vai definir as características de utilização dos medicamentos. Sabemos que nas populações que entraram nos estudos não houve efeitos secundários dramáticos. Vemos casos de cansaço, dor de cabeça, alguma enxaqueca, dor no local de administração, inchaço. Agora vou pôr uma pessoa que não entrou nos estudos, o que vai acontecer? Não sei. Com mais informação, as bulas podem mudar ao longo do tempo.
Em Inglaterra recomendaram que as vacinas sejam dadas em locais com meios de ressuscitação. Será necessário haver sempre desfibrilhadores, nomeadamente nos lares?
Penso que, mais uma vez, foi um alarme desnecessário para toda a população. Deve-se identificar as pessoas de maior risco e, de facto, pessoas com mais riscos, se se quer que sejam vacinadas, serem vacinadas nos locais com esses meios.
Uma das cobaias da vacina da Pfizer contou-nos que teve de continuar a usar máscara, a ter todos os cuidados. Como se sabe se a eficácia da proteção não resulta também disso?
Não se sabe. E isso, para mim, é uma das fraquezas dos ensaios: não sabemos se as pessoas foram menos infetadas ou não por terem a vacina. Neste momento sabemos apenas quem teve ou não doença e, desses, os que tinham levado a vacina e os que tinham levado placebo. Não houve um estudo serológico geral. Os dados de proteção são clínicos.
Se houve menos idosos nos estudos, não é expetável que houvesse menos casos de doença grave?
Sim, mas nunca seria possível envolver os idosos da mesma maneira. Se tivéssemos envolvido os idosos nos ensaios clínicos, o risco era muito maior. O processo seria mais lento. Os ensaios puderam ser feitos em pouco tempo porque, essencialmente, são pessoas em idade ativa, que foram fazer a sua vida normal e foram infetadas. Os idosos não teriam a mesma capacidade de serem infetados.
Em teoria, se não houvesse perdas de vidas, seria melhor a infeção natural para se ter defesas?
No caso da infeção natural, os estudos que temos feito na Faculdade de Farmácia mostram que é muito heterogéneo. Pessoas que têm muitos sintomas – doença moderada a grave – têm uma resposta de anticorpos muito forte e que se mantém mais tempo do que as que tiveram uma doença mais leve. Pela via da infeção natural seria assim, depende. Numa vacina, o que queremos é que todas as pessoas gerem uma imunidade forte e neutralizante. E isto é o essencial: não é só ter anticorpos, mas anticorpos que se agarrem ao vírus e não o deixem entrar dentro das células. Esse será o indicador mais forte de que vamos ter imunidade e por isso digo que tem de haver um plano de monitorização, que ainda não vemos ser montado. Não interessa saber se há ou não anticorpos e acho que as pessoas às vezes são um bocado enganadas pelos testes serológicos. Não interessa ter ou não, interessa se os anticorpos são bons.
Nessa lógica, conseguir imunidade de grupo só pela infeção natural parece hoje mais irrealista? Saiu um estudo que mostrou que 76% das pessoas em Manaus foram infetadas e continua a haver covid.
Tudo indica que não seria muito eficiente, a menos que 70% das pessoas fossem infetadas e tivessem doença moderada a grave. As vacinas são invenções extraordinárias da humanidade. As pessoas não se dão conta. Todo o estilo de vida que temos hoje só é possível porque conseguimos controlar as doenças que estão à nossa volta.
Porque começamos a levar vacinas na maternidade?
Imagine estarmos constantemente a ser infetados e criarmos imunidade de grupo só pela infeção natural… Teríamos uma esperança de vida de 40 ou 50 anos.
Se parássemos de vacinar, voltavam as doenças todas?
Os vírus andam aí. Estão endémicos, adormecidos, e voltariam. E vemos o sarampo: a doença estava dada como desaparecida ou, pelo menos, mais controlada, começou a haver relaxamento da vacinação em alguns países e tornou a haver grandes surtos.
E o objetivo agora é adormecer a covid?
É esse. Não sei quando será, mas certamente o SARS-CoV-2 ficará endémico. Mais três, quatro anos. Vamos ouvir falar da covid como uma doença que as pessoas têm, já sem este impacto. Dependerá tudo de vários fatores, da sazonalidade da infeção, da imunização, dos cuidados. Tudo isso é o que vamos ver daqui para a frente.
Sente-se mais vezes a ter de refrear expetativas ou a dar ânimo?
Acho que se deve dar ânimo. Dizer às pessoas que temos uma arma fundamental para sairmos desta situação. Não é a única arma nem é a arma perfeita, é a que temos. Em termos de segurança, creio que os estudos nos dão essa garantia para as pessoas que entraram nos ensaios. Quando disse «não tenham medo» era disso que falava. Em termos de eficácia, temos bons resultados e vamos saber mais no próximo ano. Há pessoas ansiosas por largarem a máscara. É aí que temos de refrear. Teremos mais uns meses largos de máscara até termos dados clínicos, laboratoriais, que nos digam que correu tudo bem e podemos começar a desanuviar.