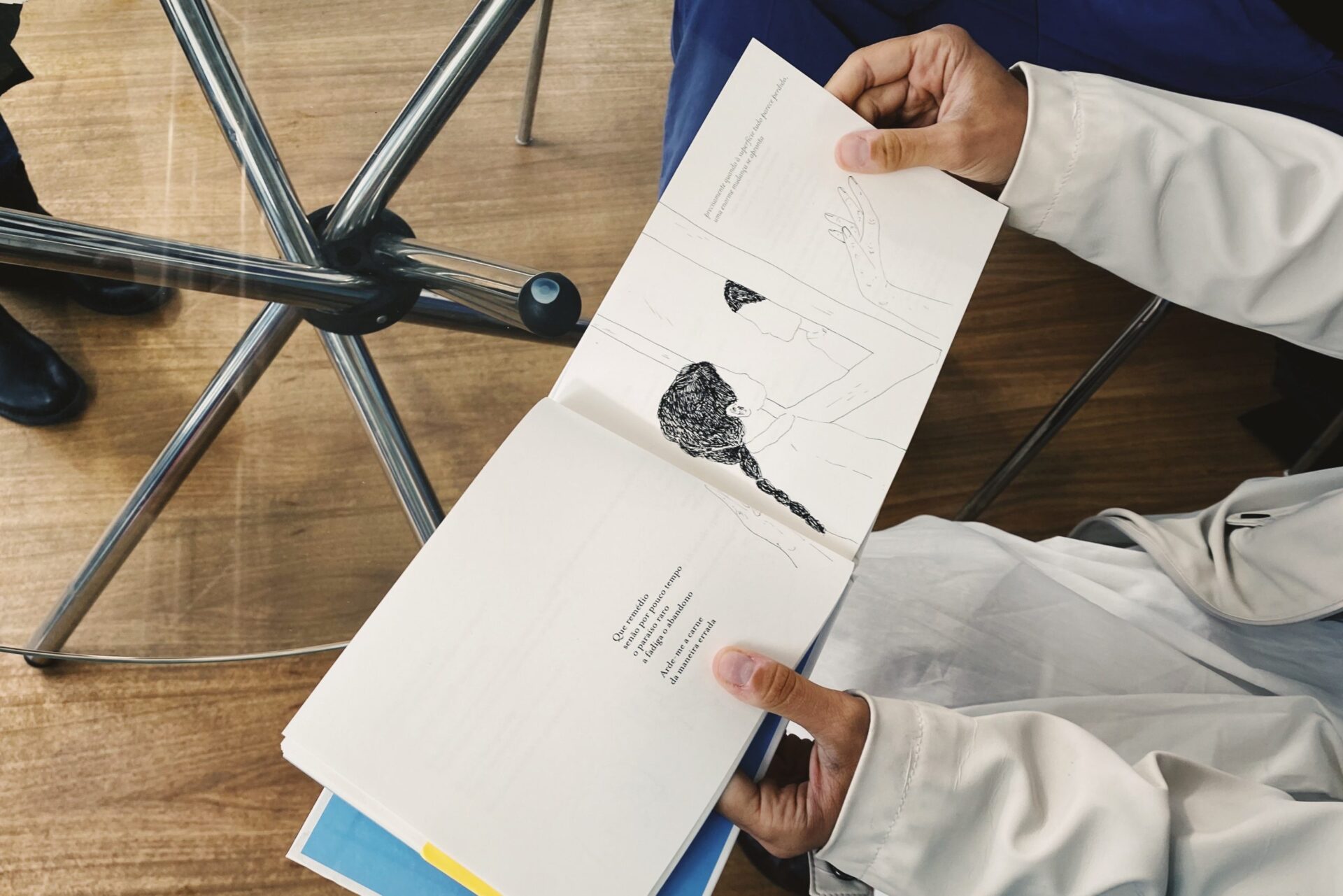Os elementos mais venenosos de uma época não estão ocultos, mas são de tal modo evidentes que forçam uma habituação em nós, derrotando o ímpeto que nos faria resistir. Por toda a parte, hoje, sentimos a imposição de um ruído que se sobrepõe e nos atinge os nervos, nos mói e desagrega os impulsos, atrofia essa glândula que afina os sentidos e cultiva uma vontade de persistir na companhia de coisas de nada.
Alguém notou em tempos o carácter anacrónico da escrita, uma vez que esta se obriga a colmatar espaços brancos da existência, “esse nada que imprevistamente se abre nas horas e nos dias, entre os objectos do quarto, sorvendo-os numa desolação e numa insignificância infinita”. Para muitas das coisas que mais nos importam, a sensação que temos hoje é a de que este não é já o seu tempo. E talvez ninguém supusesse como a pior forma de exílio, ao invés de se dar no espaço, pudesse significar uma incapacidade de coincidir no tempo consigo próprio e com os acontecimentos que dariam um sentido aos gestos, que de outro modo exprimem apenas a urgência de um afogado.
Privando-nos do tempo essencial para se desenvolverem certas noções, ou uma consciência mais profunda de si, nunca desenvolveremos o apetite necessário para colhermos os nossos torpores e “comê-los à mão/ como aqueles frutos/ das épocas difíceis”. Tanto do que nos situa face a nós próprios é uma verdade que só se torna útil na sua condição extenuada, “o paraíso raro/ a fadiga o abandono”.
A revolução, por outro lado, parece-nos hoje algo um horizonte já deflagrado, tão remexido em tempos, e hoje inerte, sepultado. É neste quadro que se torna claro como já não há grande caminho nas nossas convicções, mas que é na improvisação que há ainda alguma força. E é com surpresa que damos por nós diante de um livro cujos golpes parecem desferidos com a mão esquerda, “ao longo daquele muro/ que dá para dias depois”.
Poemas e desenhos que, por meio de golpes e glosas, vão desviando e impondo um efeito de refracção admirável a partir da correspondência de Rosa Luxemburgo com amigos e amantes, boa parte dela escrita no período em que esteve presa. Através desse subtilíssimo alcance das frases e intenções desviadas, de uma apropriação que regenera as suas possibilidades discursivas, vai-se abrindo um caminho entre os “ecos e as entrelinhas”, com Miguel Cardoso e Maria Lis a operar colagens sensíveis, na linha desse deslocamento de si para o outro, essa interpretação ou leitura que é feita de uma abundância de sinais que não deixam de soletrar a incerteza que faz de tudo uma cerimónia.
Fazer a voz de outro às vezes é um modo de se ser tão mais íntimo de si, ter essa paciência de compor cada passo em escuta, e aguardar na volta da esquina o anjo que chega atrasado, e que busca o sentido que pressentimos no esforço de desencadear um eco décadas ou até séculos mais tarde. Assim algumas palavras do passado, como água de acéquia, aproveitam o embalo do tempo para impor um tumulto na vida interior de mais alguém.
É esse o manso trabalho dos dias e semanas no cativeiro onde uns são lançados e onde outros se escudam da miséria do mundo. Aí os anos adquirem enfim uma espessura que vai além dos nomes e das recordações. Há um ávido anzol que percorre estas páginas, cada poema invadindo e desgarrando um espaço de intimidade que luta contra a amarga teia do enfado.
Entre água de sonho, fonte de cinza, a afinidade que se estabelece abre margem a uma forma de audácia expansiva que vinga pela capacidade dos versos e desenhos se manterem fiéis a essa intuição capaz de formular, a partir de precárias anotações, uma razão diversa, e “à luz do perfeito/ estado perdido de tudo// Apagar o mundo, trazer outro”.
Nada neste livro se oferece segundo o esperado. Vamos sendo encontrados nestas minuciosas reparações de um sentido que nos lance no “tempo que há-de vir”, de tal modo que nos damos conta de que a vida a existir dependerá, por agora, de “êxodos momentâneos”, de um esforço de inventá-la, prometer-se um tempo depois deste.
“Dir-te-ei, logo que possa, como havemos de viver// onde, quando”. São estes dois advérbios que são puxados para o título desta obra, e Miguel Cardoso identifica este regime de restituição poética com “modos de escandir o mundo, no corte e recorte das nossas frases, no traço e no fora-de-campo dos desenhos. Entre poemas e versos, sem haver uma correspondência imediata ou forçada, damos por “uma rima, por sorte imperfeita, nos nossos jeitos”.
Nem o posfácio, ao explicitar de algum modo este processo, magoa o inesperado desta criação, que fica a dever-se a essa cumplicidade desarmante como se entretecem lugares e gestos provisórios, dando-lhes um outro alcance. O tema aqui é o da espera, dos seus frutos tão demorados, da força de uma linguagem esplendidamente talhada, dessas inclinações que contagiam a realidade de um efeito fantasioso.
Cardoso adianta que “o espaço da espera não é um terreno vazio e aplanado, neutro, e Maria Lis leva-nos a “pensar no formato das ilusões de óptica, não como entretenimento, mas como bálsamos. Sem haver ainda uma forma de chegar ao outro lado, diz-nos que resta esta forma de recreio: “improvisa-se, espera-se o colapso”. A realidade vai aceitando essa transposição ou transplante operado por meio de subtilezas, e os desenhos também nos aparecem como um modo de dizer as coisas – “regadores, cabides, pássaros, agulhas, linhas, espelhos, livros, muros, vestidos, cabelos, nós, pentes”…
Os desenhos parecem feitos num traço quase de murmúrio, mais de quem toma o cuidado de limpar-nos a vista, com um traço tão leve como se fizesse emergir lembranças de um porvir, registos interiores, o modo de alguém refazer o seu corpo numa gestualidade tocante, como pedaços de uma coreografia aberta, detalhes dançando uns com os outros. Ou, de outro modo, há desenhos que nos surgem como indicações, explicando alguma coisa, referindo-se a algo, procurando os elementos essenciais.
São desenhos feitos com uma vara que se estende entre dois mundos, linhas que se adivinham numa superfície frágil, à flor do imprevisto. Este inventário vai operando um movimento hábil para diante (“passaram naquele dia/ frases que eram entre nós/ fórmulas para diante”), e isto alimenta o tom encantatório e conspirativo dos versos, palavras que apontam para uma região onde as coisas aderem mais à nota cardíaca, “mas não por um lugar/ mais ameno justamente// por um mais rigoroso.
Estes versos vão apenas até meio e preparam o espaço ao redor. “Inspecciono os vasos de flores/ Ponho-lhes água fresca, mudo-os de lugar/ O resto cabe ao mundo revolver”. Sem ser nunca claro o seu alcance, a pregnância destas correspondências e afinidades fica a dever-se a uma condição suspensiva, a uma interrupção desse acelerado regime que nos cerca.
Os olhos persistem “na beleza/ como se fosse direcção”, como se apontasse um caminho ou sentido. E se as imagens que se fixam apenas duram um instante na trémula contraluz, deixam um resíduo inquietante e doce. E este é outro dos elementos tão notáveis neste livro, esse poder de suspensão que traz de volta ao corte que do verso, e que funciona a par com outros modos de elisão, e que força uma diferença acentuada numa altura em que o registo publicitário que se impôs na comunicação vê hoje aparecerem tantos versos que se organizam numa verticalidade insossa, distraindo-nos com todo o tipo de momices e graçolas ou enlevos desesperantes.
“E antes de as pessoas do nosso tempo chegarem ao ponto de abrir um livro, já um tão denso turbilhão de letras mutáveis, coloridas, conflituosas caiu sobre os seus olhos, que as possibilidades de penetrar no silêncio arcaico do livro se tornaram escassas”, vincava Benjamin, antecipando a forma como “os enxames de gafanhotos da escrita que já hoje encobrem o sol do suposto espírito aos habitantes das grandes cidades, irão tornar-se mais densos de ano para ano”. O que este livro recupera é essa anterioridade da relação e dos ritmos cunhados subtilmente ao longo de uma espera sem fim à vista… “fabricaremos avanços e recuos/ utensílios verosímeis de conter/ e mesmo um contexto frutuoso/ para as nossas formas de adiar// e um corpo que saiba/ onde assentar sem remorso o sentido/ da palavra doravante”.
“Então colho de cartas as frases// Formas danadas de dizer depois”, dizem-nos dois versos cruciais, e Maria Lis esclarece no posfácio como “as cartas são simultaneamente pontos de chegada e pontos de partida, elos num mecanismo em construção. Enquanto uma troca de cartas se dá, nem o remetendo nem o destinatário podem supor o mapeamento final que este fluxo possa tecer. Trocar cartas é como ver de cima um rio a fazer-se, da nascente ao mar.” E é crucial notar que o modo epistolar tal como a poesia surgem perante este tempo como formas de falar e buscar sentido que não conseguem acomodar-se-lhe. São formas tidas como obsoletas. Mas é no sentido em que estas permanecem tão improdutivas, defendendo como inegociável os seus termos, que há nelas a promessa de um “outro dia, outra terra”… “Reitere-se, pois, o que está por vir// que como tu e contigo também eu// me ajeito agora sem graça/ às formas que temos à mão”.
E o mundo ou a natureza encarados hoje meramente como algo que deve ser explorado e transformado de forma a sustentar ideias de conforto e de bem-estar que apenas produzem uma decadência generalizada da vida, pouco a pouco, vem a ser retomado, desde logo tendo em conta essa habilidade de se reconhecer na fidelidade à terra, às estações, às realidades imutáveis: “Um torcicolo cata formigas na erva rasa/ enquanto elas arrancam a um escaravelho/ devagar uma a uma as patas na verdura// além do muro// ninguém vê/ a flor do ulmeiro/ ou sente o tremor/ de tudo isto// a não ser nós// bichos sem prazo/ aves do tempo errado/ plantas fluentes na lonjura”. Rosa Luxemburgo tinha ideias tão naturais e arrasadoras para a normalidade da vida política, essa condução dos destinos que nos leva uma e outra vez para a barbárie, essas suas ideias revolucionárias estavam em equilíbrio com o seu interesse pela botânica, a geologia, a ornitologia, que vão comparecendo na “canção sumida” que se ouve nestas páginas, uma canção dessas que nos conquistam por marcar a qualidade da presença de alguém ocupado com as suas tarefas, a sua religião privada: “durmo sobre os nomes/ suaves monótonos precisos/ de certas plantas (…) pássaros que sei de cor”.
Há inúmeros momentos neste livro que reconfortam pela qualidade dessas ocupações simples, essas que nos dão a oportunidade uma e outra vez de “ir acertando dons austeros”, “cuidar de delírios ligeiros”. “Vou arejar a cama// Revezar o histórico e o abstracto/ o proveito de misérias e doçuras// Conto, entre paredes, passos/ como frases. Vagos, pausados// Faço render memórias e ladainhas”.
É uma forma de disponibilidade para “o que houver/ de imprevisto”. Essa abertura que retira algo mais de uma relação sucessiva. “Na parede emolduramos/ uma linha, delicada fúria”… Miguel Cardoso acolhe o tempo nos seus versos como uma “paisagem vigiada”, dá-se conta ainda do “primor com que nos agasalhamos/ para conter os gestos, enfim, guardar/ no interior, dobrado, um mundo inteiro”.
O quotidiano surge então como um sudário para quem sente a sua vida represada, e testa esses limites, anda para trás e para diante, conspira com as coisas que lhe faltam e as que permanecem… “Fiz um chá amargo, deitei-o fora”… Noutro momento, Rosa fala-nos na “gentileza com que arreda o presente/ encostando do rádio as miudezas do dia/ ao ouvido, cantando como as coisas são”. Umas páginas à frente, nota como, “sobre um pequeno arbusto de aveleira// uma toutinegra recita/ o elogio da loucura duas vezes// e devolve-me a razão/ de devaneios em cinza/ azul pastel, perdão e purga”
Entre os apontamentos, sentimos “o passar analgésico do tempo”, essas razões que entretemos, o enredo íntimo que leva a que cada um saiba estimar o seu silêncio. Também por isso nos sabe melhor ouvir alguém falar sozinho, alto, sem perder o fio, sem se inquietar com a possibilidade de ser escutado, apanhado imerso nas suas coisas. Esta dilatação faz parte da instrumentação da espera, sempre que se sente também como “os objectos aguardam o seu uso”. A revolução, afinal, também passa por admitir essa impossibilidade de correspondência com os nossos mais íntimos anseios. “A revolução/ quero eu dizer// se nos desvendar, será por fora// não como substância ou sentido”.
Importa aqui esta tensão do que não se pode entender perfeitamente, este desdobramento das hipóteses de leitura que se confunde com o próprio fluir da vida. “Quando o levaram/ o sol acendia-nos e às flores/ a caminho da prisão/ e no retorno a casa// Ainda que pudesse/ não me pouparia a nada// Não nos escusamos”.
A construção da realidade depende desses inventários que vamos fazendo, “como se ali fosse possível quebrar uma certa ordem do mundo” (servindo-nos de uma expressão de outro autor). Quando perguntaram a uma personagem de um filme que coisas ia arrancar de uma corda de roupa, ela respondia: as que amo. Esta intensidade torna claro o quanto o gosto e a admiração comportam algo de sobrenatural no sentido de uma existência que se consagra a essa liberdade ao alcance de qualquer um e de que, por razões exteriores, a maioria das pessoas abdicam. “Sou a favor do luxo/ de nuvens e pássaros// e estar deitada num domingo do mundo”.
Outro dos triunfos essenciais à tão harmoniosa composição deste livro, a par da discrição e da imprecisão, é o não haver nele lixo, versos pretensiosos atafulhados de impressões inócuas, verbos de encher, metáforas engessadas, insistências rebarbativas, esforços de pronúncia a querer pôr as coisas por extenso. Aqui, as inscrições salvam-se pela sua dimensão evanescente, mesmo quando se sente que o poeta não resiste a fazer uma vénia ao seu dom: “Não saberás/ o que é morrer de sede/ mas imagina// que gritas/ contra um inferno tão concreto/ assim semeado no teu corpo// e só te responde o sossego/ sublime sacana da eternidade// onde por fim, sem mais, te perdes”.
Este é simplesmente o mais radiante dos livros que se publicaram ultimamente entre nós, não apenas pela sua graça expressiva, pela sua admirável leveza, mas pelo que há nele de instrutivo em termos de propor novas saídas, uma sensação de possibilidades tão invulgar quando mesmo os melhores versos que por cá se publicam andam por aí a tossir cinzas, submergidos num elemento sinistro, num registo enlutado, incapaz de levantar-nos o peso dos ombros como aqui se faz. “Esse mundo, quem sabe/ um outro além/ sem estorvo, em pensamento// vêem-no// mais nítido/ mais longe// de nós os mais cansados// quando, a salvo, mas por pouco/ sem muito pensar ouvem o vento”.
Com composição gráfica de Inês V. Oliveira e selo da Tigre de Papel, a edição acolhe idealmente o tom do livro, num minimalismo onde o branco tem o gosto da espera, e a avidez do espírito faz-nos pensar nesse recreio ínfimo que encontram aqueles que se vêem enclausurados: “Bem sei, amas o nada, e não pelo seu valor mínimo, mas porque se pode jogar com ele de maneira arguta e leve, como um pardal loquaz, e por isso creio que uma prenda te seja tanto mais cara e bem-vinda quanto mais do nada se avizinhe”, escreve Magris numa passagem em que fala de amigos que trocam entre si textos cujos significados apenas se aclaram pelos movimentos que se desenham entre os dois. E o primeiro poema do livro começa também por agradecer uma cumplicidade dessas: “Antes de mais, obrigada/ pelos feijões, pelos doces, pelo termómetro/ pela tua carta, outra vez/ pela blusa, a que darei uso/ quando for tempo/ pelo Hölderlin também/ e pela existência ocasional das tuas mãos”.