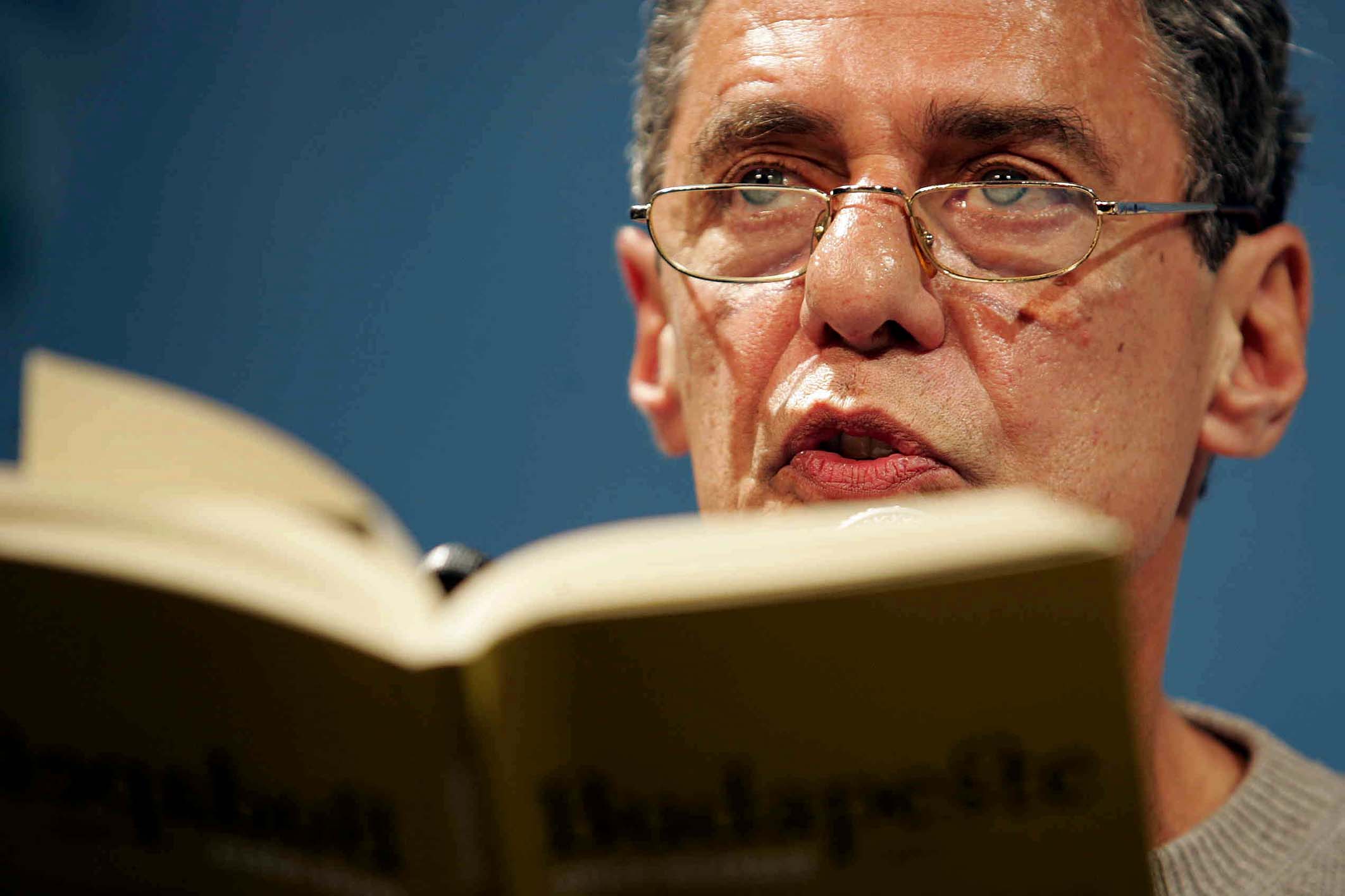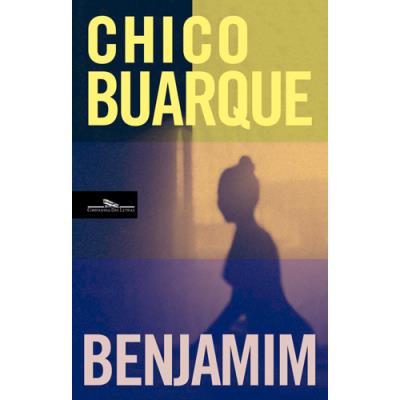Ninguém espera de um homem que tem tudo, que ainda tenha aquelas coisas que se servem frias, como consolação para os que não têm mais nada. Os que se aferram a um talento tão discreto, tão difícil de ser figurado, apresentar-se em contexto social como é o de escritor. Ernest Hemingway, no discurso da cerimónia em que lhe foi entregue o Nobel, em 1954, notou que «a escrita conduz, no melhor dos cenários, a uma vida de reclusão. As organizações de escritores não fazem mais que servir paliativos à solidão do escritor, mas duvido que o ajudem com a escrita. Ele ganha estatura junto do público quando começa a esquivar-se à sua solidão, e muitas vezes, em resultado disso, o seu trabalho começa a deteriorar-se. Porque lhe cabe enfrentar o mundo a sós, e se for um escritor a sério terá de enfrentar a eternidade, ou a ausência desta, a cada dia que passa.»
Com Chico Buarque, no entanto, dá-se um fenómeno curioso. Ele não é só o extraordinário compositor de canções que caem no búzio do ouvido de todos, mas além da sua lenda enquanto cantor que muito cedo, com pouco mais de vinte anos, se tornou um herói-galã no seu país, e mesmo se o seu forte sempre foram as letras, o mais invulgar é perceber como foi para lá do meio do caminho da sua vida que ele se revelou um ficcionista de excepção; um escritor a sério, na definição que nos serviu Hemingway.
A Companhia das Letras (editora brasileira que galgou a fronteira atlântica e tem tentado colocar o sabiá a cantar nos ramos do sobreiro) iniciou, em 2015, a reedição da obra literária de Chico Buarque, publicando O Irmão Alemão (2014) e Leite Derramado (2009), a que se juntou, em julho passado, Benjamim (1995). Semanas antes, a Alfaguara deu à estampa A Banda, um livro que parte da canção que o lançou para a ribalta, em 1966, vencendo o II Festival de Música Popular Brasileira, e a reinterpreta, desta vez na forma de um livro infantil, com ilustrações de Nádia e Tiago Albuquerque.
A Portugal, os cinco romances de Chico – além dos já referidos, há ainda Estorvo (1991) e Budapeste (2003) – foram chegando, saíram até nalgumas das melhores colecções de ficção, mas a reacção da crítica foi pouco mais que anémica, sem nunca descolar da imagem do próprio cantor, aparecendo a escrita mais como uma curiosidade, outra manifestações do seu sobrenatural encanto sedutor.
Numa entrevista a um jornal argentino, em 1999, quando tinha ainda só dois romances publicados, Chico já avisava que considerava a sua literatura mais inovadora do que as letras das suas canções. Já em 2015, e depois da publicação de O Irmão Alemão, numa outra entrevista, lembrou que a literatura sempre esteve lá, que era um facto central à sua identidade e àquilo que se via a fazer no futuro: «Foi também uma maneira de me aproximar de meu pai, que passou a vida entre livros. Eu diria que, antes de ser músico, queria ser escritor. Até que a música apareceu na minha vida e embarquei nela. Mas não abandonei a ideia de me dedicar à literatura. Nos anos setenta, publiquei meu primeiro romance, nos oitenta, o segundo. Desde então alterno as duas coisas. Quando faço uma, não faço a outra, porque me consomem muito. Quando estou escrevendo nem sequer ouço música.»
O pai, o historiador Sérgio Buarque de Hollanda, foi um dos grandes intelectuais brasileiros, e a infância de Chico ficou marcada pela aparição dessas emblemáticas, tanto quanto enigmáticas figuras entronizadas. E, no entanto, como revelou Clarice Lispector depois de uma visita que Chico lhe fez, certa tarde, nunca lhe desinteressou o preço que se paga por uma obra que encontre o seu lugar no convívio da eternidade: «fez-me várias perguntas sobre meu modo de trabalhar. Eu lhe disse: ‘Você, apesar de rapaz que veio de cidade grande e de uma família erudita, dá impressão de que se deslumbrou ao mesmo tempo em que deslumbra os outros com sua fala particular: já se habituou ao sucesso? Dá impressão de que você se deslumbrou com as próprias capacidades, entrou numa roda-viva e ainda não pôs os pés no chão’.»
A escritora encontra nele a qualidade de uma figura pura, sentindo um dedo na corda da melancolia, uma certa tristeza de ter sido descoberto, «aniquilado pela fama», não sendo mais sua a iniciativa de revelar-se ou esconder o que quisesse. De resto, um traço assumido tantas vezes por Chico em entrevistas é a sua timidez, própria de quem acaba vítima de histórias e lendas inventadas por outros e que, sem grande pudor, se desembaraçam logo da realidade.
Já o pai, em 1991, avisou que o público não tinha a imagem correcta do seu filho. Alguém que, «pelo menos em família e com os amigos, é completamente diferente, um rapaz brincalhão, extrovertido, bem para fora. Quando ele aparece em público, torna-se diferente. Talvez seja o medo de parecer ridículo».
No retrato que faz do filho, lembra a sua infância, não a de um rebelde, mas a de uma criança normal que revelava, contudo, um incontido desejo de independência: «E essa independência ele afirmava, procurando fazer tudo o que faziam os irmãos mais velhos. Nem um ‘amor de criança’, nem um ‘enfant terrible’. Normal. Não era nem ligado ao pai nem à mãe. Dava-se bem com todos. Com as irmãs, tias e avós. Quando viajamos para a Itália (nesse tempo tinha 8 anos), deixou para avó um bilhete: ‘Avó, vou para Itália. Quando eu voltar, provavelmente a senhora estará morta. Mas não se preocupe. Eu vou me tornar um cantor de rádio. É só a senhora ligar o rádio do céu que vai me escutar’».
É curioso, de resto, como uns anos antes da fama, a primeira aparição de Chico na imprensa não surgiu, como se esperaria, na secção de cultura, mas nas páginas policiais do jornal Última Hora de São Paulo. Como se lê na cronologia que o site oficial disponibiliza: «Chico e um amigo ‘puxaram’ um carro para dar umas voltas pela madrugada paulista, uma brincadeira comum na época. A diversão acabou na cadeia. A manchete destacava: ‘Pivetes furtaram um carro: presos’ e estampava a foto dos dois menores, com os olhos cobertos pelas tarjas pretas. A pena imposta pelo juiz dizia que até que completasse 18 anos Chico não poderia sair sozinho à noite».
Sérgio lembra-se do filho a ler os seus livros, lembra-se de como tomou de Guimarães Rosa um gosto tão grande pelos movimentos da língua que se chegava à amurada das palavras e queria ainda dar mais um passo, ir além do que já continham. Assim, também foi inventando as suas próprias palavras. «Tolstoi e Dostoiévski também eram seus favoritos. Assim como Kafka. Em geral, ele ia lendo tudo o que caía em suas mãos.»
Chico sempre teve o cuidado de rejeitar que o classificassem como poeta. Sabe a diferença que vai de uma letra querendo música, deixando espaço a uma relação com o imediato, ainda que depois se abra e cavalgue cada um dos seus reflexos, sabe essa diferença como a própria Academia Sueca falhou em considerá-la ao atribuir o Nobel a outro fabuloso letrista, Bob Dylan. Como sublinhou Pedro Gonzaga: «Colocá-lo ao lado de nossos poetas retira do campo da música seu poder revolucionário, sem lhe dar nada em troca. Pela mera razão de que na página o que é negro é som, o que é branco é silêncio. Na música o negro e o branco são sons, de voz e instrumentos. A letra encolhe na página; o poema, quando musicado, se enche de pompa, é envolto em um traje que nunca fica sob medida, por mais que seja ajustado.»
E, no entanto, tal como acontece em Dylan, também as letras de Chico trazem o balanço da grande poesia, «os ecos de Bandeira, de Vinícius, de Cabral, de Drummond, que ele tão bem soube transpor, para manter vivos, actualizando a tradição». Só livre desse equívoco é mais fácil perceber o encanto de um artista capaz de produzir um câmbio tão virtuoso entre as línguas que conhece, as muitas mães que armam a sua raíz e berço num lugar onde todos os ventos se combinam na delicadeza de um longo embalo.
Voltando ao início, e aproveitando a reedição de Benjamim, é interessante o facto de, mesmo naquele que foi considerado por boa parte da crítica a obra menor de Chico Buarque, se encontrarem uma combinação de elementos que tornam esta novela, mais de duas décadas depois do seu aparecimento, uma narrativa tão empolgante face a quase tudo o que vem e logo vai apesar das nuvens de incenso que lhe são servidas nas moribundas páginas culturais.
Publicado originalmente em 1995, neste segundo romance de Chico Buarque a prosa lança-se numa vertigem em que a realidade surge como o tumulto da interioridade que os personagens extravasam, com a acção a assumir contornos acidentais, enquanto os personagens se abismam em si mesmos, no seu passado, tudo filmado num equilíbrio poderoso, entre a emoção e o enigma, numa narrativa que pulsa.Edição: Companhia das Letras, julho de 2017Páginas: 144Preço: 15.50€
O protagonista, Benjamim Zambraia, está diante de um pelotão de fuzilamento e não vai ter nem o tempo da súplica, mas apenas os instantes para rever a vida que o deixou ali, numa morte estúpida, quase por erro, num desses devaneios desgostantes em que um homem se aplica, depois de ter escavado uma solidão tão funda quanto assombrada. «Tudo se extinguiria com a velocidade de uma bala entre a epiderme e o primeiro alvo letal (aorta, coração traquéia, bulbo), e naquele instante Benjamim assistiu ao que já esperava: sua existência projetou-se do início ao fim, tal qual um filme, na venda dos olhos.»
Há uma urgência neste livro em que a linguagem é assumidamente cinematográfica, sendo que, na época do lançamento, Chico reconheceu uma certa influência da nouvelle vague na montagem de planos desta narrativa. É um prodígio sensorial, em que poesia e cinema se assistem mutuamente, num relato dividido entre as intimidades deste homem – que já só entende o presente como um eco tentando escapar-se de um passado em que a glória só serviu para enfeitar a tragédia – e de Ariela, uma jovem que rejeita as suas origens e vem para a cidade ser vítima da sua própria indefinição e beleza, tropeçando e arrastando atrás de si o ex-modelo fotográfico, hoje envelhecido, e que revê nela os traços de uma antiga paixão, Castana Beatriz.
Esta novela monta e desmonta épocas e a própria cidade, numa série de paralelos que vão deixando um quebra-cabeças que mostra o mecanismo interno de um ser esmagado pela paixão. Benjamim sente-se acossado por uma câmara invísivel desde cedo, mas a juventude acabou, e com ela a beleza. Habituado a lidar com a fama de ser reconhecido pelas campanhas a que deu a cara, isso só levou a que caísse num mais fundo anonimato, ao deixar a impressão de que é alguém famoso, mas cujo nome ninguém lembra, um rosto familiar mas sem história. Recorre ao seu arquivo de antigas fotografias, e perde-se numa canção tristíssima, um corredor de fantasmas, de longos adeuses, de dilacerante romantismo.
Confirmando, precisamente, este nó de obsessão de Chico com a sua obra literária, o amigo Eric Nepomuceno contou como, quando a escrita deste livro estava no fim, o autor «encontrou um amigo num posto de gasolina. Levava no rosto uma barba de dias, um ar sorumbático, sombrio. Explicou ao amigo que seu personagem tinha acabado de morrer. E contou que sentia-se pavorosamente mal. Quer dizer: nos livros, como nas canções, Chico mergulha fundo, impregna-se na escrita, empapa-se de seu personagem, sua atmosfera. Seu destino».
O lirismo acompanha a imaginação, como uma fé dedicada à captura de detalhes, enquanto o ritmo nos convence de que Chico passou para o outro lado, existe nas suas personagens. Como conta Nepomuceno, o seu nível de exigência e disciplina nos períodos em que se fecha para escrever é «radical, prussiana». «Todo santo dia, ao final da tarde ele se desliga do mundo. E a partir das oito da noite, e até as duas da manhã, escreve de maneira obsessiva. Muitas vezes esquece o tempo, e vara a madrugada. Revisa, refaz, burila, rasga, num trabalho incessante. Escreve, revisa, rasga. Reescreve, revisa, rasga, mas avança um tanto. Uma espécie de Penélope que desfaz hoje o feito ontem, não à espera do improvável Ulisses, mas da palavra exata, da frase que contenha o que ele persegue.»