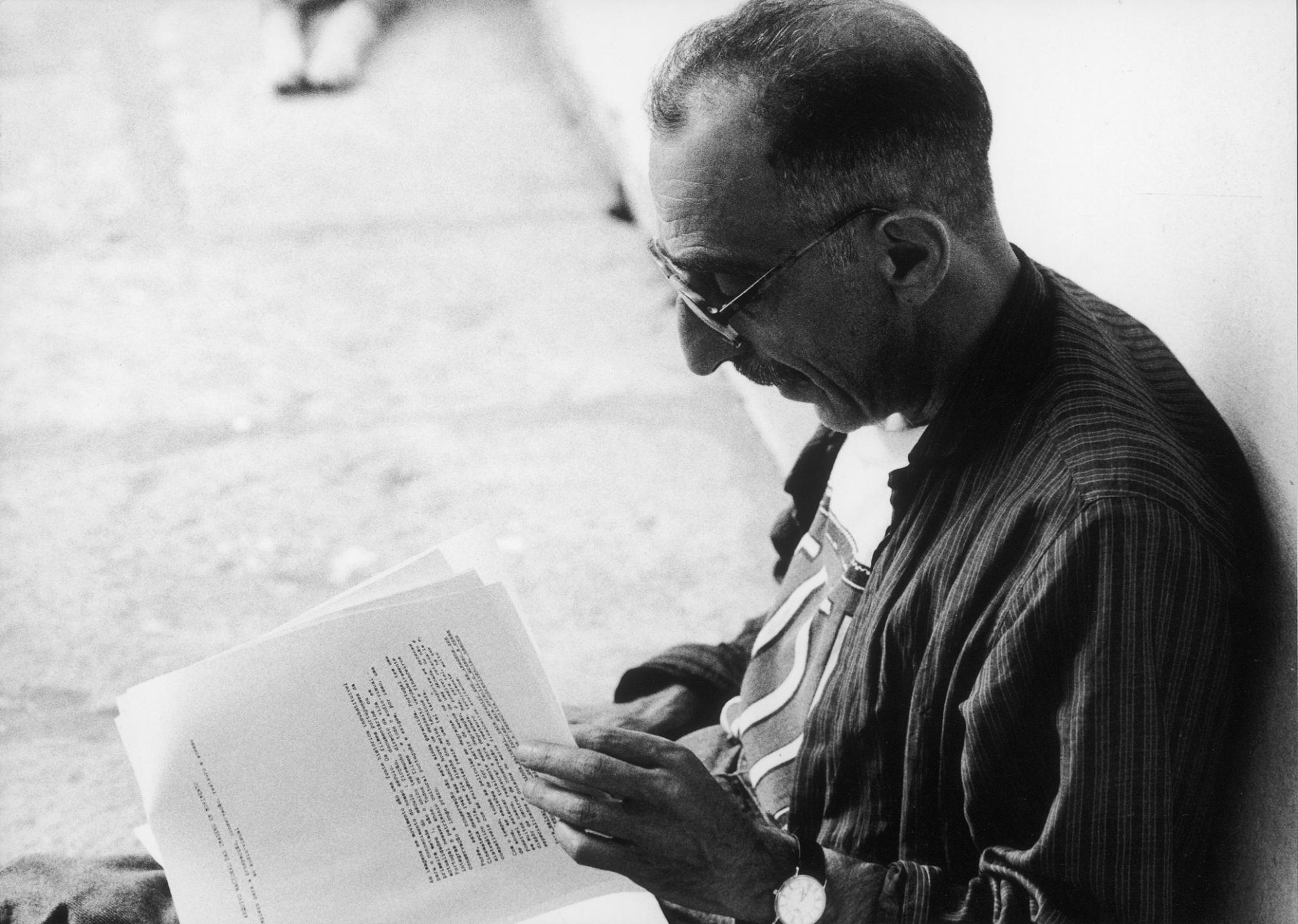Começássemos pelo fim de tudo, pela desfaçatez, pela estúpida e militante ignorância que enche o peito e se vira ao artista, “afinal inofensivo”, esforçado, exposto-inteiro como só poucos, como nenhum outro, talvez, depois. Mas reconheçamos, como ele no final de um dos seus textos de crítica, a “Suddenly Last Summer” – com uma Elizabeth Taylor que “idade já tinha para principiar a ser ‘alguém’ na vida, ou na tela se preferem” –, que aquela podia ser uma obra para se discutir longamente, o que não tínhamos era o direito de a desconhecer. Com a de João César Monteiro passa-se o mesmo. Mas talvez esta não possa ser longamente discutida por tantos. Porque antes do gosto falta às vezes algo mais rudimentar: um vocabulário, ou até ideias claras sobre cinema, literatura ou o que quer que seja. Isso, como é evidente, não impediu que sobre esta se fizessem os piores juízos.
Começássemos pelo fim e logo seria evidente como é ainda cedo para o julgar, muito cedo porque o trabalho está quase todo por fazer, e provavelmente nem seremos nós, que somos todos ainda do tempo e do lugar que o fez sentir-se a mais. Que o enterrou a um qualquer dia da semana depois dessa prolongada doença ou desgraça, como preferia António Nobre, que continua a ser para uns quantos nascer e – talvez pior ainda – morrer em Portugal.
Textos como aquele de JCM recusavam-se sempre a descer as coisas, e mesmo (ou sobretudo) a crítica, ao seu exercício funcionário, acabando mais por resultar em meditações extravagantemente cultas. Punha-se a pensar e pouco se importava se, com isso, ia longe demais. Seria também um exercício para deixar pelo caminho quem não podia verdadeiramente acompanhá-lo. “Só tem direito a legislar para a vida, a defendê-la, a exaltá-la,/quem um dia conheceu até ao alarme o seu destino”. Duas frases de Vergílio Ferreira que JCM puxou como epígrafe do tal artigo, “Bruscamentre no Verão Passado”, de 1961. O que vem depois é uma reflexão de um arrojo, de uma liberdade tão sem complexos, que põe o selim a filósofos e poetas, cineastas, sagitários, se for preciso, e assim cavalgava a perder de vista em direcção ao seu horizonte.
A cada arranque, este fausto de fulgor bandido, fazia rodar o mundo em torno de um sentido muito particular, praticava as suas razões. E se ao retratar a mão com que escrevia diz que, se “tivesse umpouco mais de nervos ou de energia, podia confundir-se com a mão de um músico ou com a de um ladrão”, defendeu-a garantindo que se tratava de “uma mão limpa, delicada”. Mão direita que escreveu: “…creio na nudez da minha vida. Eu não acredito na biografia, que é a vida contada pelos outros.” Palavras que João Nicolau escolheu para abrir a preciosa edição que a Cinemateca Portuguesa lhe dedicou em 2005.
É difícil, portanto, tocar-lhe a esta distância. Porque o seu testemunho é de uma tal veemência, mais vale não esforçar já outro retrato para não insistir no mau gosto de fazer passar dele mais uma caricatura. Muitos ainda dirão que se prestava a isso. E mais ainda continuam a encerrar César Monteiro como um desses “casos” especiais, o chavão que diz que foi um rebelde, os mal-olhados, a quem se agarrou a fama de artistas da trapaça, dos que enganam com uma arte sem sentido nenhum. Acontece que, antes ainda de firmar as suas leis, a obra de JCM começa por viver desse sentido superior que é, desde logo, não se render à vulgaridade do que ainda antes de nos fazer pensar já nos pôs a rir ou a chorar.
O trabalho começa a ser feito. Está aí o primeiro de cinco volumes da “Obra Escrita” de JCM, numa edição da Livraria Letra Livre que recolhe as linhas em que aquela mão primeiro estabeleceu a visão que viria a servir de orientação para os filmes “Quem Espera por Sapatos de Defunto Morre Descalço”, de 1970, “A Sagrada Família”, de 1972, “Veredas” de 1977, e “Silvestre”, de 1981. É preciso explicitar logo que chamar “guiões de filmes” ao que aqui se reúne é lesar inteiramente a natureza de textos que não abdicam em nenhum dos seus passos de um rigor e fôlego literário, mesmo se estão deitados de costas sonhadoramente a planear o salto para a tela.
Na abertura surge agora um verso do antes de tudo poeta, “pelintra mas heróico”, como assinala Vitor Silva Tavares no “intróito inaugural”. Um primeiro aviso do jovem que começou por publicar o livro de poemas “Corpo Submerso”, em 1959, para pouco depois embalar numa das suas fúrias e pôr em marcha o extermínio da edição de autor, paga pela mãe. Mas o verso era: “Dói tanto a reflexão e o peso exacto das coisas…”
Com as mãos (as nossas agora) no livro, soltando as páginas, impressiona de imediato o seu feroz apuro, um balanço seguríssimo e que é satisfeito sem mais que o preto-no-branco. É preciso exaltar a mestria com que a concepção gráfica de Luís Henriques traduz admiravelmente a dimensão mais precária, e nesse sentido ética, de uma obra que perseguiu quase maniacamente uma certa pureza elementar. Cesár Monteiro, como “Autor inteiro”, é homenageado nesta edição por uma série de atenções cúmplices, um esforço feito de cuidados, delicadezas, que uma década depois da morte nos dá a ler a mais elegante e minuciosa arte, a de quem baixava a escrito “o pressentimento do Único”, como chama ao sentido radical que funda a ambição criativa, essa “extremidade” onde se “ganha o direito sagrado de filmar”.
(texto publicado originalmente no extinto suplemento do Jornal i, Liv, em Novembro de 2014)