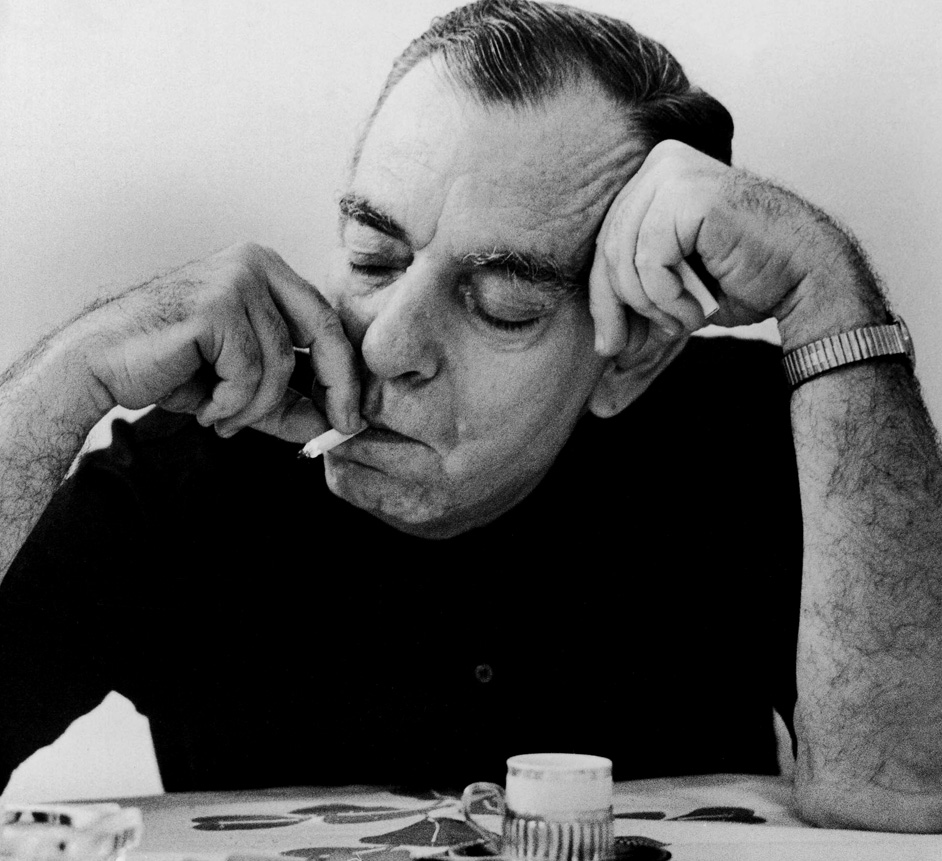Mal o árbitro soprava o apito final, de entre os de crista erguida, a cantar vitória, rindo-se para o outro lado do fosso, para os adeptos da equipa vencida, iniciando a retirada cabisbaixa até casa, sem sonho para alimentar o resto da semana, cada domingo à noite, havia aqueles que largavam numa corrida para a redação, onde iam inventar um genial prolongamento por cima dos 90 minutos do jogo a que tinham assistido. Eram as chamadas «páginas quentes», aquelas que todo o mundo queria ler bem cedo, na manhã de segunda. E entre a legião dos repórteres e fotógrafos enviados para fazer a cobertura dos jogos, estava Nelson Rodrigues, hoje um colosso da literatura brasileira, com as lanças do seu insuperável estilo a desenhar um perfil da alma brasileira. Foi na segunda metade dos anos 50, e num período de intensíssima produção, em que ele, a par da escrita de algumas das peças fundamentais do seu teatro, e enquanto ia aparecendo boa parte dos contos da série A vida como ela é…, que o seu nome, em letras bem gordas, escalou até ao cimo do fenómeno desportivo, tornando-se o «Homero do futebol brasileiro» – como lhe chamou o seu amigo e seguidor Armando Nogueira.
Naquela altura, o desporto deixava de ser um assunto desprezado pelos jornais, e foi Mário Filho, o irmão mais velho de Nelson Rodrigues, o grande responsável por essa mudança. É sua a mais imortal das homenagens, e em honra à luta que travou para que a mítica arena do Maracanã fosse erguida, o nome oficial ficou Estádio Jornalista Mário Filho. Foi ele quem idealizou a Manchete Esportiva, levando os irmãos Augusto, Paulo e Nelson para lá, e a revista logo assumiu uma ambição de modernidade, elevando o nível ao dedicar o talento do mais azul dos sangues, aquele em que mais tinta era impelida pelo coração, para cumprir a máxima que Mário impunha ao jornalismo: «Ele achava que o jornalista não devia apenas reportar a realidade, devia também criar a realidade», conta Augusto Rodrigues. «Assim, ele deu origem à Copa das Nações, trouxe os remadores de Cambridge para o Rio, mandava dez repórteres cobrirem uma corrida de cavalos na Gávea».
Quanto à influência marcante do irmão mais velho, Ruy de Castro, na biografia O Anjo Pornográfico, adianta: «Era compreensível que Nelson olhasse para Mário Filho com a reverência que, no passado, se devia aos maiores e melhores. Tudo que Mário Filho fazia se traduzia em gigantismo: eram as grandes promoções do seu jornal, os livros que todo o mundo admirava, as multidões de jovens nos ‘Jogos da primavera’ e, agora, a pirâmide de concreto no Maracanã».
Sobre aqueles anos em que Nelson veio a definir-se como o mais talentoso cronista do país, fosse qual fosse o tema em que pegasse, e, naturalmente, também quando o seu talento ia de encontrão às matérias desportivas, conta Ruy Castro que «não havia domingo à noite em que as mulheres de Nelson, Augustinho e Paulinho não ligassem para a redação de Manchete Esportiva, na rua Frei Caneca», e isto porque «queriam saber se seus maridos estavam mesmo trabalhando» ou se, porventura, estariam a adiantar capítulos à saga das suas inúmeras paixões.
Foi Augusto quem ficou responsável pela direção da revista, e deu testemunho da azáfama que eram aquelas noites de domingo em que Nelson vinha com um tal embalo, fosse de ter-se estreado no jornalismo aos 13 anos, na secção policial de um título fundado pelo pai, fosse de vir do estádio, com a pólvora já alinhada, precisando só de chegar-lhe o fósforo, que não precisava de muito tempo para passar a explosão a limpo. «Nelson escrevia aos domingos, à noite, em menos de meia hora produzia uma crónica genial», diz o irmão.
Meia hora, só o tempo de prolongamento de um jogo que acabasse empatado numa fase final de qualquer competição. E isso porque, fosse qual fosse o resultado, cabia-lhe a ele o remate que grava a partida nos anais do imaginário popular. E isto não se ficou só a dever ao seu génio repentista, mas, como notou Luiz Zanin, num belo texto de homenagem que lhe dedicou há uns anos: «Quando pensamos nele, como cronista, dificilmente poderíamos pensar em tempos melhores para a sua atuação na imprensa». E explica: «Muito primitivo em certos aspetos, o Brasil ainda era um país no qual, numa coluna de futebol, se podia citar Shakespeare, Cervantes, Dostoiévski, sem qualquer pudor. Nenhum diretor de redação viria repreendê-lo por falar em autores desconhecidos para a imensa maioria dos amantes do esporte. Não se subestimava o leitor, naquela época».
‘Vamos exagerar, amigos’
Nelson não tinha o menor pudor em traçar um paralelo entre Garrincha e Werther, de ver em Amarildo, o ‘Possesso’, a síntese futebolística do personagem dostoievskiano, no modo como se enfiava «pela área como um rutilo epilético». E ele que coroou Pelé, viu a sua graça divinal antes de todos os outros, antes mesmo de se sagrar campeão do mundo com 17 anos, e viu-o como um colega de Miguel Ângelo, Homero e Dante. Por outro lado, podia falar do árbitro como o «Eichmann do apito», e dizer que a derrota do Brasil para o Uruguai na Copa de 1950 «foi a nossa Hiroshima». Ou seja, não poupava o leitor à mirabolante delícia das suas hipérboles. O golpe constante do seu juízo superlativo era o que animava o texto e, ao mesmo tempo, o estruturava, como nota o artista plástico, poeta e ensaísta Nuno Ramos.
«Vamos exagerar, amigos, vamos exagerar», avisa Nelson. E se o risco que corre é o de extenuar o leitor, alquebrar o seu ânimo perante crónicas que enterram as esporas até ao fundo neste estratagema, até uma tocar na outra através da carne da sua montada, a razão por que estas crónicas se acumulam, numa impressionante coesão, sem que as redundâncias e insistências atraiçoem o vigor que nelas, primeiramente, descobrimos, além da mestria da frase, do ritmo, é o inusitado de certas imagens, a espuma raivosa na boca de alguns raciocínios, a capacidade de extrair o dente podre da boca do senso comum. Como Nuno Ramos notou a propósito do teatro rodrigueano, as suas frases «mantêm uma espécie de estrutura do recalque, ou seja: são o oposto do senso comum, o negativo de um positivo. Assim, contrariam mais do que afirmam».
Um reacionário assumido, Nelson Rodrigues nunca poupou a consciência mole de um certo progressismo que, de cada vez que abre a boca, não faz mais do que cuspir na cara da realidade. Assim, como sublinha Ramos, muitas vezes, nas peças dele, «o espaço público é um enorme canalha sempre externo, açodando a família sem alterá-la, acionando de fora os seus demónios». Nas crónicas de futebol, Ramos assinala o modo como «a identificação do escrete com a nação é a primeira e a mais fundamental das generalizações que organizam o texto de Nelson Rodrigues, e permite que sua fantástica pegada humorística, capaz de fazer desabar qualquer adversário, gravite em torno de algumas asserções bastante simples».
Não pretendemos aqui contraditar Nuno Ramos quando este defende que as crónicas sobre futebol de Nelson não negam «o aspeto essencial de toda a sua obra: é o livro de um moralista, que procura reduzir a folhagem da vida a algumas raízes essenciais». É uma asserção justa, porque entende que o fito do autor, se limitado no seu propósito, se é tantas vezes uma forma de produzir uma terrível contradição, mais do que apontar um novo caminho, vira a sua verve contra «todo e qualquer cosmopolitismo», o certo é que é difícil, mesmo discordando acerrimamente das suas ideias, não se ficar seduzido, aceitando os seus golpes com um prazer masoquista.
Mais do que um Homero, um Freud da molecagem
Como vinca Marcos Caetano no empolgante prefácio a Brasil em Campo, nestas crónicas desportivas «o que mais chama a atenção é o extraordinário destemor de opinião do autor». Numa estupenda oposição para aquilo que se tornou comum acontecer com os nossos cronistas, Nelson recusa-se a ser a besta de carga para um consenso qualquer. Ele não pretende levar o leitor no seu dorso, mas antes passar-lhe por cima. Demonstra orgulho na sua capacidade de espreitar a questão por um outro ângulo, e quando toda a gente se apresta a tomar o pulso do horizonte, ele segura a retaguarda, lembrando aqueles sacos de areia de que toda a fantasia desenxabida logo se liberta ao dirigir-se para o sol.
Já no que respeita ao seu otimismo mais descarado, à guerra que fez aos idiotas da objetividade, e ao complexo de vira-latas («a inferioridade em que o brasileiro se coloca, voluntariamente, em face do resto do mundo»), mesmo quando parece defender as suas posições contra os próprios factos – «Eu vos digo que o melhor time é o Fluminense. E podem me dizer que os fatos provam o contrário, que eu vos respondo: pior para os fatos» -, a sua abordagem não passava por ignorá-los, nem por fabricar ‘factos alternativos’, mas por fazer valer os poderes da imaginação frente à realidade. Além da proverbial miopia que começou a afetá-lo a partir dos 30, e que o obrigava a ter como parceiro um rádio a pilhas (que algumas vezes surge como personagem central das suas crónicas) para saber como ia a saúde da bola no campo, Nelson fustigava a burrice da televisão, e lembrou que mesmo um lance visto à luz do ‘videotaipe’ produz tantas verdades quanto as pessoas que estiverem a assistir a ele. Por isso, porque «as coisas só tomam seu exato valor quando evocadas», enquanto cronista de futebol Nelson desenvolveu um sumptuoso folhetim que tinha o Brasil como cenário e o campo de futebol como palco, sendo a identidade nacional brasileira dividida em personagens. No fim, a sua fábula constrói um perfil psicológico apoiado numa mitologia que estava a ser fundada naquela que foi a época de ouro do futebol brasileiro. Por isto, mais do que um Homero, Nelson Rodrigues é um Freud da molecagem, o fundador e o psicanalista da «Pátria de chuteiras».

Brasil em campo
de Nelson Rodrigues
Tinta-da-China
200 págs., 17.90 euros
Publicado em 2012 no Brasil, por ocasião do centenário do nascimento de Nelson Rodrigues, foi a filha, Sonia, quem organizou o volume, reunindo 71 crónicas (a maioria inédita em livro até então), datadas do período de 1955 a 1962.