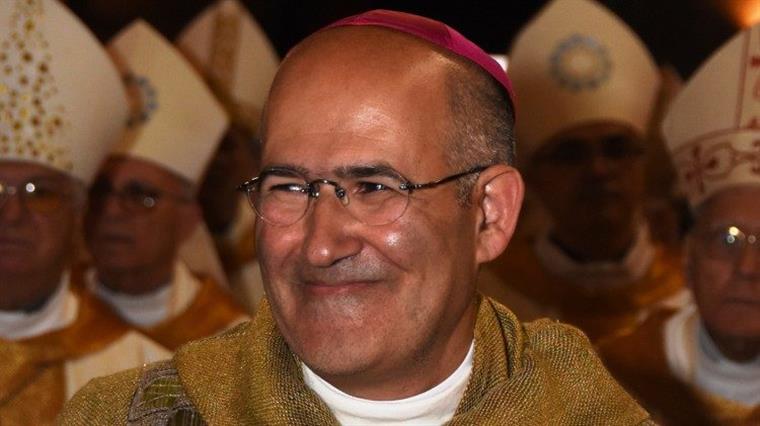A atribuição do Prémio Pessoa ao Cardeal José Tolentino Mendonça foi tudo menos uma ocorrência inesperada. De tal modo nos parecia uma inevitabilidade que a notícia surgiu como uma confirmação desse ambiente pressuroso com que certas figuras da cultura hoje nos surgem como inescapáveis. Há um conjunto de nomes que de tanto se repetirem, geram sobre nós uma espécie de acosso, multiplicando-se, cumulando todas as distinções e honras, não deixando margem a qualquer hipótese que não seja aderir ao culto que lhes é movido ou rejeitá-los e sofrer a permanência desses adornos sumptuosos, desses espectáculos de aparato pelos quais vão comparecendo em cada cerimónia pública, de forma a inspirar um pasmo nos seus admiradores.
A notícia chegou-nos aos olhos e foi como se tivéssemos todos sofrido de uma espécie de refluxo gástrico. E, numa das mais emblemáticas reacções, houve um livreiro que sugeriu até que talvez fizesse mais sentido se fosse Fernando Pessoa a receber o Prémio Tolentino. Fernando Ramalho citou ainda alguns dos versos que Álvaro de Campos terá escrito em resposta ao cerco de tudo o que nos atinge e confirma como a cultura na sua face inevitável significa a exaustão de todos os propósitos: “E o resultado?/ Para eles a vida vivida ou sonhada,/ Para eles o sonho sonhado ou vivido,/ Para eles a média entre tudo e nada, isto é, isto…/ Para mim só um grande, um profundo,/ E, ah com que felicidade infecundo, cansaço,/ Um supremíssimo cansaço,/ Íssimo, íssimo, íssimo,/ Cansaço…”
Os membros do júri, entre os quais não reconhecemos um só elemento que tenha dado provas na crítica literária, não se eximem na hora de proclamar Tolentino Mendonça como “uma das vozes fundamentais da poesia contemporânea portuguesa e europeia”. Caem assim naquele regime de exaltação petulante de quem se dirige a um público confiando na sua ignorância no que toca a um quadro panorâmico da poesia contemporânea. Só em Portugal, seria demasiado fácil elencar um conjunto de poetas vivos com obras bem mais influentes ou, pelo menos, mais instigantes e desafiadoras, ainda que menos celebradas pelos mecanismos da propaganda que absorve hoje o grosso da nossa expressão cultural.
Quer queiramos quer não, vivemos condenados à glória dos heróis do beatério nacional. E é tanto mais desgastante esta reafirmação do pacto com os valores dessa Instituição que ao longo dos séculos determinou a amorfia da vida do espírito, que não deixa de ter a sua graça como Francisco José Viegas, o editor dos livros de ensaios de Tolentino Mendonça, fez questão de reagir à notícia através de uma homenagem publicada no jornal Público (o qual secundou o Expresso, que promove aquele galardão, sem nenhuma distância crítica neste gesto de promoção de mais um dos seus colaboradores) vincando como “a ideia que está em todos os textos de Tolentino como homem católico é a de facilitar o ‘diálogo Igreja-Cultura’, como tinha determinado João Paulo II.” Adiantando que levava assim a cabo “um diálogo com as políticas culturais dos governos e com as instituições culturais, universitárias e científicas da Igreja, entre muitas outras pontes”.
Mas devemos também notar como na sua configuração actual a dita cultura cumpre um papel de branqueamento dos modos do poder, a ponto de, como notou Jean Dubuffet no extraordinário libelo com o título “Asfixiante Cultura”, “os intelectuais serem recrutados nas fileiras da casta dominante ou daqueles que nela aspiram a inserir-se. O intelectual, o artista, toma de facto um título que o torna a par dos membros da casta dominante. Moliére janta com o rei. O artista é convidado para casa das duquesas, como o abade.”
No fundo, na cultura reside hoje essa promessa de uma ascensão social, e isso explica a geral inanidade dos artistas e escritores tão insistentemente promovidos, sendo aqueles que melhor respondem às requisições do mercado bem como às condições institucionais dominantes, o que significa que além de produzirem objectos de consumo, ainda fornecem o tipo de produtos que ajudam a embalar a consciência, pondo-a a dormir e sufocando o pensamento. Colaboram assim na imposição de uma estética artificial que nos serve de açaime e que vai sendo imposta em nome da virtude, de uma moralidade que corresponde a um instinto de manada. E Dubuffet vai mesmo ao ponto de se interrogar em que desastrosa proporção veríamos abater-se o número daqueles que aparecem como artistas, se reclamam esses títulos, a partir do momento em que vissem essa prerrogativa de ascensão social ser suprimida.
Este autor diz-nos que a cultura tende actualmente a ocupar o lugar que foi outrora o da religião. Daí que seja bastante redundante vir celebrar Tolentino Mendonça como “Cardeal e poeta” – o título da homenagem que lhe rendeu esse outro luminoso cura que é Frederico Lourenço. Dubuffet frisa como a cultura, “tem hoje os seus sacerdotes, os seus profetas, os seus santos, os seus colégios de dignitários”. E acrescenta ainda que “o conquistador que visa a sagração apresenta-se ao povo já não ao lado do bispo, mas ao lado do Nobel. O senhor prevaricador que se quer fazer absolver já não funda uma abadia, mas um museu [e aqui basta lembrar a filantropia cultural da família Sackler]. É hoje em nome da cultura que se mobilizam, que se pregam as cruzadas. É a ela que hoje cabe o papel de ‘ópio do povo’.”
No fundo, tornou-se evidente como estas figuras eleitas que levam a cabo as operações de branqueamento social dos exploradores e facínoras dos nossos dias. Assim, não é de estranhar também a unanimidade que se tem produzido à volta de figuras como Tolentino Mendonça ou Frederico Lourenço, sendo que tinha já cabido àquele a tarefa de erguer essa montanha de louvor quando foi a vez de este ser distinguido com o mesmo prémio. Nada mais natural que viesse agora retribuir o favor.
O que não vemos na atitude de qualquer um deles é aquele desafio impetuoso, às vezes feroz, quase diabólico. Não sentimos neles o cheiro de um tom verdadeiramente pessoal, aquele nível de coragem de quem é capaz de colocar as suas palavras com a maior liberdade, sendo que nada é tão difícil como arranca-las às suas associações falsas e resistentes. Não encontramos nos seus textos nem o capricho, a independência, a rebelião, que se opõe à ordem social. Colhem a tal unanimidade, que Nelson Rodrigues notou que era sempre burra, e que frequentemente é ainda fraudulenta e sufocante.
“Nada é mais esclerosante que o espírito de deferência”, insiste Dubuffet. Mas Frederico Lourenço não se cansa de gabar o outro por ter alcançado “um reconhecimento amplo e consensual”. Ora, Gombrowicz também desmistifica para nós este processo de adulação que se vai gerando em torno dos artistas do regime, lembrando como tudo começa: “Um aplauso tímido provoca outro – excitando-se mutuamente, até que tem lugar uma situação em que cada pessoa tem de se ajustar interiormente à loucura colectiva. Todos se comportam como se estivessem encantados, embora ninguém esteja verdadeiramente encantado, pelo menos a esse ponto.”
Com toda a pompa irritante e as profundas vénias que se usam para obter uma adesão e um fervor patético por estes nossos santuchos de feira, no fundo, fica claro como estas aparências de triunfo servem para mascarar um vazio tremendo, uma falta de fé que redunda neste enrijamento esclerótico e senil, nos excessos rituais que impedem uma verdadeira acção, e que tornam claro como a separação entre a carne e o espírito é cada vez maior.
“Conferir à produção de arte um carácter socialmente meritório, fazer dela uma função social honrada”, diz-nos Dubuffet, “falsificam gravemente o seu sentido, porque a produção de arte é uma função propriamente e fortemente individual, e por conseguinte em completo antagonismo a toda a função social. Só pode ser uma função anti-social, ou, pelo menos, associal.” Naquele manifesto em que denuncia todo o aparelho hierarquizado da cultura como o conhecemos como uma tremenda farsa, este indisciplinador que defendeu uma desculturalização progressiva da arte notou como o peso de toda esta estrutura, que segue a receita de imposição da Igreja de antanho, funciona no sentido de tolher a proliferação horizontal, o ímpeto do pensamento nos socorrer de uma profusão infinitamente diversificada de propostas e visões. Impondo uma pirâmide, estabelece-se mais um regime de rivalidades mesquinhas, e assim se envenena a capacidade de sonhar e exprimir outras realidades, novos mundos.
“Não há pior obstáculo a uma proliferação semelhantes que o prestígio de alguns presunçosos elevados à categoria de grandes dignitários e cujo nome é repetido sem tréguas aos ouvidos do público a fim de convencer este último do seu mérito. Não há tarefa mais esterilizante que essa, mais de molde a afastar o homem comum de pensar por si próprio e a fazê-lo perder toda a confiança nas suas próprias capacidades. E a dar-lhe náuseas da arte também, sobre a qual adquirirá a ideia de que não passa de impostura ao serviço do dirigismo de Estado, ou, por outras palavras, da polícia.”
Esta relação beata que deu conta da vida do espírito entre nós, vai no sentido de pregar um regime de moderação, de docilidade, de aceitação do engodo cultural. Estes artistas que o regime afaga no seu colo, estes poetas e escritores, seus zelotes e acólitos são uma consciência adaptada típica – eles não só acreditam, mas sobretudo fazem um grande esforço por isso, querem muito acreditar. Mas sua fé vem com demasiada facilidade, está carregada de uma avidez que faz da arte que daí resulta modos de uma forma de lassidão e esterilidade. São como maníacos que, para se espojarem na sua paixão artificial, ajudam a um estado artificial de coisas que é típico do conforto e da autocomplacência burgueses, e que acompanha a profanização generalizada do mundo.
Há, assim, um abandono do sentido do sagrado, que este mundo ilude entregando-se a formas diversas de superstição e ‘espiritualismo’ consolador, que confunde também com religião. É uma forma de crença bastante hipócrita, que não pretende transformar a vida nem afectar seja o que for. No fundo, apenas não querem é ficar sóbrios. Cada um deles faz o que pode para se afogar na sua mania. E conta com tantos outros para acobertarem este tipo de culto vivido no seu borbulhar de superfície. E, nisto, vamos ficando saturados de objectos e obras ou criações que servem meramente para decorar. Nada de mais perturbador se introduz. Neste mundo pequeno que estas pessoas criam em conjunto com os seus fiéis e acólitos, e, como consequência deste isolamento, tudo se torna exacerbado, e até mesmo os poetas medíocres incham de forma despropositada e se convencem de que são indispensáveis à cultura.
A cultura e os objectos artísticos propostos a esta forma de circulação e promoção imparável, colaboram no sentido de reduzir a vida a representações reprimidas por uma moral doentia. Tudo resvala para o regime dos esoterismos, de uma mística de pacotilha, elementos mais ou menos consoladores ou salvadores, religiões de toda a ordem… “No fundo daquela contradança de nobres obesos, podemos vislumbrar um desespero que resulta de uma incapacidade de alcançar as fontes da graça de viver; esta é a tragédia de seres forçados a ficar satisfeitos com substitutos tais como cerimónias, honras, distinções, e a encontrar um escape em rituais solenes”, nota Gombrowicz.
E depois vemos como tudo isso participa no embuste de uma geração que não significou qualquer recusa, qualquer luta, que se rendeu inteiramente a um regime publicitário, em que tudo só interessa na medida em que excita os consumos. E, assim, no espírito do público vemos como há uma tendência para esta doutrinação, para uma espécie de religião do mercado. E toda a propaganda cultural vai no sentido de uma substituição da vida por estas representações inócuas, e a cultura já não significa o conjunto das obras que se organizam enquanto referências desafiadoras, lançando cada vez mais longe o horizonte das nossas possibilidades, mas correspondem meramente a essa mobilização no sentido de acatar a colusão entre o comércio e a cultura.
A tal ponto, refere Dubuffet, que a publicidade – a mais insípida, a mais grosseira – se acha agora implicada na produção de arte num tal grau que se produz no espírito do público uma rejeição. Aquele vê-se convidado a venerar não a criação de arte, mas o prestígio publicitário do qual certos artistas beneficiam. Não lhe passa pelo pensamento inquirir acerca das obras, mas apenas das vias publicitárias que as veiculam”. E, às tantas, são os próprios artistas, e não só o público, que deixam que os seus intuitos e a sua demanda sejam capturados por este enredo da propaganda cultural. “São, também eles, conduzidos a pensar que a publicidade prevalece sobre o conteúdo da obra. E são conduzidos a subordinar, já não a publicidade à natureza da obra uma vez feita esta, mas a própria obra, no momento de se fazer, à publicidade a que se prestará a dar lugar.
Assim, não causa estranheza como a poesia do Cardeal, estando destituída de um sentido pessoal, de uma alma carregada de uma tonalidade e de uma angústia própria na relação com o mundo, apenas é capaz de se fazer desfilar e competir através de aproximações, glosas insistentes, aplicando-se na confecção de caldos, de sucedâneos falsificados. Ela mesma é uma produção que, se lida criticamente, não resiste ao confronto com as suas referências, manifestando características de um admirador medíocre que brinca com os valores, que frequenta e lida demasiado bem com estes balanços culturais, mas não consegue introduzir-se no campo vigoroso das propostas radicais com que a arte explora novos caminhos.
Aqui, tudo é delicado, mas graças ao sufoco, e a beleza é um modo cumulativo, um resíduo que fica e vai produzindo algo eternamente amarrotado, quente e pegajoso, debilitado e embrulhado. Esta é uma poesia que surge fechada num quarto revestido a cortiça, sem um desequilíbrio que lhe forneça a sua vertigem e inadequação face ao mundo. Se desta arte se espera que elabore um hálito tumultuoso, sinal da digestão de um alimento inesperado, se deve repor em nós “esse estranho cordão umbilical clandestino” (Serge Daney), pelo contrário, na poesia do Cardeal deparamos sempre com uma cantilena monótona, continuamente sublime: “Diz-me se/ na água reconheces o rumor/ adormecido nos búzios// Diz-me se o outono tem/ a ver com as algas/ com a incerteza das folhas// e se há um sentido oculto/ no rodar das estações// Diz-me se/ toda a imagem é engano/ ou filha enjeitada/ do fogo// Diz-me se é certo/ que o tempo/ é um único olhar/ prolongado nos dias// se a vida é o avesso da vida/ e se há morte”.
Tudo nasce já dominado por um desejo de agradar a todos, de alcançar um consenso, sendo que este só é possível alcançar por meio de uma mediocridade consoladora. Ela movimenta-se sobre a linha de menor resistência, todo ela é exultação descomprometida, e estende a sua rede por meio dessas combinações que embaratecem a expressão, formulações demasiado vagas e homeopáticas. “A delicadeza do mundo chega-nos/ através de frases interrompidas/ de sementes que nos dispersam/ de paralelas pintadas/ com uma faca ou uma corda/ a mudar com o vento/ mesmo aqui, mesmo neste instante/ as paredes do mundo não são muralhas/ de altura inusitada/ mas escadas suaves como fumo”.
Esta poesia inscreve-se perfeitamente nesse entendimento de uma expressão vaga, uma música de fundo, um perfume adocicado. Frederico Lourenço não hesita em reconhecer a força do génio na obra de Tolentino, mas a haver aqui um génio este será o da beleza fácil, que torna superficial tudo aquilo em que toca, de tal modo que todas as antinomias que fazem sangrar uma literatura séria aqui vêem-se suavizadas. Servindo-nos uma vez mais das palavras de Gombrowicz, diríamos que “quem quer que se aproxime desta missa estética poderá facilmente descobrir que este reino de maturidade superficial é mesmo o quintal mais imaturo da humanidade, onde reinam o bluff, a mistificação, o snobismo, a falsidade”.
Como um herdeiro demasiado ansioso de qualquer estremecimento que se possa ainda desencantar na tradição literária, mesmo os poemas do Cardeal que a uma primeira leitura não produzem embaraço, à segunda já cedem a um lirismo compulsivo, deliciando aqueles para quem o um pathos tão enfático quanto barato serve sempre para os enfileirar e perder num campo que tresanda a mistificação. E há sempre no seu culturalismo uma dose insuportável de nostalgia de um tempo que só resiste de forma fictícia, num efeito em que a exposição demorada à luz acaba sempre por queimar o filme, e entregar-nos a uma espécie de delírio amorfo. Leia-se do segundo livro do autor o poema “Saudades de Alexandria”: “Posso dizer a idade da sombra/ onde o nome repousa/ mas é um jogo mortal/ deixar esse abismo/ descoberto/ alguém pode encontrar a morte// Posso dizer: recuperem dos espelhos/ as sublimes imagens/ tragam-me a beleza antiga/ um dia incendiada// Ah tenho saudades de Alexandria/ onde os poemas se escreviam/ para o fogo/ o único recitador tão perfeito/ que não se repete”.
Nesta poesia vamos assim por essas melodias habituais e que dão margem a uma litania dos lugares comuns do discurso poético mais genérico, podendo dizer-se que a virtude desta obra é, ao mesmo tempo, a sua maior limitação. A moderação e o bom gosto são os pólos magnéticos a que sua agulha reage. A cultura surge assim como um jogo de andaimes numa elevação que sabe resumir a partir de umas ervas de cheiro que remetem para a tradição clássica e depois também sabe aproveitar um certo destempero em linha com a exuberância expressiva associada à condição poética moderna. O que fica de fora é o lado transgressivo, o lado inconformista e o efeito de denúncia e conflito que estabelece face à sujeição ao gosto dominante.
É uma poesia que nunca abre mão de uma sensibilidade solene, estabelecendo um entendimento a partir de imagens sugestivas, graciosas, ligeiras. Tolentino Mendonça surge como uma entidade quase mediúnica, não tanto dialogando com outros poetas como servindo-lhes de prolongamento, encostando a voz às leituras que o marcaram. Mostra uma certa desenvoltura na hora de sintonizar e ritualizar um eco a partir de frequências médias, nessa “vizinhança do deus morto”. Em vez de colher o risco, recolhe-se numa casa assombrada por vozes que acabam enfraquecidas nessa “comunhão” que o autor produz através dos seus exercícios de invocação. “Na lâmina, no mortal fio da lâmina/ caminham pensamentos, avisos, envios/ esses nomes que sem querer condenámos/ à terrível escuridão de um abrigo/ no fundo do nosso corpo// Por vezes adoecemos desse mal/ Passeamo-nos à sombra de árvores mitológicas/ silenciosos e vagos pensando/ como de lugar nenhum onde estivemos/ alguma vez regressámos”.
Esta uma poesia que facilita o arrolhar da nossa imaginação – não há nela o menor sinal de pavor diante dos elementos tão drásticos e conturbados da realidade com a qual nos confrontamos nesta indigesta época. Aqui mesmo a amargura e o desespero se convertem num rebuçado. Tudo nos devolve a uma “Escatologia” dessa maníaca devoção com que alguns procuram submeter-nos aos seus modelos de submissão. E mesmo se procuramos através da literatura ir ao encontro de desaforada concretização de algo contrário a esse fado, de uma reversão demoníaca, estamos sempre a ser borrifados com água benta, e não nos livramos deste enjoativo odor de sacristia, estas figuras com as suas obras insufladas artificialmente, e com a mediocridade dessa melodia já fora de tempo a ser reproduzida por altifalantes em todas as praças onde tudo se reproduz e repete segundo os valores venais.
Assim prossegue a ladainha de sempre: “E, por fim, Deus regressa/ carregado de intimidade e de imprevisto/ já olhado de cima pelos séculos/ humilde medida de um oral silêncio/ que pensámos destinado a perder// Eis que Deus sobe a escada íngreme/ mil vezes por nós repetida/ e se detém à espera sem nenhuma impaciência/ com a brandura de um cordeiro doente// Qual de nós dois é a sombra do outro?”… Com tanta humildade, tanta exaltação do silêncio, e depois de em 2016, no Festival Correntes d’Escritas, ter dito que acalentava o sonho de “ver o silêncio declarado património imaterial da humanidade”, ficamos com a sensação de que o que seria realmente inesperado era que o Cardeal fizesse a sua parte, e se calasse dando oportunidade de apreciarmos essa dádiva.