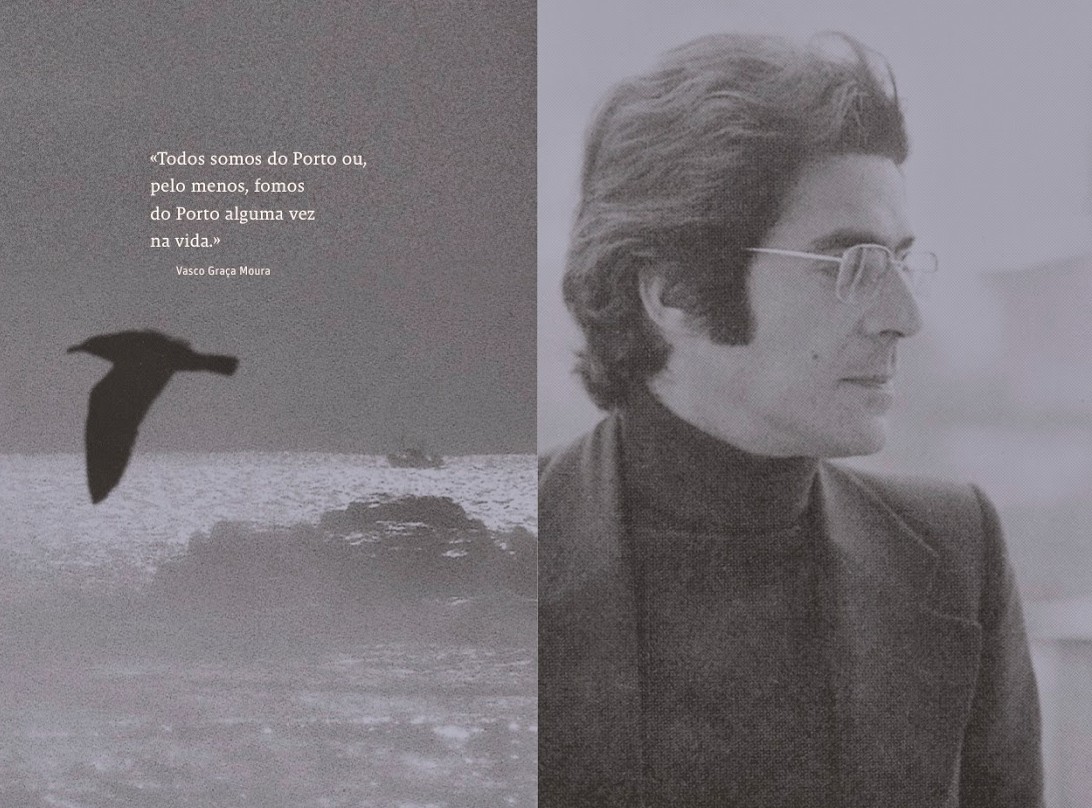Sentemos o poeta-anfitrião à cabeceira de uma mesa ampla. O plano de distribuição de lugares para a sua galeria de convivas, não obedecendo cegamente a uma fria hierarquização de precedências, tem em conta conceitos que lhe eram caros: ordem, disciplina clássica, simetrias, o sentido da divina proporção.
Comecemos pois por sentar os seus antepassados literários que, em boa verdade, ao serem convocados aos seus poemas se tornavam seus contemporâneos. À sua direita, em inequívoco lugar de honra, Camões, o «mestre» que se impõe no seu cânone pessoal, o autor com quem manteve trato mais assíduo, mais intenso e mais íntimo. Ao lado do autor d’Os Lusíadas (o livro da sua vida), Cesário Verde, outro dos seus grandes mestres, pela aproximação ao real, logo seguido de Homero, a quem Graça Moura reserva nos seus poemas um espaço muito apreciável, num gesto que vai da reverência / homenagem à bem realizada contrafacção irónica.
A Horácio cabe também posição privilegiada, bem como a Dante e a Petrarca – e continuamos a orientar-nos pelo catálogo dos mestres que «pastou» com questionável discrição – Shakespeare e Hölderlin, Rilke e Montale, António Nobre, Pessanha, algum Lorca e algum Nemésio, este último mais próximo de VGM do que a crítica tem anotado, pela cerebralidade afectiva, pelo gosto da (auto)ironia, pela capacidade de ir derivando numa eficiente variedade de registos, e até pelas inesperadas inflexões no discurso. Segue-se David Mourão-Ferreira, Alexandre O’Neill, de quem terá herdado o gosto pela atenção ao quotidiano mas também alguns tons da sua paleta de humor.
De pé permanece ainda Jorge de Sena, que logo deveria ter tomado lugar imediatamente à esquerda de VGM, até porque ambos partilham a mesma malga, eruditamente condimentada. É claro que o péssimo estômago de Sena, incapaz de digerir certas matérias, nunca lhe permitiu ser especialmente irónico ou auto-irónico. Habitualmente, fazia-se acompanhar do sarcasmo e do escárnio, nem sempre contidos na circunferência da compostura. A poesia de VGM, bem menos áspera, mais dúctil, avessa ao excesso, tende para o apaziguamento, para uma serenidade quase horaciana.
Pessoa é um autor com o qual VGM, que não é poeta para se cindir e se descobrir sucessivamente um outro, cedo se incompatibilizou. Irritava-o um tanto, entre outras coisas, o facto de o poeta dos heterónimos ter arranjado maneira «de em edições de primeira / ter uma vida segunda». Quando, na década de 70, se acentuava a ideia de uma «progressiva despedida da Modernidade» (Eduardo Lourenço), já a sua poesia, aberta à narratividade e à discursividade prosaica, se tinha livrado de Pessoa & Cª, salvando-se apenas Álvaro de Campos. Não significa isto que Pessoa não tenha lugar reservado nesta mesa, bebido com muito gelo e umas pedrinhas de ironia.
A harmonia – e a etiqueta – relembra-nos a regra de distribuição alternada homens/senhoras, que habitualmente ocupam posições na importância correspondente à dos seus consortes. Não é diferente na poesia de VGM e o ciclo de poemas «a sua dinamene» (de o concerto campestre) é disso um óbvio sinal. A presença/ausência feminina percorre, em graus de tensão e ironia variáveis, toda a obra de um poeta que só não ardeu variamente em várias chamas, porque sabia que o fogo «chamusca a justa medida, desmiola o ritmo,/ e torna o poema impraticável».
Que tomem pois assento as mulheres com presença marcante na obra poética de VGM: Dinamene; a Bárbara escrava; Beatriz, ao lado de Dante; Lídia, à ilharga de Ricardo Reis (nada de mãos enlaçadas). Mesmo contando com as «penélopes de bolso» do admirável poema «as autoras de mim» e com essa «mulher inúmera» que o poeta partilha com David Mourão-Ferreira, tão presente n’o caderno da casa das nuvens (2009), a sua última recolha de poemas, sobram lugares. E não vamos convocar as muitas musas que visitaram o poeta em trajes e agilidades que rasuram a imagem da Musa clássica (até porque elas às vezes falham quando mais necessárias seriam), nem as deusas que, baixando do Olimpo, se passeiam pelo espaço poético de VGM com aquela «descontracção irónica» que se tornou a sua imagem de marca. Tão-pouco se lançará mão do «soneto das barbies» («bis/ quero ter outra vez os meus vinte anos, / sabendo o que sei hoje»). O número de candidatas a Laura que andam por aí desde que o poeta disse que tinha transformado as mulheres da sua vida todas em literatura há-de bastar para preencher o vazio feminino.
Todos acomodados ao redor de uma mesa sobre a qual se projecta, ora a impiedade da luz, ora a sombra tutelar da morte, eis-nos perante o que configurará uma inversão da ordem natural das coisas: o anfitrião, incorporando todo um lastro de vozes e referências textuais que desenham um arco que une a antiguidade clássica à contemporaneidade, converte-se no devorador. Esta tendência omnívora, manifestada no uso acentuado da citação, apela para a cumplicidade de um leitor capaz de aceder à enciclopédia envolvida, para assim poder degustar uma poesia que se nutre desse imenso corpo patrimonial da tradição ocidental.
E não se satisfaz Vasco Graça Moura apenas da literatura. Revela igualmente um apetite voraz pelas artes plásticas, a música, domínios da expressão interartística francamente relevantes num espaço poético (e ficcional) com vincadas propensões ecfrásticas, não sendo de desprezar o peso da fotografia, da escultura ou do cinema. A absorção repetida deste caldo de cultura europeia de sabor pós-moderno, onde bóiam livros, quadros, pessoas, lugares, lascas de biografia, sistemas filosóficos, mundos ficcionais, versos de Camões, produz «saturações» mas não promove a saciedade, antes estimula o apetite de mais cultura e de mais mundo.
A matéria deixada para nosso alimento, bem conservada nas antologias que reúnem o trabalho poético de 50 anos, pode ser apreciada por todo aquele que não tenha no horizonte a ideia da satisfação consolada, que essa não é a função da Grande Poesia.