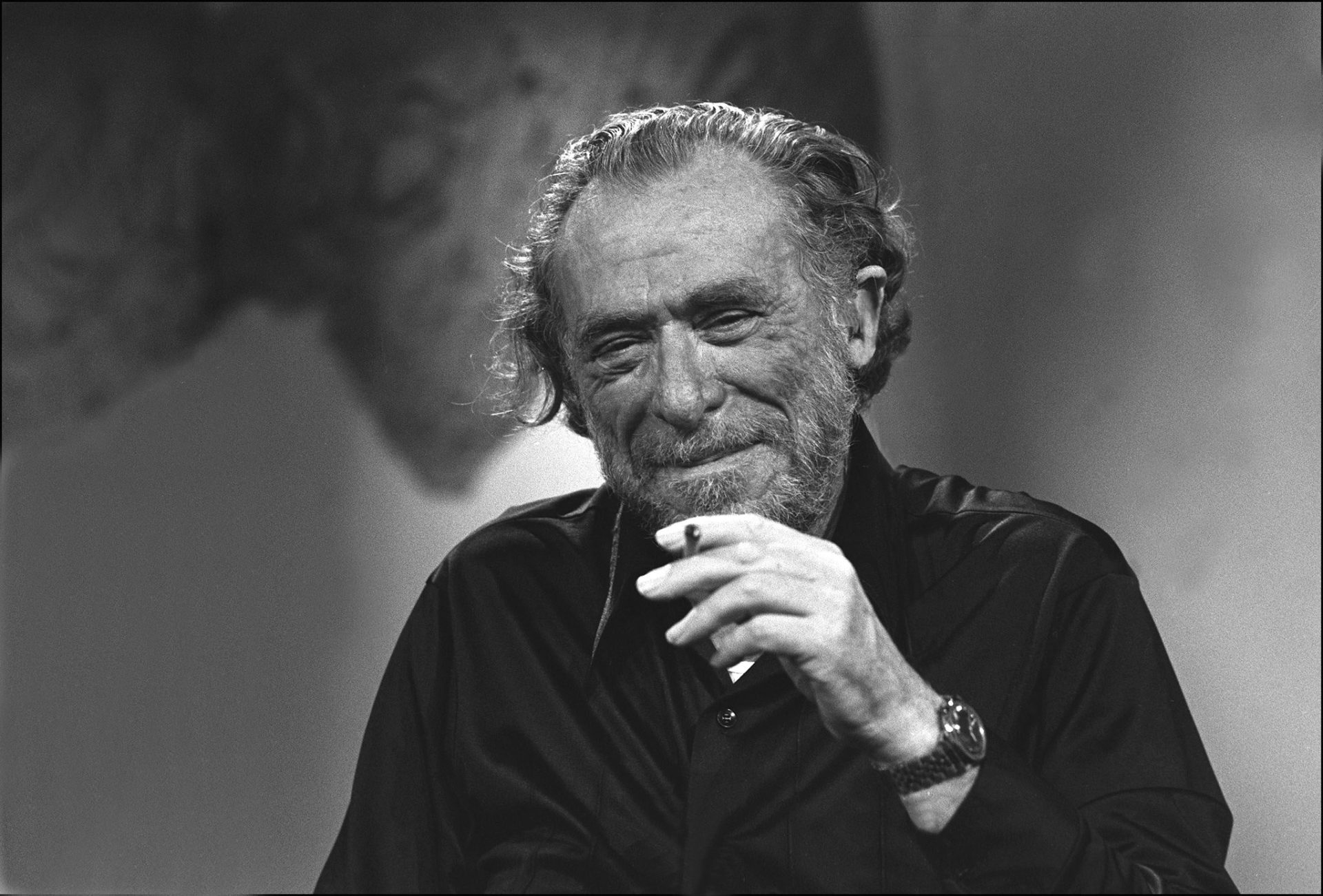Em Bukowski, nada tem que ver com o eterno. Ele começa por nos livrar dessa presunção desoladora. Eis um apóstolo da mortalidade, da carga de desespero que espia da esquina qualquer desejo que se nos tenha metido debaixo da pele, como uma infeção ou uma possessão dominadora. Ele torna evidente como nenhum outro escritor a relação tensa entre miséria e prazer. Diz-nos que os cães e os anjos não estão assim tão longe (uns dos outros) como isso. Ele diz-nos muitas coisas – é um fala-barato, mas toca qualquer coisa de profundo. Nunca está longe de ser grosseiro, mas isso não nos livra do encanto das suas palavras. “Há nele mais barro em bruto”, pedindo emprestado um verso de uma poeta chilena pouco conhecida por estas bandas, e “também um pouco da perversidade do Divino”. Cuspia frases como esses céus convulsos sabem parir raios de forma seca, sem chuva, sem demasiado contexto, como um estalo nas trombas que nos devolve os sentidos. Dizia que estamos aqui para nos rirmos das nossas fracas hipóteses e vivermos o que nos foi dado a ponto de não deixar dúvidas sobre as nossas intenções de esgotar a vida, com uma intensidade tal que a morte, quando for obrigada a dirigir-se-nos, venha acabrunhada, meio a tremer, sentindo-se estúpida. É um tipo que levou tanta porrada que teve de raspar no seu inconsciente uma boa porção de frases que o segurassem, para que não tocasse ainda mais fundo. Num dos seus poemas, conta como fez um mural com todas as cartas que recebeu das publicações e editoras que rejeitavam os seus contos e poemas, de forma a ir escamando o animal de sangue frio da sua amargura para se motivar. Outra coisa em que acreditava era que a poesia é o que acontece quando mais nada parece possível. E muitas vezes parece que estava em paz com a ideia de que nem toda a arte busca a elevação, mas que às vezes somos obrigados a mijar na pia. O que sabem os habitantes do Olimpo dos nossos problemas com a bexiga? Como escreveu Céline – um dos quatro autores que Bukowski considerava os seus mestres, génios inultrapassáveis (os outros eram Dostoievski, D. H. Lawrence e John Fante) -, “se as coisas nos levassem com elas, por mais mal enjorcadas que as achemos, morreríamos de poesia”.
Bukowski tinha um pacto com a arraia, tinha a decência de se assumir como um canalha, de fazer ecoar de forma humorada a consciência do narrador dos Cadernos do Subterrâneo quando diz: “Agora que estou no fim dos meus dias, metido no meu buraco, escarneço de mim próprio e consolo-me com essa certeza, tão biliosa como inútil, de que um homem inteligente não pode tornar-se nada, só os parvos se tornam qualquer coisa. Um homem inteligente do séc. XIX deve, acha-se na obrigação moral, de ser uma criatura essencialmente sem caráter; um homem possuidor de caráter, um homem de ação, é uma criatura essencialmente limitada”. E isto é uma noção que cai mal a estes dias, provocando uma crise de urticária numa época que é só pele, só sensibilidades superficiais. Como era notado há dias num artigo em que o El País assinalava o centenário do “poeta laureado da ralé”, ouvindo uma série de autores de língua espanhola que assumem sem complexos a influência de Bukowski, deve estar para breve o processo que pretenda esmagá-lo como um inseto, enfiá-lo nalguma lista negra, já que nas suas páginas se ergue uma extenuante mitologia que se serve de toda a escória, toda a imundície, toda a manha, refastelando-se numa orgia de péssimos exemplos, canalhices glorificadas, num ácido despertar que agride em cheio este frágil momento cultural, esta sociedade que entrou na menopausa, empurrada pelos vícios de um consumismo celerado, e que agora busca abater a sua angústia com uma série de terapias, impondo-se um penoso regime de dieta mental em que só lhe interessam obras edificantes, uma arte que cumpra um propósito disciplinador. Assim, ao invés de programas culturais, o que temos é um cultura vigilante e persecutória. Começando pela misoginia, há nos seus livros suficiente degradação para que nele se percam vários desses agentes saneadores ao longo de anos, a classificar infrações de toda a ordem ao seu código. Quanto a isso, Céline incitou-nos a apreciarmos o espetáculo de hipocrisia e a tomá-lo como inspiração, não havendo, de resto, nada a fazer: “Paciência! Ponha-se o que cheira mal ao pé do resto. Nada podemos fazer para o evitar. De tantas coisas nos hão de acusar (a bem dizer, de quase tudo), uma após outra, que nesta balbúrdia de invetivas e de afrontas em nome disto e daquilo, tudo o que fizemos ou vamos fazer acaba por ir dar ao mesmo. A digestão do público faz-se à custa de acusações. Em suma, duas espécies de autores: os que nos acordam e insultamos, os que nos adormecem e desprezamos in petto. A inércia é o sono da raça. Assim tem de ser, sem dúvida. Quem a perturba terá de ouvir das boas”. Bukowski talvez só não tenha ainda sido chamado à inspeção porque os responsáveis não saberiam nem por onde começar, ameaçando de uma indigestão brutal quem quer que se aproxime dele com esse intuito. E, por outro lado, os seus leitores buscam-no como a um beligerante guia que os faça descer aos infernos da mundanidade, onde há ainda suficiente qualidade nos sentimentos dos homens, no seu desespero e aflição, na sua loucura e paixão, para que alguma coisa aconteça.
Um século depois do seu nascimento e 25 anos depois da sua morte, o velho Buk teria certamente muito com que se irritar na forma como o mundo parece ter embalado de vez num pesadelo erguido pelo clamor de imbecis, gritando de todos os lados, sem nenhuma marca de talento que os redima. Mas o certo é que os seus livros continuam a vender milhões de exemplares em traduções publicadas por todo o mundo. Por outro lado, com a sua postura quezilenta, a desse personagem que parece feito de pedaços de lendas repudiadas, que engoliu já demasiados sapos para se atrapalhar com o facto de o ar se ter tornado um vómito, o certo é que entre o seu público deve encontrar-se um bom número de imbecis e a internet viu florescer no seu seio um estrondoso culto ao seu génio, nomeadamente através da recolha de versos e frases elevadas a máximas, como se se tratasse de um guia espiritual. Acontece que, em grande parte, o fascínio da sua obra liga-se a esse lado transgressivo, ao prazer de provocar eczemas nos espíritos albuminosos dos nossos dias, na sua torva horda, os obstipados, os tremelicas, essa grande turba dos maníacos do arrependimento. Bukowski praticava um irascível desdém pela intelectualidade, bem como pela república das letras, tendo afirmado que a pior coisa que pode acontecer a um escritor é ter de se dar com outros escritores, integrar esses bandos que acabam por se dar conta de que não passam de “moscas de volta de um mesmo cagalhão”.
Bukowski orgulhava-se de ser lido por outro tipo de gente. Os derrotados, os eternos rejeitados, os dementes e os condenados. Gostava de ser inundado pelas cartas dos seus leitores e gostava também que lhe ligassem, tendo chegado a divulgar o seu número de telefone como título de um poema, convidando quem quisesse a fazer a chamada. Contou nas entrevistas como, além de partilharem histórias, muitos dos seus leitores lhe confessavam que tinham batido no fundo e que, em parte, se não se mataram foi porque viram como ele próprio foi sobrevivendo a tudo e acabou por se safar bastante bem. Só aos 50 anos, depois de década e meia, lhe foi possível deixar o emprego nos correios e dedicar-se exclusivamente à escrita, quando John Martin, o fundador da Black Sparrow Press, se ofereceu para lhe pagar uma mesada de algumas centenas de dólares para lhe ficar com tudo o que escrevesse. Até então, Bukowski tinha visto a sua reputação crescer muito aos poucos, publicando em pequenas revistas que não iam muito para lá do circuito marginal de Los Angeles, tendo pago do seu bolso uma série de plaquetes e edições limitadas. Em 1970, quando se iniciou este trato que nunca se dissolveria, Bukowski pôde entregar-se inteiramente àquilo que sempre quis fazer e, ao longo das duas décadas que se seguiram, foram publicados duas dezenas de títulos, entre romances, livros de contos e coleções de poemas, com o escritor a enviar tudo aquilo que produzia a Martin, que se ocupava de buscar um fio condutor, selecionar os textos, dar-lhes uma ordem. Em 1994, quando Bukowski morreu de leucemia, a mesada que Martin lhe pagava já ia em sete mil dólares. Mas a sua popularidade crescente nunca se traduziu na receção crítica da sua obra e, apesar de o seu impacto na cultura ser incomparável ao de qualquer outro poeta no séc. XX – até com incursões no mundo do cinema, tendo assinado o guião de Barfly, filme lançado em 1987 em que uma versão de Bukowski é interpretada por Mickey Rourke -, quase sempre que se debruçam sobre ele, os críticos mostram-se algo embaraçados, como se tivessem de se desculpar pelos excessos de um tio que aparece para a homenagem que lhe foi preparada com uma monumental carraspana, envergonhando a família. O certo é que no registo estuporadamente autobiográfico da sua obra, em que, à semelhança do que fez John Fante, o seu alter ego se serve de um pseudónimo bastante transparente – Henry Chinaski, sendo Bukowski conhecido pelos amigos por Hank, já que o seu nome era Henry Charles Bukowski Jr. -, raramente se afastava de um território que lhe era familiar, levando à letra a ideia de que o melhor é escrever sobre aquilo que se conhece e viveu, de tal modo que quase sempre adotou a primeira pessoa e, desse modo, a linha entre ficção e realidade não só se esbatia como era uma fronteira animada pelo contrabando que se fazia de um lado para o outro. Assim, de um desesperado que já não esperava grande coisa do mundo, que confessou que chegou, em troca de bebidas, a oferecer-se como saco de pancada para que o dono de um bar que frequentava durante a pior década da sua vida entretivesse os clientes, tendo deixado inclusivamente de escrever, Bukowski conseguiu erguer-se de algo mais degradante do que meras cinzas para se transformar nesse durão e inveterado bebedor noturno, nessa figura mítica de Los Angeles, uma das atrações do seu submundo, e que faz com que mudem de passeio aqueles que chegam à Lalaland em busca de realizar as suas fantasias cor-de-rosa. Eis o beberrão com “uma sede oceânica”, que era visto na companhia de tratantes e putas, que não se encolhia numa rixa, até porque não havia nada por quebrar, nada que um murro a mais pudesse descompor, a começar por aquele rosto esmagado pelo acne, que lhe deu a icónica face angular que faz dele uma escolha óbvia no dia em que se cunhem moedas com os profetas da desagregação do mundo moderno. De resto, até essa crise que o desfeou na adolescência acabou por ser integrada no seu mito. Nascido na Alemanha, filho de um militar americano e de uma alemã, foi aos dois anos que chegou aos EUA e aos três que os pais se fixaram em Los Angeles. A Grande Depressão ensombrou toda a sua adolescência ao dar cabo das ambições do pai, que acertava contas com as suas frustrações indo para cima da mulher e do filho. Bukowski descreve na sua obra as sessões de espancamento a que foi submetido, muitas vezes de forma quase ritual, como outros miúdos tinham aulas de francês, equitação ou o raio. O pai fazia questão de exercer violência física e psicológica sobre ele da forma mais sádica, afirmando que um dia haveria de lhe agradecer por, depois disso, o mundo, com toda a sua crueldade, não ter como surpreendê-lo. Assim, quando chegou à adolescência, ao irromper uma crise de acne que o desfigurou e o levou a ter até vergonha de sair à rua, Bukowski interpretou isso mais tarde como um sintoma de todo aquele sofrimento acumulado: “Aquela vida envenenada acabou finalmente por explodir para fora de mim. Ali estavam eles – todos os gritos que tive de conter encontraram outra forma de se exprimir”.
E este mesmo efeito magmático que acaba por produzir uma erupção tão autêntica quanto irrecusável marca toda a sua obra, em que Bukowski chama o leitor para esse discurso interior, essa forma de reunir forças para aguentar um embate atrás do outro, cada humilhação, polindo a sua pérola negra antes de soltar um desses provérbios negros que nos deslocam a perceção em momentos fulgurantes e produzem a satisfação de uma vingança urdida no íntimo de si mesmo, não se dirigindo contra alguém ou alguma coisa, mas contra o mundo. Por isso, muitas das suas frases e versos leem-se como conselhos, não propriamente a jovens escritores ou poetas, não a aspirantes, mas àqueles que estão por um fio e que tanto podem estoirar os miolos ou encontrar algum espaço de intimidade onde possam transformar a sua dor noutra coisa. Daí que Bukowski incitasse os seus leitores a não perderem de vista o verdadeiro motivo que os levou a assentar algumas palavras num pedaço de papel, a terem “cuidado com os que pregam/ cuidado com os que sabem tudo/ cuidado com os que andam sempre a ler livros/ cuidado com aqueles que ou detestam a pobreza/ ou estão orgulhosos dela/ cuidado com os que rapidamente elogiam/ pois esses são os que depois esperam elogios/ cuidado com os que rapidamente censuram/ pois esses têm medo de tudo o que desconhecem/ cuidado com os que buscam sempre as multidões pois/ esses não valem nada sozinhos/ cuidado com o homem comum a mulher comum/ cuidado com o seu amor, é um amor vulgar/ e busca a vulgaridade”.
Como notou Adam Kirsch num dos raros perfis que lhe foram dedicados nas páginas das grandes publicações literárias – no caso, a New Yorker -, a sedução desta obra está na forma como combina a promessa de intimidade que nos faz um poeta confessional aliada ao lado espalhafatoso e desabusado de uma figura maior do que a vida, características que se encontram tipicamente num herói da ficção pulp. E Kirsch adianta que é esta mistura de gabarolice e lamentação ou queixume, que embala por vezes em devaneios biliosos, que confere à poesia de Bukowski algo de perfeitamente distintivo e que fez dele um dos autores mais imitados em todo o mundo. Há nela um vigor tremendo e, a espaços, uma ternura que nos apanha desprevenidos, há espaço para descrições grotescas capazes de desembocar em apontamentos e impressões que roçam o sublime. Há nele uma boa dose de espavento, mas não lhe falta também sinceridade e até uma certa timidez. E se há tantos leitores que se reveem na sua escrita, que sentem que esta os interpela como nenhuma outra, isso deve-se à capacidade de balançar entre uma perspetiva bastante desencantada, que raia a misantropia, e um laço de camaradagem com aqueles que, na verdade, nunca ultrapassaram certas rejeições ou desgostos de amor e que acabaram por se afeiçoar até a esse vazio. Daí que os extremos se embalem, e a vulgaridade que chega a ser agressiva funciona como um compasso de dança que abre o flanco a confissões “clandestinamente sensíveis” e que são, na verdade, a única forma que têm de trocar afetos aqueles que, de tanta porrada terem levado, suspeitam sempre de que atrás de um afago venha outro murro. E a arte que lhes é vital fala disso: “A ilusão é estares apenas/ a ler este poema./ A realidade é que isto é/ mais do que um/ poema./ Isto é a navalha de um pedinte./ isto é uma tulipa/ isto é um soldado a marchar/ sobre Madrid/ Isto és tu no teu/ leito de morte./ Isto é Li Po a rir/ debaixo de terra./ Isto não é a merda de um/ poema./ Isto é um cavalo a dormir./ Uma borboleta no/ teu cérebro./ Isto é o circo do/ diabo./ Não estás a ler isto/ numa folha./ A folha está-te a ler/ a ti./ Percebes?”